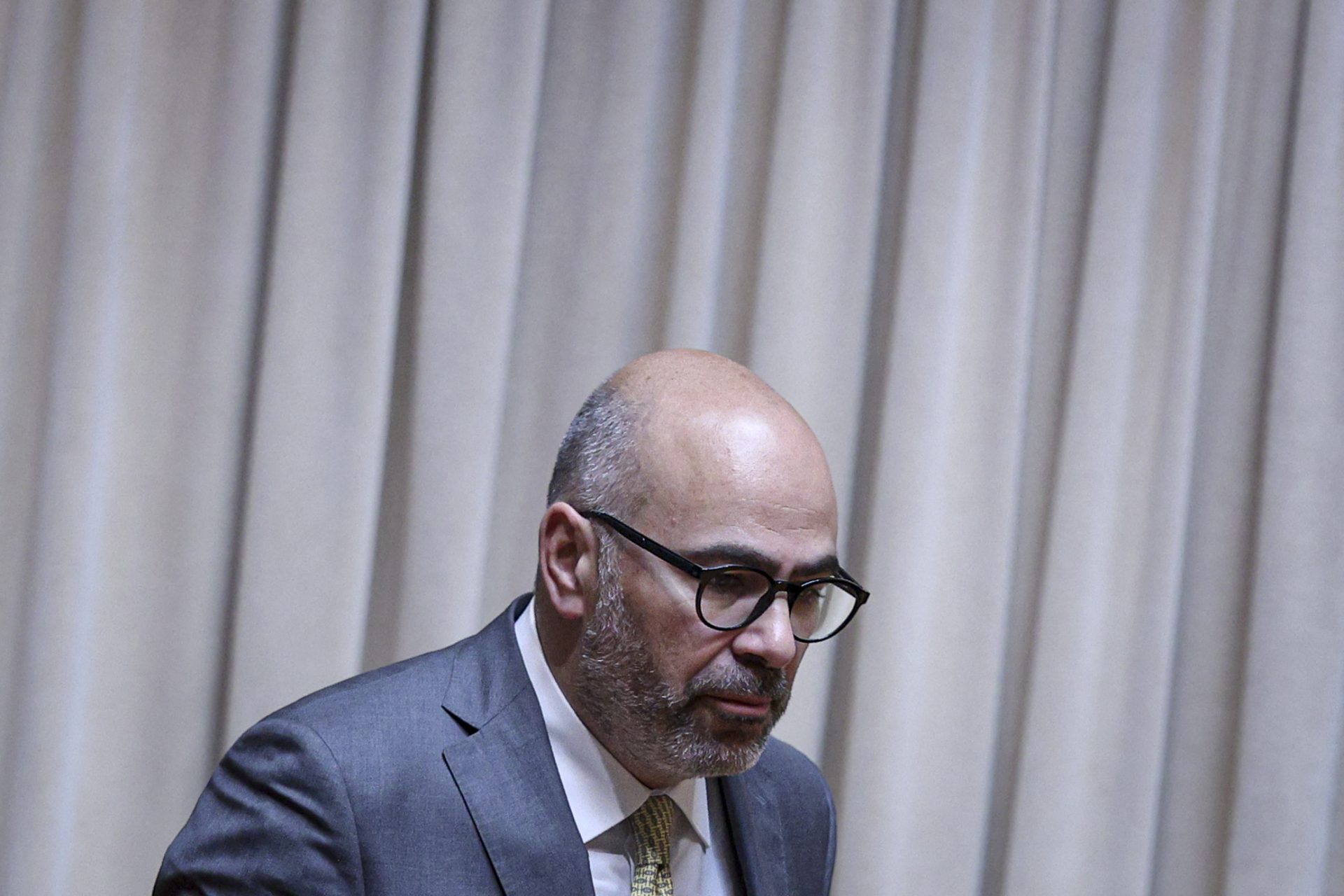Gostava de começar com uma pergunta sobre os cabos submarinos. Num contexto geopolítico como o atual, a segurança marítima é, sem dúvida, um ponto fulcral. Pode-nos nos explicar a importância dos cabos submarinos e da sua respetiva proteção?
Acho que o tema não só está na ordem do dia, como é extremamente importante para um país como Portugal. Primeiro, todos sabemos que Portugal serve de hub para os próprios cabos submarinos, ou seja, numa palavra um pouco mais técnica, existe um acervo muito significativo de cabos submarinos que atracam no nosso país, concretamente no Continente. E o que acontece é que os cabos submarinos atuais, mercê das tecnologias novas, são completamente distintos dos que em 1884 estavam protegidos pela Convenção de 1884 para a Proteção dos Cabos Telegráficos Submarinos, então designados “cabos telegráficos”. E durante muitos anos e como se relê na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 (CNUDM), houve uma replicação da versão de 1884 sem praticamente qualquer alteração (artigos 113.º a 115.º).
Ora, sucede que os ditos cabos hoje não são (apenas) telegráficos. Em primeiro lugar, têm vários tipos de utilizações e necessariamente e a começar desde logo pelos cabos de fibra ótica, mas não só. Contam-se também os cabos submarinos de transmissão de energia elétrica para terra tendo em conta, nomeadamente, o funcionamento das plataformas eólicas renováveis “offshore”. Depois, existem os tradicionais “ductos” que são cabos submarinos que transportam determinado tipo de hidrocarbonetos e afins, como seja o gás natural. E veja-se, por exemplo, o que sucedeu há cerca de dois anos no Mar Báltico que originou à disrupção do ducto North Stream II, que abastecia de gás natural alguns países costeiros do Báltico a partir da Rússia, incidente esse ainda hoje envolto em grande polémica. Portanto, a questão hoje que se coloca em cima da mesa é a de afirmar que os cabos submarinos atuais precisam de outro tipo de tratamento que não pode ser o mesmo trazido de 1884.
A segunda questão que me parece importante é que Portugal tem uma zona de jurisdição do ponto de vista marítimo, extremamente grande. Acrescenta-se que o nosso país tem um processo a correr na Comissão de Limites da Plataforma Continental nas Nações Unidas para a extensão da plataforma continental das 200 para as 350 milhas.
Assim sendo, Portugal, ao assumir, e bem, todas estas iniciativas, deve também que assumir as suas responsabilidades no que respeita ao mapeamento, proteção e planeamento de iniciativas no fundo marinho sob sua jurisdição. O enfoque residirá também na forma e planeamento da utilização de determinado tipo de equipamentos no fundo do mar e na coluna de água – como é o caso dos cabos submarinos – e simultaneamente, responsabilizar-se pelo seu controlo, monitorização e proteção.
Isso vai ao encontro da minha segunda questão, que é: qual é o dever dos Estados nessa proteção, que é um tema que aborda num artigo seu?
Exatamente. E sabe porque é que considero importante abordar este tema? Porque a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 foi feita num determinado circunstancialismo politico mundial que tinha essencialmente a ver com uma cooperação internacional entre todos os Estados. Inclusivamente, no caso da investigação científica marinha, foi defendida que, em “circunstancias normais” (artigo 246.º da CNUDM), os Estados costeiros deveriam dar o seu consentimento para o exercício por terceiros Estados de “projetos de investigação científica marinha” com o objetivo de “aumentar o conhecimento científico do meio marinho em benefício de toda a humanidade”.
Tratava-se de uma ideia de recolha e de partilha de conhecimento que, como se sabe, dificilmente pode hoje ser levada à prática quer porque os Estados costeiros querem ter uma palavra decisiva na autorização tendo em conta razões da segurança do Estado quer ainda porque a partilha da informação nunca foi verdadeiramente conseguida na sua plenitude.
A própria Convenção das Nações Unidas de 1982 foi elaborada entre 1973 e 1982, numa fase da História com a emergência de um conjunto muito significativo de novos Estados independentes como foi também o caso dos países africanos de língua portuguesa.
O ambiente era propicio ao desenvolvimento das Convenções de 1958 e, consequentemente, ao reconhecimento de novos espaços marítimos sob jurisdição costeira e à partilha do conhecimento Norte-Sul. Promovia-se, assim, o desenvolvimento do hemisfério meridional, no esteio do princípio anunciado pelo Embaixador de Malta Arvid Pardo nos anos sessenta quando defendeu a criação da “Área” (fundos marinhos para além do limite da jurisdição nacional) como “Património Comum da Humanidade” (ou seja, sem possibilidade de apropriação pelos Estados).
Definiu-se, assim, o regime da Zona Económica Exclusiva (ZEE), com a matriz de “zona preferencial”, em que o Estado costeiro tiraria partido do aproveitamento dos seus recursos vivos, assumindo a obrigação de os partilhar com os Estados ditos “desfavorecidos”, por exemplo, com os Estados interiores (excetuando os Estados costeiros cuja economia dependesse “preponderantemente do aproveitamento” daqueles recursos vivos – artigo 71.º).
Contudo, no que respeita ao (novo) regime da Plataforma Continental (que deixou de ter um sentido geomorfológico dos fundos marinhos, beneficiando todos os países costeiros com um limite (normal) até às 200 milhas, sem prejuízo da delimitação equitativa entre os Estados situados frente a frente), a ideia que vingou foi a de um espaço marítimo em que o Estado costeiro exerceria poderes “soberanos” (ou seja, não partilhados) no que respeita à exploração dos seus recursos.
Ora, aquilo que se coloca hoje em cima da mesa é algo diferente do que a Convenção definiu em 1982. Trata-se de os Estados costeiros exercerem os seus poderes de jurisdição como vertente, também, da sua segurança (e da sua soberania) e da monitorização da informação e não apenas do aproveitamento dos recurso.
E nós aí entramos numa outra perspetiva. Ou seja, ninguém tem dúvidas que no Mar Territorial, o Estado poderá exercer esses poderes na sua plenitude, a partir do momento em que aquele espaço marítimo faz parte integrante do seu território. Porém, para além das 12 milhas, o regime altera-se. E prosseguindo, dir-se-á: Fará sentido o Estado costeiro autorizar e monitorizar cabos submarinos que aterram em terra imersa até às 12 milhas e a partir das 12 milhas não assumir qualquer responsabilidade? Não parece fazer qualquer sentido.
E no caso específico dos cabos de fibra ótica: Fará sentido o Estado costeiro alhear-se da responsabilidade sobre os cabos submarinos a partir das 12 milhas, quebrando a conetividade digital e prescindindo de receber a informação que determinados equipamentos inseridos nos sistemas dos cabos poderão transmitir para terra quer de características ambientais locais quer de alertas de tremores de terra ou de “tsunamis”? Também não parece fazer qualquer sentido sobretudo porque os cabos submarinos atualmente são, efetiva ou potencialmente, SMART.
O que é que isto significa em termos concretos?
SMART é um acrónimo de Science Monitoring And Reliable Telecomunications. Trata-se de cabos que têm a possibilidade de neles serem instalados pequenos equipamentos transmissores que têm a capacidade de transmitir o ambiente do local, como por exemplo, a imagem do meio marinho em tempo real (a imagem de uma baleia que por ali passe) ou mesmo a informação de um tremor de terra que fornece um aviso antecipado razoável em terra dada a velocidade de transmissão da informação na fibra ótica ser muito superior à propagação das ondas telúricas.
Ora, se assim é, faz todo o sentido que o Estado costeiro tenha um controlo efetivo sobre esta implantação dos cabos num duplo sentido. O primeiro sentido é, de facto saber o que se passa e ter essa informação dedicada em primeira linha. Mas, em segundo lugar, tem de assumir também a capacidade de proteger esses cabos, coisa que só muito esporadicamente, como também se sabe, ocorreu. Eu relembro, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial os alemães cortaram parte das comunicações dos cabos telegráficos nos Açores, por exemplo. Mas era uma situação muito pontual.
A ideia em 1982 não era essa, não era a disrupção, era a partilha, o “Património Comum da Humanidade”, a partilha do conhecimento como alavanca do desenvolvimento. Também hoje queremos um mundo melhor, queremos o mundo que não é o mundo que temos hoje.
Contudo, o paradigma é claramente diferente do que se traduziu em 1982 e, portanto, haverá que prover outros poderes que são fundamentais em dois aspetos distintos: o Estado costeiro nos seus espaços marítimos, sob a sua jurisdição (isto é, Plataforma Continental e Zona Económica Exclusiva) deve assumir um controlo e uma monitorização efetiva dos cabos submarinos implantados (ou a implantar) e também, de alguma maneira, numa segunda aproximação, ser ele próprio responsável de os proteger contra ações de disrupção.
Porém, essas ações de disrupção podem ser, de alguma maneira, classificadas como ações de disrupção intencionais ou ações de disrupção praticadas “de forma imprudente” (recklessly em Direito Internacional). Não se trata de ações “meramente negligentes” pois terá de haver também alguma imprudência ignorando, por exemplo, a demarcação dos cabos submarinos nas cartas náuticas o que implica que nessas zonas talvez não seja adequado fundear (ou ancorar) um navio. Assim, a disrupção dolosa ou de forma imprudente dos cabos submarinos deve passar a ser classificada como um crime internacional, vertido num instrumento jurídico de Direito Internacional (convenção ou protocolo).
Ao ler algumas passagens do seu livro, “O (novo) Direito da Segurança Marítima: o navio, os Estados, as convenções e a autonomia”, há um capítulo que salta, inevitavelmente, à vista, que é o da poluição marinha e o quadro de responsabilidade. Pode explicar qual a importância e a responsabilidade do setor marítimo no combate às alterações climáticas?
É fundamental. Portanto, tentei no livro fazer a abordagem do Direito da Segurança Marítima em três vetores diferentes e fáceis de explicar: o passado, o presente e o futuro. E não era capaz de me reter no passado sem falar no presente e sem projetar o futuro. Ora, é exatamente aí o ponto que as alterações climáticas entram. Estamos a falar de um impacto do ponto de vista global, do transporte marítimo, sem ser muito significativo em termos de quota (cerca de 4% do total das emissões de gases com efeito de estuga (GHG) na União Europeia) é, contudo, extraordinariamente importante na adoção de novas tecnologias de descarbonização que afetarão, necessariamente, os outros modos de transporte, particularmente, o transporte rodoviário com uma quota superior a 20%.
E essa resposta, desde logo, se percebe, por exemplo, com as emissões que os navios fazem nos portos. Portanto, nós temos de atuar em dois campos diferentes: o primeiro é ter a capacidade dos próprios portos poderem receber determinados navios – designadamente navios de cruzeiro e navios de contentores acima de uma determinada arqueação – obrigando-os a não operarem os seus geradores ou as suas máquinas auxiliares. A ideia é a redução das emissões de GHG que podem diretamente afetar o bem-estar das populações. Trata-se de dotar os portos dos sistemas onshore power supply (OPS, ou seja, os navios passam a ser abastecidos de energia elétrica de terra) cessando as emissões, sobretudo, quando os navios estiverem atracados.
Simultaneamente, há que apostar e trabalhar num novo capítulo, que é o capítulo das renováveis, substituindo os atuais combustíveis tradicionais dos navios por combustíveis renováveis. Trata-se de um desafio complicado. Porquê? Porque ainda não existe a tecnologia adequada em algumas áreas essenciais para a produção, em larga escala, das energias renováveis.
Estou convencido que o modelo feito com sensatez, acaba por beneficiar de um certo hibridismo que acontecerá numa fase de transição, sem se perder o rumo da descarbonização e utilizando também os biocombustíveis para reduzir a tradicional pegada fóssil. Não teremos de assumir metas muito rígidas que estão dependentes dos avanços tecnológicos ainda difíceis de visualizar mas antes criar um roteiro em que os agentes principais possam dar os seus contributos para se atingirem determinados resultados e que evolua a par daqueles avanços.
E leva-nos também ao seu artigo publicado na revista Sustainability onde aborda o regime ETS e a competição desleal. O seu artigo marca uma posição moderada e é publicado numa revista conhecida também pelo seu fundamentalismo climático. Como conseguiu?
Foi um desafio para mim próprio, porque não faltaram revistas internacionais interessadas. A ideia do artigo surgiu numa conferencia internacional (SIM24) promovida na Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, em que apresentei um plano do tema a tratar. Quando elaborei o primeiro esboço do artigo (no passado mês de agosto), coloquei-o ao dispor de toda a comunidade internacional (numa modalidade a que se chama “preprint”), assentando de imediato o tema. Seguidamente, um conjunto de jornais internacionais convidaram-me de imediato para procederem à sua publicação. Não aceitei e expliquei-lhes que a minha intenção era, tão somente, chamar-lhes a atenção para o tema, mantendo a publicação no jornal da MDPI Sustainability.
Pretendi assim que os leitores habituais do jornal percebessem que existem muitas questões sobre o impacto da descarbonização que ainda estão em aberto e, portanto, essas matérias não podem ser decididas com uma visão meramente reservada ao cumprimento de metas. Por exemplo, a União Europeia deverá continuar a ser uma das pioneiras na descarbonização, sem se prejudicar, em certos casos, a concorrência do transporte maritimo com os portos dos países vizinhos.
No caso de Portugal, situado na periferia da Europa, são nossos concorrentes diretos alguns portos do norte de África, como relativamente à Grécia, por exemplo, têm como concorrentes diretos os portos da Turquia. Agora, também alguns portos do centro da Europa começam a sentir a competição do Reino Unido.
Procurou-se, assim, chamar a atenção para a possibilidade de um desvio de tráfego para os portos vizinhos da União Europeia, particularmente, também em Portugal e que é essencial para o desenvolvimento do seu sistema portuário.
E neste caso concreto, repare, não estamos sozinhos. Temos os portos espanhóis, italianos, croatas, malteses, gregos, cipriotas e muito recentemente outros portos do sul da Europa. Portanto, quase todo o flanco sul percebeu que tem de haver adaptações ao regime do ETS aplicado á área marítima (ETS significa Emissions Trading System). Uma vez abrangendo o modo marítimo, o sistema implica pagamento de um imposto sobre as emissões (GHG) que não tem correspondente ao nível mundial. Para além das medidas ora propugnadas ao nível da União Europeia, exige-se que a IMO (Organização Marítima Internacional) adote um imposto semelhante sobre os combustíveis que se aplique a todo o transporte marítimo internacional. O transporte marítimo é internacional por natureza e, por isso, pioneirismo nas medidas não pode significar graves impactos na concorrência com prejuízo para o tráfego marítimo europeu.
É este o problema que nós levantámos e que o Estado português denunciou em Bruxelas de forma extremamente pioneira, alertando para que os portos dos países do Sul, poderiam sofrer um impacto direto, de um imposto, que os portos vizinhos concorrentes diretos não têm (por exemplo, o porto de TangerMed).
Isso teve um impacto muito grande já?
Para Portugal e até agora o impacto não foi tão significativo porque, entretanto, o desvio de rota pelo Cabo da Boa Esperança evitando o Suez veio a mascarar um pouco a situação. Os portos dos países do Mediterrâneo ocidental e próximos, estão a receber carga com prejuízo dos portos mais próximos do Suez.
No entanto, essa carga adicional vem também vem com uma pegada ecológica muito elevada porque o transito adicional desse trajeto via Cabo da Boa Esperança é muito superior ao que seria se fosse o trajeto normal pelo Mediterrâneo e pelo Suez.
Tal como referi, não se pode olhar para a questão da descarbonização vendo apenas um objetivo rígido, devendo existir uma estreita colaboração para que a pegada ecológica diminua. Sucede que o trânsito dos navios ditos feeders (ou seja, navios mais pequenos) entre os portos do Mediterrâneo ocidental e oriental aumentou exponencialmente dado que o Canal do Suez reduziu em cerca de 50% o seu tráfego, impedindo boa parte dos grandes navios de contentores de escalarem o Mediterrâneo oriental.
Se o percebi corretamente, a sua intenção de publicar nesta revista era precisamente advertir que o fundamentalismo não é o caminho…
Como investigador, procuro posições às vezes mais extremadas, porque, é a partir dessas posições mais extremadas e racionalmente defendias que poderemos construir soluções e não com uma simples adesão a quaisquer opinion makers que, bastas vezes, se traduz numa visão dita “politicamente correta”, “sem agitar as opiniões”. Não é isso que interessa, mas, ao invés, ouvir quais são os argumentos de todas as pessoas, mesmo as “ditas” mais radicais.
De toda essa análise, retiram-se ideias que são perfeitamente válidas. Por exemplo, se não fossem essas posições mais extremadas, nós hoje, em alguns casos, ainda estávamos a olhar para a descarbonização como qualquer coisa que ainda se duvidava que era necessário fazer.
Eu relembro, por exemplo, o livro de Al Gore de 2009 (Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis) que deixou o autor quase a falar sozinho. Porquê? Porque o mundo inteiro ainda não tinha a consciência do que é que se estava a fazer e de qual era a importância e também porque havia a crise do “subprime”. E normalmente costuma-se dizer que os pioneiros merecem valor depois de se verificar que tiveram razão, embora nem sempre tempo de o fazer.
A questão toda pode resumir-se no seguinte: os “ditos” fundamentalistas são essenciais. Porquê? Porque eles estão na linha certa, que acham que deve ser certa, para determinado tipo de metas. O que nós podemos questionar é se conseguiremos atingir essas metas sem, de alguma maneira, prejudicarmos aquilo que é o normal desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. Esta postura não invalida que determinados mecanismos financeiros venham temporariamente a apoiar as medidas de descarbonização face ao mercado tradicional das energias fósseis.
E isso vai ao encontro da minha próxima pergunta. Quando o professor fala da modernização da frota e dos custos associados, fica evidente que o impacto no consumidor final será aumentado…
Infelizmente, poderá ser essa uma das consequências da descarbonização. Mas, por exemplo, é essa a razão pela qual a União Europeia, e bem, começou a desenvolver o chamado mercado de hidrogénio. O mercado de hidrogénio serve exatamente para, de alguma maneira, se perceber que só com um mercado de hidrogénio estável e razoável é que se consegue trabalhar com as renováveis. Porque é que eu falo o hidrogênio? Porque é o hidrogênio que acaba por estar na base de todos os novos combustíveis, seja ele o metanol, o amoníaco, ou os biocombustíveis que de alguma maneira vão fazer uma espécie de um blending com os tradicionais. É o hidrogénio, é a produção do hidrogênio, independentemente depois da sua armazenagem ou do tipo, que está na bse dos combustíveis renováveis. Ou seja, se se conseguir um mercado estável de hidrogénio, ter-se-á uma mais-valia para que efetivamente os preços possam ser, de alguma forma, planeados e determinadas medidas apoiadas. Porque numa fase inicial da alteração dos próprios combustíveis, necessariamente vai haver aqui uma parcela de investimento que tem de ser amortizada. E a questão fundamental é perceber em que ponto é que se vai fazer este equilíbrio. Portanto, não é a questão do fundamentalismo, nem é a questão do polo oposto. Eu relembro que, há cerca de seis, sete anos, alguns políticos norte-americanos ainda duvidavam das alterações climáticas. Não vou polarizar em nomes, mas lá estava Al Gore em 2009 a publicar um livro que efetivamente era, digamos, o pioneiro naquilo que devia ser (a diferença entre o “ser” e o “dever ser” que nos atinge diariamente).
Eu acho muito bem que a União Europeia seja pioneira na descarbonização. Não critico sequer o ETS. O que eu digo é que esse ETS tem de ser de alguma maneira modelado àquilo que é a realidade, para nós termos aqui uma, e permitam-me utilizar uma linguagem náutica, “singradura racional”. Ou seja, um rumo, que seja um rumo estável e que seja um rumo reconhecido por todas as partes. Temos de ser ambiciosos, mas temos de ter o pé no chão.
Por isso e para além de medidas internas, a União Europeia tem de pressionar a IMO para adotar rapidamente um imposto sobre os combustíveis fósseis ou sobre as emissões de GHG. O transporte marítimo é global. Não existe transporte marítimo local. É essa a razão da existência, desde a antiguidade, de uma prerrogativa que é o direito de passagem inofensiva no Mar Territorial. Não há semáforos no mar! O navio pode transitar sem problema algum desde que o faça no respeito pelo Estado costeiro. Porquê? Porque desde a antiguidade, o transporte marítimo era credor da maior segurança no Mediterrâneo e, portanto, ligava, por exemplo, o Médio Oriente à Península Ibérica. Ainda assim, era mau porque o risco de mar era grande, mas seguramente melhor do que o transito pelos Alpes.
Penso que importa olhar para esta perspetiva de descarbonização também no transporte marítimo e com a adoção de novos combustíveis. E se quer que lhe diga, é extremamente importante traçarmos uma linha paralela. Esses novos combustíveis vão servir tanto em terra como no mar. No mar é mais complicado porque, por exemplo, não é possível colocar pilhas de hidrogénio com a mesma facilidade do que em viaturas. Portanto, tenho outro tipo de problemas, porque preciso de um combustível que seja suficientemente estável e que dê uma autonomia ao navio para que possa chegar ao seu destino. Não temos “bombas de gasolina”, desculpe a expressão, no meio do mar. Portanto, este é um problema e é um problema que é fundamental que se analise.
No entanto, o desenvolvimento das energias renováveis com base no hidrogénio implica avanços tecnológicos tanto em terra como no mar (e também no ar).
E acabou de responder a duas das perguntas que queria fazer a seguir e que falava do pacto verde também e ia-lhe perguntar se acreditava que era exequível no setor marítimo e ia perguntava também que, a certa altura, quando propõe uma “implementação realista, fiável e acordada entre as autoridades públicas e os stakeholders do sector privado”. E qual era a solução que propunha? Acabou de dar-me uma resposta bastante boa. E perguntava-lhe a seguir se acha que essa solução é exequível no curto médio prazo?
Creio que não há outra hipótese. E não é um problema apenas de Portugal. O que mais custa é à partida estar a fazer um planeamento que se demonstra irrealizável e que não seja ajustável, por se insistirem em modelos que vão sendo considerados caducos. Aí custa-me. Portanto, nós temos de ter um planeamento, ou temos de ter um roteiro, que seja minimamente realizável. E quem contribui diretamente para esse roteiro tem que estar de boa fé. Isto levanta outro problema.
Qual?
É o problema da concorrência. O problema da concorrência é complicado porque, por exemplo, as empresas armadoras estão, neste momento, todas elas a tentar perceber o melhor para o futuro. Eu penso que todas elas vão optar por um combustível de transição, que é o gás natural. O gás natural liberta metano. O gás natural tem problemas, se quiser, pois é um combustível fóssil, mas pode de alguma maneira reduzir a pegada de carbono, e posso ter mecanismos também que vão, de alguma maneira, diminuir essa emissão de metano. Agora, não podemos ficar por aí. Temos de ser sérios e reiteramos que é um combustível fóssil, portanto, se é um combustível fóssil, tem um período de transição. Não vou estender esse período de transição e a substituição por renováveis tem de ser assumida. E é isso que atualmente, por exemplo, os armadores estão a fazer. É o chamado dual fuel. É ter o combustível tradicional e depois ter um outro tipo de combustível para o qual haverá que preparar as máquinas principais.
Que outro tipo de combustível?
Pode ser o amoníaco, pode ser o metanol, pode ser uma mistura com o bio fuel, podem ser diversas misturas. Mas o que é facto é que esse próprio tipo de adaptação das máquinas principais dos navios os permita trabalhar, por exemplo, com gás natural e com pequenas adaptações aos outros tipos de combustíveis que agora são renováveis. Ora, e eu também digo isso muitas vezes, quem tem experiência com gás natural liquefeito, designadamente quer na sua liquefação, quer na sua gaseificação, essa experiência pode perfeitamente servir para os gases renováveis, porque eles também vão ser ou armazenados ou inclusivamente transportados na forma líquida. Ora bem, se tivermos temperaturas semelhantes àquela que tem o gás natural, a temperatura de liquefação, digamos, entre os 130 e os 150 graus negativos, a experiência adquirida vai efetivamente servir para o futuro. É o caso do amoníaco ou do metanol. E isso é extremamente importante. O que é mais difícil é trabalhar com o hidrogénio puro, porque o hidrogénio tem um ponto de liquefação a -270 graus, o que significa que é próximo do zero absoluto. Ora, próximo do zero absoluto é muito complicado do ponto de vista de segurança, estar a trabalhar exclusivamente com o hidrogénio. Portanto, isto é arte. É claro que neste momento, os navios que são dual fuel, seja ele para metanol, seja ele para gás natural, de alguma maneira já vão no caminho que me parece que é o caminho certo. O que é preciso é dizer que o gás natural não é o combustível do futuro. Pode, quanto muito, ser um combustível de transição. Isso acho que é extremamente importante para as pessoas perceberem qual é o equilíbrio que teremos de testar. Daí nós falarmos muitas vezes de terminais de gases criogénicos. Não apenas o gás natural, mas todos aqueles que efetivamente são gases liquefeitos e que no futuro poderão ser combustíveis renováveis.
E chegarmos a esse equilíbrio, onde se encontra chão comum entre os fundamentalismos de ambos os lados, é também fundamental para a criação de consensos, sobretudo na União Europeia, porque sem a criação de um consenso não é possível avançar com uma medida, com um rumo, com uma reforma de fundo…
É verdade. Mas aí, nesse caso concreto, a própria União Europeia também tem de ter a noção desse equilíbrio. E aí, os Estados que se sentem têm que ser muito mais interventivos para fazerem valer aquilo que efetivamente podem ser as dificuldades da compreensão, por exemplo, dos países do Norte. Isso é perfeitamente possível. Dizemos muitas vezes que nós somos dos países do azeite contra os países da manteiga, e é um pouco assim porque as mentalidades são diferentes, mas temos de ser capazes, e Portugal, como um país marítimo que é, e um país pequeno, tem uma capacidade de algo que aproxima e que é capaz de o dizer sem fundamentalismos, olhando e dizendo que estamos na ponta da Europa e que somos pela descarbonização. Contudo, há que adaptar o regime ETS ao modo marítimo até que Organização Marítima Internacional aprove um imposto sobre os combustíveis fósseis, porque o transporte é internacional, não é só ao nível europeu. Pelo menos que se adapte ou se formulem determinadas waiver clauses para que efetivamente se sustenha o desvio de tráfego, particularmente, nos portos do Sul.
Porque só a Organização Marítima Internacional é que poderá intervir nos portos que estão fora da União Europeia…
Sim. E só para acrescentar, a nível europeu, o transporte marítimo é internacional e, portanto, se nós não olharmos para este problema de uma certa forma, serão os próprios armadores europeus a deixarem concretamente a Europa. E isso é um prejuízo com uma quebra real também no investimento.
E a Europa já está numa estagnação. A Europa atravessa desafios múltiplos, com as duas maiores economias em dificuldades. A recessão alemã é real e isso seria mais um duro golpe na economia europeia…
E algo que é extremamente importante nós percebermos: quanto mais nós reforçarmos a nossa concorrência a nível comunitário e extracomunitário, promovendo um roteiro de estabilidade para as regras da concorrência, é evidente que o investimento, externo e interno, vai necessariamente crescer e isto é fundamental para a Europa também. O investidor é avesso à “indefinição”, à “imprevisibilidade”.
A União Europeia pode lançar mão da chamada “taxonomia” que permite definir determinado tipo de projetos que necessariamente têm em vista questões concretas de sustentabilidade e descarbonização. Portanto, esses projetos serão a alavanca da descarbonização com todos os apoios inerentes.
Mas se a Organização Marítima Internacional aplicar impostos aos portos extracomunitários, não receia o aumento do preço final para os consumidores?
Não, ela não aplica aos portos. Ela aplica essencialmente ao transporte marítimo.
Mas vai refletir-se, de todas as formas, nos preços…
Vai. No entanto, se eu tiver de um lado o mecanismo da União Europeia através do ETS e tiver um outro nível a nível mundial, eu já tenho dois, então, a partir daí eu posso fazer aqui uma compensação para que o próprio armador não seja duplamente prejudicado. Ou seja, ou paga um imposto sobre o combustível (ou sobre as emissões) ou paga o ETS da União Europeia.
E eu não posso é ter só uma colocação de impostos de um lado e do outro lado não ter nada. Portanto o que é que vai acontecer? Ter aquela ideia de que se é pioneiro, mas que se está a perder carga tendo ao dispor mecanismos de adaptação não parece adequado. Por exemplo, a nível dos contentores, quando se perde uma linha regular, pode-se estar cinco, seis até dez anos para a recuperar. Não é só aquela ideia de “amanhã recupera-se”, não, porque há uma estrutura logística que se vai mudar e, portanto, para recuperar essa estrutura logística demora muito tempo. Portanto, não é uma coisa pontual. E agora, veja, neste momento, qual é o problema principal que existe no Mediterrâneo? O Mediterrâneo Oriental deixou de receber 50% das cargas que vinham pelo Suez. Portanto, o que é que acontece? Muitos dos portos do Mediterrâneo Oriental estão a ser reabastecidos pelos portos do Mediterrâneo Ocidental, que vêm pela rota do Cabo da Boa Esperança.
Ou seja, se eu estou a entender, a Europa está a dar um tiro nos pés ao não consertar toda esta rede de impostos com a Organização Marítima Internacional…
A Organização Marítima Internacional há muito que planeia adotar um imposto sobre os combustíveis fósseis. Portanto, não é algo novo. O que acontece é que a Europa se assumiu como pioneira na matéria, dando o pontapé de saída no transporte marítimo, já que o ETS já existe há muitos anos, só que era aplicado apenas às indústrias e as indústrias não se movem, os navios movem-se. E daí a diferença, porque enquanto os navios são internacionais, as indústrias estão sediadas num determinado Estado e, portanto, enquanto elas lá tiverem, o imposto sobre o carbono incide sobre elas. E, porquê? Porque elas não se movem, estão lá, num Estado. Portanto, aí é fácil fazer as contas, porque já não é assim se eu efetivamente tiver de fazer a conta ao transporte marítimo, porque ele é volátil, porque ele está uma vez na Europa, outras vezes estará noutro Continente. Portanto, não há comparação possível.
Voltamos ao tempo do Galileu, quando lhe perguntavam, “Mas então que astro que está no centro? É a Terra ou é o Sol? E ele encolhia os ombros porque sabia que estava sob uma espada de Dâmocles. E então alguém dizia “Pois, mas então, a ser assim, a Terra está no centro e não se move”. E ele dizia à boca pequena “E pur si muove!“.
Portanto, vou outra vez a este ponto, porque eu gosto muito de recolher os ensinamentos dos pioneiros, porque nós não estamos sozinhos e muitas vezes estes ciclos são ciclos que se conseguirmos adaptar o as experiências do passado, temos uma visão para o futuro. Não é ficarmos lá, não vamos ficar porque as coisas são completamente diferentes.
Como lhe falei há pouco, os cabos telegráficos eram assim chamados em 1884, agora ninguém fala em cabos telegráficos, mas foi o início e, portanto, nós vamos buscar a ideia e a ideia era fundamental. Nessa altura ninguém lhe passava pela cabeça uma disrupção intencional dos cabos submarinos. Mas havia artes de pesca, havia navios que fundeavam que necessariamente podiam, de alguma maneira, danificar os cabos submarinos. Era sobre estes incidentes que a sociedade se preocupava. Não havia aquela ideia de intencionalmente fazê-lo.
Mas repare, temos no nosso espaço marítimo, navios russos a mapear o fundo do mar para saberem exatamente qual é a posição dos cabos submarinos. E há pouco dizia-lhe que os cabos submarinos têm também a possibilidade de terem equipamentos para enviar informação para terra sobre o ambiente local. Pois têm. Então e o contrário? Não há determinado tipo de navios que têm drones que são capazes de destruir o próprio cabo submarino? Dirigidos remotamente ou com navegação autónoma através de inteligência artificial?
Outro ponto que se deve insistir: é necessário classificar os cabos submarinos como infraestruturas críticas, porque ao classificá-los como infraestruturas críticas, o Estado costeiro assume uma responsabilidade para a sua proteção.
Tentei de alguma maneira, agregar um conjunto de valências que me parece que são importantes para robustecer os poderes de jurisdição do Estado sobre a Plataforma Continental e a Zona Económica Exclusiva, tanto mais que neste momento, Portugal tem em apreciação o pedido para a extensão da Plataforma Continental das 200 para as 350 milhas.
Portugal deve assumir de corpo inteiro o mapeamento, o controlo e a monitorização da sua Plataforma Continental, particularmente, também dos diferentes cabos submarinos e classificá-los como “infraestruturas críticas”.
Ao assumi-lo, deverá prover os meios humanos e materiais para desempenhar tal missão e refletir sobre a sua estrutura e dimensão, tendo em conta a proposta da extensão da Plataforma Continental para as 350 milhas.
Ao fazê-lo, Portugal assume também a responsabilidade da sua proteção contra ações disruptivas intencionais ou imprudentes, propondo através de um instrumento jurídico de Direito Internacional, a qualificação dessas condutas como “crime internacional”.