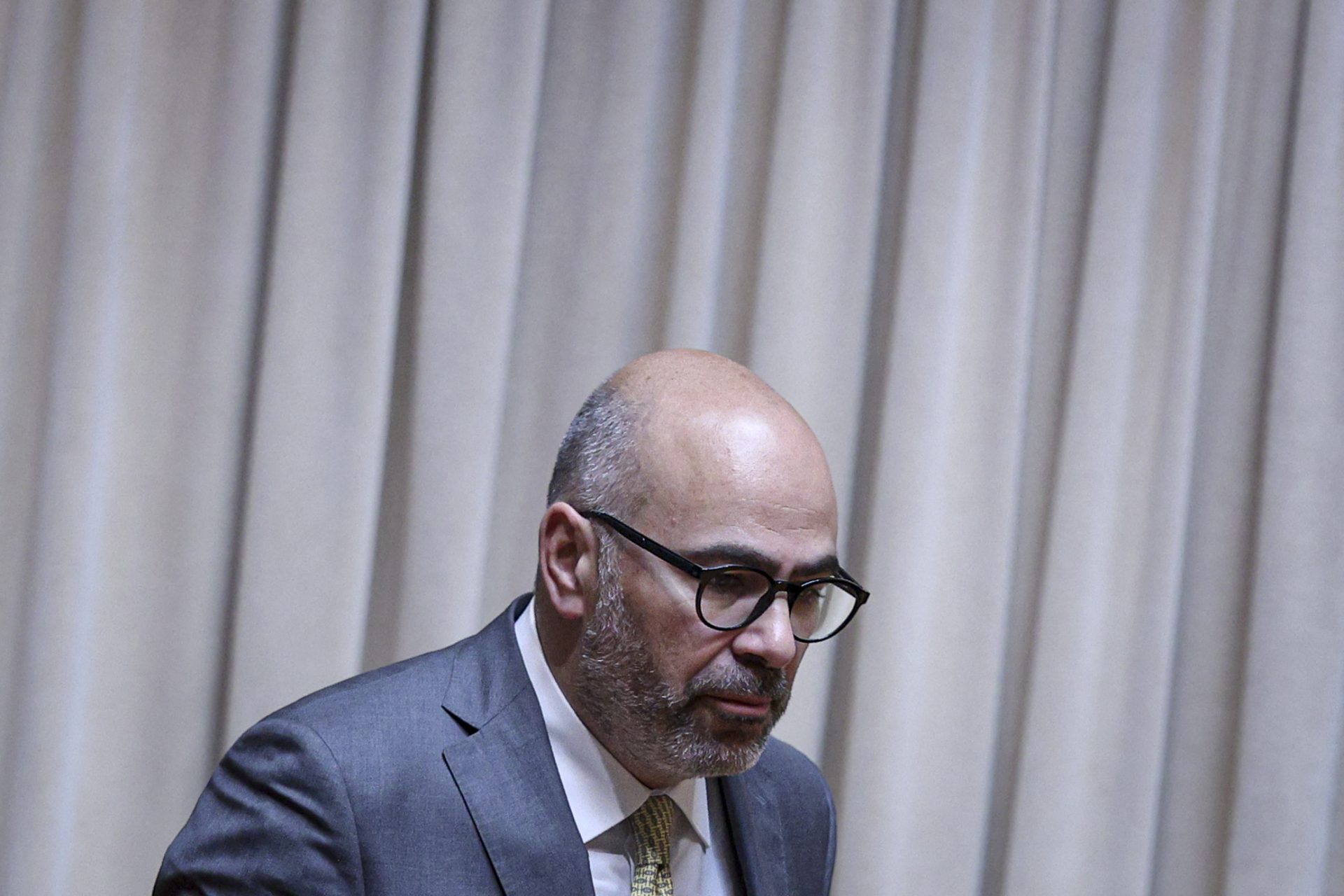Nasceu na década de 1980 no interior de São Paulo, cresceu entre um conservadorismo que se foi envergonhando a partir da viragem do século mas que nos últimos anos, legitimado por um novo ciclo de poder, subiu ao púlpito num Brasil pelo qual acredita os artistas terem o dever de lutar. Agora mais do que nunca. No cinema, estreou-se em 2015 e desde então que o Curtas Vila do Conde acompanha o seu percurso. Este ano, à secção Da Curta à Longa, traz Casa de Antiguidades, que integrou a seleção oficial de Cannes este ano. Depois de ter feito a abertura do festival em Vila do Conde, o filme tem mais uma sessão neste sábado em que estará presente o realizador, e pode ser visto também na plataforma digital a que o festival se abriu em ano de pandemia por mais uma semana, juntamente com as suas curtas-metragens. Protagonizada por Antonio Pitanga, Casa de Antiguidades é uma viagem espiritual de um homem velho e negro acossado num país cada vez mais desigual e dividido. Quem é então João Paulo Miranda Maria, o cineasta brasileiro que à primeira longa-metragem é já apontado pela Variety como um dos cinco mais prováveis nomeados para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro?
Uma das coisas que une todos os teus filmes são estes personagens nas margens. O teu cinema retrata os esquecidos e os oprimidos, sempre com a força do opressor como uma espada sobre as suas cabeças. E eles à procura de um caminho de libertação, de uma saída.
Estão à procura de um lugar, do lugar a que pertencem. É como se não se encaixassem naqueles lugares, naqueles códigos, naquelas normas, naquele formato, e precisam de encontrar de onde são, do que fazem parte. Às vezes isso ganha toda uma dimensão. No caso da longa [Casa de Antiguidades] vai dar a toda uma questão ritualística, ancestral, longínqua. Falo muito de cinema caipira. No Brasil, caipira é algo pejorativo para alguém que está fora de uma moda, fora de uma classificação, fora do formato do que seria a linha, a regra e que é muito usado também para designar aqueles que ficaram na margem, os que ficaram no interior e não foram para a capital, não foram para as grandes cidades e ficaram nesses ambientes mais rurais. Há essa ideia mas os meus personagens não são rurais ou não estão presos ao rural. Na longa o personagem vem mais desse ambiente rural, mas nas curtas já falei de outros personagens mais metropolitanos, mas esse caipira para mim, um suposto cafona — que não é feio, é o que está de fora — é muito mais verdadeiro. É uma pedra bruta. Uma pedra bruta que mais esconde do que mostra e que aos poucos vai mostrando tudo o que tem por dentro. E por causa disso, desse fechar em si, eles não fazem parte. Tentam se encaixar, tentam combinar, mas no momento em que tentam se encaixar ou combinar com uma sociedade ou alguma classificação aquilo fica caipira, fica torto, fica estranho, fica falho, frágil. Gosto de flagrar os meus personagens nesses momentos de procura, quando não sabem ainda o que vão fazer.
Que é um bocadinho o Brasil.
Exatamente. É o Brasil, e ainda mais nesse momento.
Estes lugares e personagens vêm então de uma procura de uma verdade.
Tenho que ver quase um espelho. É uma procura por uma essência, por uma verdade que não diz respeito apenas aos outros, diz principalmente a mim. É muito a coisa de me entender, de me reencontrar ali, conseguir enxergar. Vim do interior, de uma cidade que se chama Rio Claro…
… interior de São Paulo.
Interior de São Paulo. São Paulo, a capital [do estado] tem toda aquela coisa do dinheiro, até é um estado rico, só que por causa disso também muito do interior é extremamente conservador. Vim de uma família que era assim uma família de classe média que trabalhava com restaurantes, não tinha ninguém das artes. O meu pai ele era atirador, gostava de caçar. Desde pequeno eu aprendi a usar armas. Depois ainda estudei numa escola alemã, muito rígida… mas aí os choques também vieram quando tive uma primeira namorada que era negra e apresentei no aniversário com a família e, na hora do parabéns, quando dei um beijo nela, a minha avó levantou e veio limpar a minha boca na frente dela. É uma coisa assim traumática. Já tinha uns 15 anos, era a minha primeira namoradinha e aquilo tudo ficou na minha cabeça. Era uma loucura. E eu via que não me encaixava ali, em várias coisas. Ficava estudando, querendo tirar boas notas mas… ficava quieto. Como esses personagens, ficava quieto, guardando muita coisa dentro, dentro, dentro. E daí os filmes foram a válvula de escape. Gostava de desenhar e um dia, tinha uns 14 ou 15 anos, e pediram-me para desenhar um super-herói: desenhei um Batman super gordo, enorme correndo atrás de um trombadinha, um ladrãozinho que era um menino bem magricela.
Já estava tudo nesse Batman.
Era uma coisa desproporcional. Todo o mundo olhou e falou: “Mas isso não é o Batman”. Nesse ponto eu já via que era meio estranho. E essa busca… lembro muito do Robert Bresson, que falava que o cineasta é aquele que traz o invisível para o visível. Para mim, a verdade está nesse campo do invisível e para trazer esse campo invisível às vezes é complicado. Vejo que o meu trabalho às vezes quase se aproxima de uma coisa meio espiritual, religiosa, aquilo em que a gente acredita mas não vê, não toca, não sabe. Alguma verdade está nesse campo invisível. E como o trago para o filme? É aí que começa essa minha procura. A partir de texturas, em certas memórias… de encontrar uma maneira de falar coisas que estão entre linhas e fazer de repente uma interação entre o visível e o invisível.
Todas essas histórias desse lugar de onde vieste estão neste último filme.
Traz tudo ali dentro. Por isso é que falo antiguidades [no título]. São coisas antigas: minhas e de outros, do Brasil. Essa ideia de antigo tem um lado ruim porque antigo traz um ranço, umas coisas empoeiradas horríveis que agora estão cada vez mais ganhando um empoderamento, um suporte, uma força no governo atual. Pensamentos conservadores como os daqueles tios e tias que tinha na família que eram machistas, que falavam piadinhas e que tinham preconceitos que antigamente…
…havia uma vergonha que se perdeu com esta validação desse tipo de discurso.
Esse é o momento que estamos vivendo no Brasil. O filme tem assim um ar propositado quase de anos 70, a época da ditadura, porque estamos vivendo uma nova ditadura. Já temos até um número maior de militares no governo do que na época da ditadura. Só não lhe chamamos ditadura, mas há outras opressões. Eles usam o sistema justamente para cortar apoios, cortar na cultura… são outras maneiras de criar opressão.
É interessante olhar para os temas que tratavas nas curtas às quais Vila do Conde também regressa nesta edição e perceber que ganharam mais pertinência do que a que já tinham das alturas em que estrearam para agora. Como se antecipassem já isto.
Sim. A gente imagina que coisas como o nazismo ou o fascismo são coisas que estão enterradas e que todo o mundo entendeu a lição, só que isso é uma grande mentira porque estamos vendo pessoas jovens que a gente não imaginaria que pensariam assim mas que estão pensando. Tudo isso volta. Essa intolerância das curtas vai tendo novas caras mas continua. Não consigo imaginar fazer cinema só por diversão ou por uma plasticidade. Não estamos num ambiente de tanta paz assim para pensar que vamos fazer arte e cinema para simplesmente nos entretermos.
Sentes um dever de agir pela arte? Ou que é impossível que ela não se torne política num momento como este?
Sempre tem momentos em que essa intolerância se assume em níveis muito altos. Tivemos isso em vários momentos da História e é nesses momento de alta crise em que a sociedade precisa se repensar que os artistas precisam vir para pensar o amanhã e trazer propostas e discussões que ajudem com outras camadas da sociedade a repensar e a reagir de algum modo. A gente não está num momento de paz nem de tranquilidade para poder esquecer essas questões sociais e fazer arte pela arte. Ainda mais agora, com essa crise sanitária.