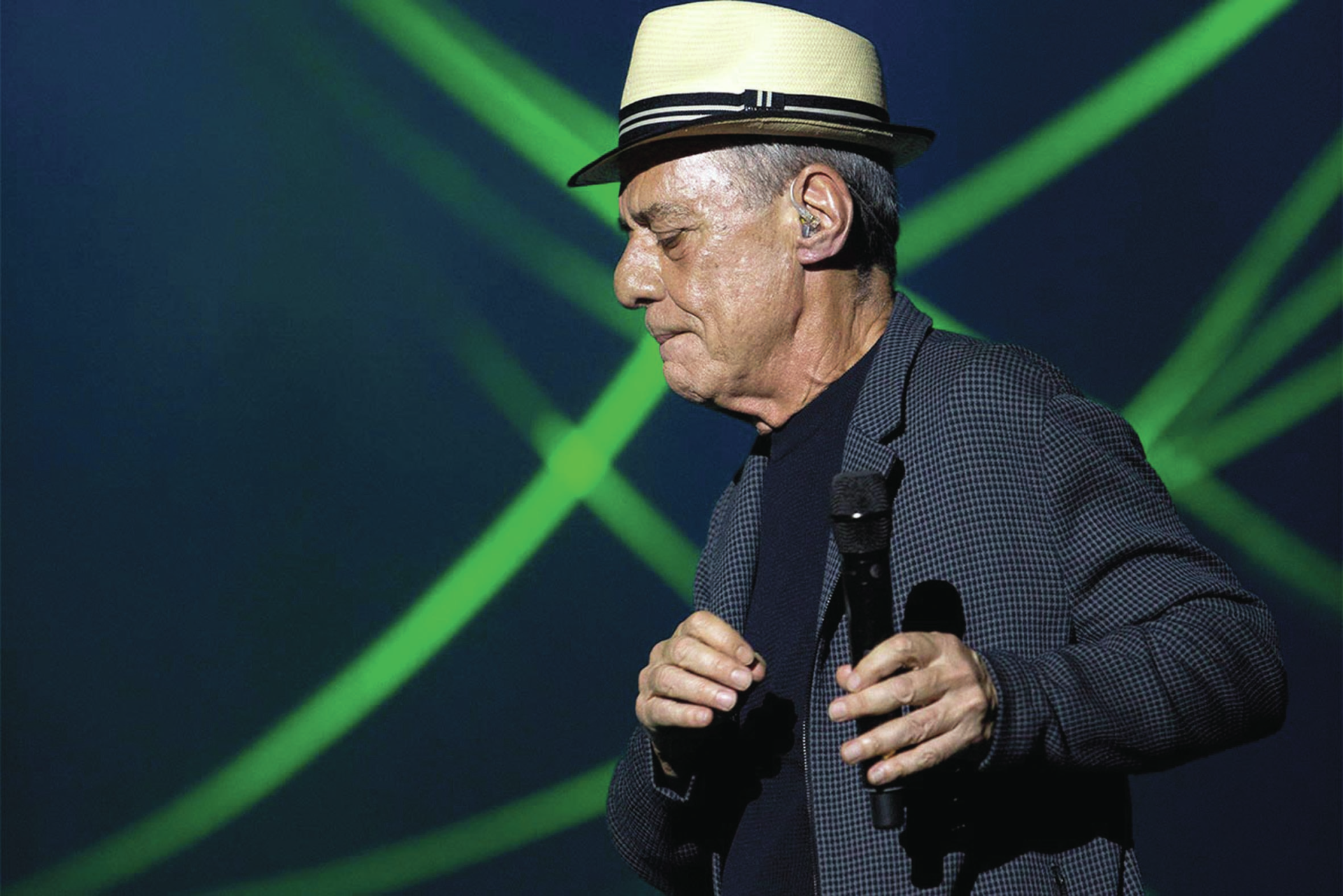Vamos despachar o óbvio que logo nos cai nos braços no meio desta festa que se armou à volta de um galardão literário. É o Prémio Camões que se prestigia ao chamar Chico Buarque para o seu rol. Nem o júri o escondeu. Clara Rowland, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, disse que a escolha, além de unânime, foi entusiástica. Nem foi preciso ir desencantar um pobre escriba esquecido, guerrear com as preferências dos outros, medindo a pilha de cada país no que toca a autores galardoados. É como se Chico pudesse ser dividido irmãmente entre todos: “É uma das poucas figuras comuns a todo o espaço da língua portuguesa. Poucos na literatura têm o grau de reconhecimento que o Chico tem”. E Rowland morde, então, com casca e tudo, esse fruto óbvio: “Pareceu–nos ainda que um nome como o Chico traz muita vitalidade ao Prémio Camões”.
É natural, já que este autor, que para escrever romances tem de assumir uma disciplina “radical, prussiana”, chutar o mundo para fora de casa e atirar-lhe as roupas pela janela, para se trancar, é essa figura que dá a sensação de que devorou o gémeo, um ou dois – três, quem sabe –, mas isto antes de chegar ao útero da mãe, talvez no ponto alto do desejo dos progenitores, ficando com atributos demais para um só. Trata-se, assim, de uma espécie rara, um capricho dos deuses, a quem se agradece a moderação. Foi Otto Lara Resende quem não deixou que se perdesse a maravilhosa frase de Nelson Rodrigues que, a meio de uma conversa, se saiu com esta: “Diante de Chico Buarque, todo homem é um corno em potencial”. Na opinião do anjo pornográfico, “dependendo do homem com quem a mulher trai, o corno deveria até sentir-se honrado pelo bom gosto da patroa”.
Por isto, quando o maior prémio que temos para a língua portuguesa nos vem falar do génio de Chico, ninguém se espanta. E é apressada, no fundo é até ridícula, a comparação com Bob Dylan: pois se as letras das canções de Chico trazem aqueles modos de quem sabe estar à mesa com os grandes poetas – elas trazem a respiração embalada por ecos de Bandeira, de Vinicius, de Cabral, de Drummond –, os romances são o lugar em que ele passou no exame literário com distinção. E Chico quis sempre que a separação fosse clara. Numa entrevista a um jornal argentino, em 1999, quando tinha ainda só dois romances publicados, já tomava posição pela sua literatura em termos de inovação quando comparada às letras das canções. E em 2015, depois da publicação de O Irmão Alemão, noutra entrevista, lembrou que a literatura sempre esteve lá, que era um facto central à sua identidade e àquilo que se via a fazer no futuro: “Foi também uma maneira de me aproximar de meu pai, que passou a vida entre livros. Eu diria que, antes de ser músico, queria ser escritor. Até que a música apareceu na minha vida e embarquei nela. Mas não abandonei a ideia de me dedicar à literatura. Nos anos 70, publiquei meu primeiro romance; nos 80, o segundo. Desde então alterno as duas coisas. Quando faço uma, não faço a outra, porque me consomem muito. Quando estou escrevendo nem sequer ouço música”.
Voltando ao prémio: se deitarmos uma mirada, de alto a baixo, à lista dos anteriores galardoados, fica claro como raras vezes traçou a sua linha num território mal iluminado ou escavou o acesso a uma obra que, de outro modo, teria ficado soterrada. Entre os portugueses, curiosamente, talvez se possam registar duas exceções: Manuel António Pina, em 2011, e Hélia Correia, em 2015. Se o poeta beneficiou da distinção e galgou algumas posições na liga interna, a romancista e também poeta não se deixou perturbar e tem continuado pacatamente uma obra consequente com o tempo e o lugar, e desinteressada de esplendores artificiais. Mas, nas três décadas da sua existência, ao Prémio Camões falta ainda uma escolha mais atrevida ou polémica, mais do que um cauteloso processo de homenagem, um golpe de justiça. Ao invés de um efeito de anuência, da escravidão ao consenso, uma decisão que causasse desconcerto. De resto, a natureza diplomática deste prémio talvez seja, antes de tudo, um reflexo do atavismo ao nível da composição dos júris, com a academia sempre em peso ali, a sancionar e segurar o freio da criação literária.
Assim, é natural que, das declarações prestadas pelo júri, não se consiga desentranhar nada de muito substancial, e acabemos com um cabeçalho de intenções pedagógicas. Manuel Frias Martins, professor da Faculdade de Letras de Lisboa, frisou que o prémio não era para o músico, mas para “o homem da literatura”. “Quando falamos de Chico Buarque, esquecemo-nos muitas vezes de que estamos perante um escritor de grande qualidade na poesia, um dramaturgo de grande qualidade e, sobretudo, um romancista de grande qualidade”, disse ao jornal Público. Mais se retira da reação do poeta brasileiro Régis Bonvicino, expressa no Facebook, e que achou natural a distinção, notando que Chico “faz parte de uma geração, com algumas cabeças brilhantes, que transitou entre grandes poetas e romancistas (no caso dele, Vinicius, Bandeira, João Cabral e outros) e a canção popular (não a de hoje e não a pop), ao lado de nomes como Tom Jobim e tantos outros”. Trata-se, no fundo, de reconhecer que Chico “teve a vida intelectual forjada num momento em que o Brasil estava estranhamente inteligente”, como comenta alguém no mesmo post.
É neste aspeto, na sua posição privilegiada como herdeiro à altura de um legado sumptuoso, que Chico se mostra um filho que prodigaliza, no melhor sentido, o seu talento, esbanjando as lições e influências que recebeu em tudo o que faz, ao invés de ser sovina, pondo uma tampa sobre a tradição. Ele foi pingando-a, recolhendo outros víveres, novos sinais de vida, e não quis ter nada a ver com o cansaço, com a história do esgotamento. Na exuberante multiplicidade da sua obra, ele opera uma rejubilante síntese entre o saber erudito e a cultura popular.
Filho do historiador e crítico literário Sérgio Buarque de Hollanda, um dos grandes intelectuais brasileiros daquela geração que garantiu de vez o insubordinado e miraculosamente diverso génio da cultura brasileira, é fácil imaginar que a infância de Chico não se ficou só por trepar às árvores, mas espreitar também a vista aos ombros dos muitos amigos que visitavam o pai e faziam daquela casa uma universidade erguida bem fundo nos territórios do desconhecido. Entre as lembranças que guardou do filho mais novo, que tudo fazia para não perder pitada da ação em que se envolviam os mais velhos, Sérgio recorda que ele começou cedo a ler e a trepar também a sua biblioteca, e como tomou de Guimarães Rosa um gosto tão grande pelos movimentos da língua que se chegava à amurada das palavras e queria ainda dar mais um passo, ir além do que já continham. Assim, também foi inventando as suas próprias palavras. “Tolstoi e Dostoievski também eram seus favoritos. E Kafka. Em geral, ele ia lendo tudo o que caía em suas mãos”.
Depois, é claro, o prémio não podia deixar de ter um peso político. Muito sucinto na sua justificação, o júri deixou a ousadia para Chico. E como Bonvicino também nos lembra, “ele sempre foi coerente em termos ideológicos, sem ambiguidades”. A distinção chega, por isso, com uma pontualidade prenhe de sentido num momento em que o Brasil está aviltantemente burro, e não deixa de causar algum incómodo àqueles que decidiram eleger para liderar o país um iletrado que, logo após a chegada ao poder, extinguiu a pasta da Cultura.