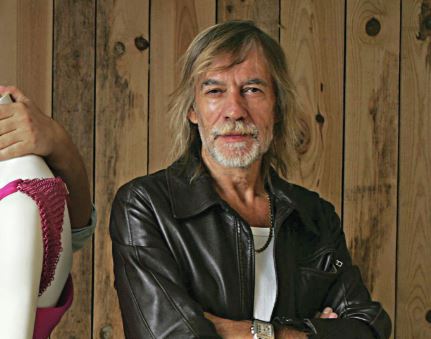Quem sou? Quem é que realmente sinto que sou? Ao longo da vida, é possível que nos interroguemos várias vezes sobre a maneira como nos vemos, identificamos, sentimos. Este é um cenário habitual, em diversos estádios da vida, em determinadas circunstâncias e momentos. Nascemos numa sociedade binária que se ramifica entre o universo feminino e o universo masculino. À nascença, é precisamente a nossa genitália que nos “dá nome”, nos “rascunha” o destino, ditando aquilo que somos, ou devemos ser. Mas e se, ao nos olharmos ao espelho, não nos identificamos com o que vemos? E se esse “esboço” precisasse de ser emendado? E se, durante uma vida inteira, nos sentíssemos aprisionados num corpo que não é o nosso? Ou se a maneira como o olhamos deixasse de fazer sentido e precisasse de ser transformada? Ary, Isaac, Maria, Daniela e Aishan são cinco das vozes que se têm feito ouvir. Todos com histórias diferentes, mas com uma coisa em comum: a crença de que a comunicação/informação tem poder e que o “universo” trans continua a ser “tabu” em Portugal.
Ary Zara “Sou geometria sagrada materializada num corpo. O nome que escolhi para mim é Ary e decidi manter o nome que me deram à nascença, Zara. Tudo o que faço tem um tom de missão e propósito. Mergulho profundamente na procura de respostas, esforço-me constantemente a sair da minha zona de conforto e gosto de oferecer um olhar de ângulos também possíveis e menos explorados para trabalhar uma nova consciência”, descreve-se assim Ary Zara, cineasta, performer, ativista e terapeuta holístico de 35 anos, que pediu para ser tratado com pronomes neutros. Segundo Ary, a sua transição veio como “anexo do feto” e tem sido “um caminhar desde então”. “Não houve um dia, nem um momento específico mas sim uma transição gradual à medida que me confrontava com as imposições associadas ao género que me foi atribuído no momento do nascimento”, explicou ao i. “A minha relação com o corpo foi mudando também à medida que este se foi desenvolvendo e aos 29 anos senti que tinha urgência num outro corpo há muito adiado”, continuou, acrescentando que viveu muitos anos numa “tentativa de positivismo corporal” até que percebeu que não tinha de aceitar tudo.
O seu corpo, contou, começou a alterar-se bastante tempo antes de fazer hormonas, pois fez questão de caminhar o mais longe que conseguiu “até não ter mais saída”: “Isto reflectiu-se em treinos bidiários no ginásio para aumentar bastante a minha musculatura e diminuir ao máximo a gordura do meu peito. Quando cheguei ao meu limite físico, decidi então começar a tomar testosterona com acompanhamento de um endocrinologista que me permitiu fazer tudo com bastante calma, pois sabia que não queria ter mamas, mas não tinha a certeza em relação aos pêlos faciais que iriam aparecer”, explicou. Entrou posteriormente numa fase que agora considera “bastante tóxica”, em que sentiu urgência em parecer um homem cis (pessoa cuja identidade de género corresponde ao género que lhe foi atribuído no nascimento), tentando eliminar “tudo o que de padrão feminino existia em si”. Passados dois anos de reposição hormonal, Ary decidiu fazer a sua mastectomia e alterar o nome e marcador de género. “Este último foi bastante violento para mim, porque eu não me sentia nem sinto homem mas na inexistência de um terceiro marcador escolhi aquele que me ia permitir um navegar mais tranquilo e não violento numa sociedade binária”, revelou, admitindo que sentiu, na altura, que era uma pessoa fraca “por não ser capaz de viver com o corpo com que nasceu”. ”Foi uma decisão que me fez repensar bastante sobre os meus padrões, preconceitos e questões políticas. Senti muita necessidade de estudar e ler sobre género, feminismo, biologia quase para me justificar como se a minha verdade não bastasse… Eventualmente encontrei-me e fui então capaz de avançar. Atualmente sinto-me bem com o meu corpo nos termos em que está, encontro poder em ser trans não me moldando mais ao que é esperado quando me olham”, sublinhou.
Daniela Bento “O meu processo é único, tal como todas as vivências trans, os processos são únicos e todas as trajetórias todas válidas. Não há apenas uma narrativa, existem tantas narrativas quanto pessoas”, frisa Daniela Bento, membro da Direção da Associação ILGA Portugal. “Na minha infância nunca senti que rapaz não era o meu género, nem sabia o que era género. Tentava viver a minha infância o melhor que podia, com as dúvidas e questionamentos típicos de uma criança”, contou. Só quando foi para a capital é que decidiu começar a “re-experimentar toda uma nova vivência”:
“Utilizava os mecanismos de género para me enquadrar em algum lado, no feminino ou no masculino. Nessa altura, não conhecia outras realidades. Isso alastrou-se por anos, e foi preciso muita experimentação e reflexão interna para entender que eu era mais do que isso, a minha identidade ir para além daquilo que eu mostrava socialmente”. Aos 27 anos, Daniela decidiu que queria mudar o nome e esse simbolizou “um salto de catapulta” para descobrir “o seu próprio lugar no mundo”: “Eu achei-o na transgeneridade, sendo mulher e mais tarde, com mais alguns processos desconstrutivos, afirmar-me mulher e não binária”, admitiu. O género não binário é o termo guarda-chuva para identidades de género que não são estritamente masculinas ou femininas.
Isaac dos Santos “Sempre me vi como um homem. Desde que tenho consciência que me vejo desta forma. Nunca por um segundo na minha vida, me vi ou me senti de outra forma. O que foi bastante frustrante porque tive de esperar até aos 18 anos para poder ter o meu BI com o meu nome e marcador de género correto. Para poder começar a reposição hormonal e ver o meu corpo desenvolver as características corporais com as quais me identifico e que senti falta toda a minha vida. Para poder fazer a mastectomia que era o que mais me impedia de viver livremente”, conta, por sua vez, Isaac dos Santos, 24 anos, barbeiro e criador de conteúdos, acrescentando que “assim escrito parece que não foi nada, mas experimentem viver 18 anos num corpo que não vos pertence, não vos representa”.
Isaac realizou então uma reposição hormonal que tornou a sua voz mais grossa, as feições mudaram, a gordura começou a distribuir-se de forma diferente, as ancas, que lhe incomodavam bastante, desapareceram, a barba começou a crescer. “Juntando isto à mastectomia consegui ter o corpo estereotipicamente masculino de que necessitava”, admitiu.
O coming out Trata-se por isso de um processo com “vários momentos difíceis”, apesar de não ser, segundo Isaac, um processo de apenas “sofrimento”. “Fazer um ‘coming out’ é assustador porque não sabemos a reação das pessoas à nossa volta. Mas em última análise, nós estamos a dizer quem nós somos. Se alguém diz ‘não aceito’ ou ‘para mim tu vais sempre ‘o’ ou ‘a’ então, essa pessoa está a recusar-se a conhecer quem verdadeiramente somos. Numa situação fora de assuntos trans, se alguém se recusa a saber quem nós somos, não quer fazer parte da nossa vida”, frisou.
As pessoas trans enfrentam, por isso, várias dificuldades que “diferem de pessoa para pessoa consoante onde moram, qual é o apoio da família e amigos, de onde vêm e quem são”. “Para as pessoas que não têm uma aparência comum consoante os padrões de beleza para cada género, arranjar um emprego pode tornar-se num problema. Isto pode acontecer com pessoas que não tenham uma expressão de género binária (masculina ou feminina) e torna a leitura do género menos simples. Muitas destas pessoas têm dificuldade em arranjar um emprego, uma fonte de rendimento. Pessoas trans que venham de outros países têm dificuldade em começar ou continuar o processo (consultas, hormonas, cirurgias) devido a burocracias legais”, elucidou.
A busca pelo sítio certo Aishan Noir tem 27 anos, é uma mulher trans brasileira, ativista e trabalhadora na área do audiovisual. Há um ano mudou-se para Portugal em busca de melhores condições de vida, mas infelizmente, segundo esta, não é isso que tem acontecido. “Tenho 27 anos, portanto, durante todo esse tempo, permaneci num corpo, numa identidade, com uma imagem que não era do meu agrado”, explicou ao i, revelando que muita dessa realidade se deveu ao seu panorama familiar. “Cresci num ambiente de uma falsa classe média brasileira, muito embranquecida, cheia de regras e costumes. A minha família tentou sempre colocar-me em ‘locais’ e trabalhos mais masculinos, fazia-me utilizar roupas mais masculinas”. A ativista admitiu que teve de sair do país rumo a Amesterdão para conhecer outro mundo, uma outra realidade. “Lá eu tive a liberdade de ser quem sou, de me descobrir, de perceber que eu andava a viver com uma identidade que já não me pertencia. Fiquei um ano na Holanda, por questões de legalização e, como Portugal oferece melhores condições, decidi mudar-me para cá”, lembrou. Mas, de certa forma, lamenta, a sua qualidade de vida piorou: “Lá eu tinha uma receção sobre a minha imagem que aqui não tenho. Lá era uma coisa positiva, aqui estou a ter uma visão negativa”.
A sua transição deu-se a partir da maneira como olha para o seu próprio corpo, que ainda é o mesmo. “Só que a forma com que eu me vejo, com que o meu namorado me vê, a forma com que a gente se relaciona, com que eu me exponho para a sociedade, é mais empoderada. Eu digo: ‘Eu sou uma mulher!’. Eu pensava que eu era um ser ‘espetáculo’, pela minha feminilidade enquanto homem gay antes desse ‘coming out’. Para mim, o mais importante é a forma como eu me vejo. O corpo não tem necessariamente de mudar, tal como ainda não mudou, mas sim a forma com que o vejo”, elucidou.
50 anos “perdida” “Em 50 % da minha vida eu vivi como mulher às escondidas. Não assumia e nunca percebi o que é que isso quereria dizer até finais de 2017, princípios de 2018”, revelou o ano passado Maria João Vaz, atriz e artista plástica de 57 anos, que ficou conhecida com o famoso anúncio “To Xim?” da Telecel, no programa A tarde é Sua, apresentado por Fátima Lopes. A sua transição é, por isso, bastante recente e deu-se na primavera de 2020, em pleno confinamento.
Os seus pais educaram-na segundo os padrões de um rapaz. Chumbou no seu terceiro ano, com notas baixas em todos os períodos, considerando agora ter sido “um grito de alerta”. “O diretor de turma chamou os meus pais à escola e quando estes chegaram a casa em graçola disseram-me: ‘Vê lá tu que o teu diretor perguntou-nos se tu tinhas problemas psicológicos ou psiquiátricos!’. E eu tinha! Acho que eles tiveram pouca sensibilidade comigo. Muitas pessoas são capazes de dizer que é fácil meter a culpa nas pessoas porque havia pouca informação, mas as pessoas nascem transgénero. Não é uma coisa em que eu me tornei. Eu já era só que não conseguia interpretar”, contou numa entrevista ao programa #SÓQNÃO, da RTP. Aos cinco anos, já trocava de sapatos com a sua colega de carteira e, anos mais tarde, resolveu experimentar as roupas da sua mãe.
“Sentia um arrepio sempre que o fazia”, lembrou na conversa com Joana Martins. Dormia no quarto com mais dois irmãos, durante a tarde, levava coisas para dentro da cama e era lá que se vestia. “Ou ia para dentro da casa de banho e tapava as frinchas da porta. Nunca fui apanhada!”, admitiu.
Só anos mais tarde é que teve contacto com o conceito transgénero. “O meu pai trabalhava no aeroporto e trazia umas revistas para casa. Uma delas era a Manchete, uma revista brasileira, e na última página, havia fotografias de pessoas brasileiras transgénero. Eu interessava-me muito, mas nem por uma vez pensei que seria uma pessoa dessas. O que é muito estranho… Como é que eu não fiz o click mais cedo?”, interrogou-se, lamentando ter passado 50 anos a viver uma “mentira”. “O que é dramático neste momento é perceber que os anos para a frente são menos do que os que vivi para trás”.
Maria teve relação com uma mulher que acabou por ser a mãe das suas filhas, contudo, a relação “nunca correu bem”. “Porque eu mesmo casada ou namorando, tinha a minha vida privada. Andei ao longo da vida à procura de muitas distrações”. “Desempenhava o que normalmente se costuma chamar a figura feminina no casal. Eu fui a mãe das minhas filhas, ou a segunda mãe. Eu só não as tive dentro de mim. Mãe é a progenitora feminina, pai é o progenitor masculino. Porém, eu agora sou feminina, por isso não me faz mais sentido ser chamada ou vista como pai. Não me importo de ser madrasta, mãe, M, MJ, mas pai não”, elucidou ao mesmo programa. O seu “coming out” para o mundo foi em agosto de 2020, quando sentiu que estava “apresentável”, na maneira como queria que a Maria João fosse. O seu maior receio eram as pessoas mais próximas, tal como a porteira, os vizinhos, as pessoas do supermercado… Ao contrário do que podia esperar, a receção “foi incrível”. “Todos me deram força. Fico muito feliz, por essas pessoas, não é por mim. Porque que bom que são assim!”. Segundo Maria, a maior curiosidade que as pessoas têm tem sempre a ver com o corpo, as cirurgias, “com o fetichismo todo que envolve esta questão”. “Há mulheres trans que gostam de manter a sua genitália, o seu corpo, o seu cabelo… Que se sentem bem como estão. Outras querem aumentar o peito cirurgicamente, outras querem fazer uma vaginoplastia porque a sua genitália não as deixa felizes”, contou, frisando que as pessoas utilizam os recursos médicos existentes “para tentar alinhar o corpo com aquilo que sentem, sendo livres de fazer o que querem”. “Eu quero o meu corpo alinhado com aquilo que sinto. E se eu fizer uma vaginoplastia ninguém sabe se tenho um pipi ou não. Eu também não pergunto às pessoas que estão perto de mim o que é que elas têm no meio das pernas”, declarou.
Um desmistificar de conceitos “Transexual é um termo que tem vindo a cair, felizmente. Dividia-se as pessoas trans pelas que tinham feito cirurgias genitais e as que não tinham. As que tinha, eram transexuais, as que não tinham eram transgénero. Este conceito era muito invasivo e redutor”, explica Isaac, ressaltando que “ninguém tem absolutamente nada a ver com os nossos genitais”. Ou seja, atualmente, elucida, o termo que é utilizado e considerado mais inclusivo e correto é o de “transgénero”, ou “trans” que “tem espaço para albergar todas as pessoas que não se identificam com o género que lhes foi atribuído à nascença”.
Por sua vez, Ary acrescenta que quando alguém diz que é transgénero “assume apenas que não se identifica com o género imposto sem ter que revelar se fez cirurgias ou pretende fazer, se toma hormonas ou pretende tomar criando uma barreira de proteção em relação a si e ao seu próprio corpo”. Desta forma, o pretendido é precisamente enfatizar também que “a identidade trans não tem que se relacionar com processos médicos mas sim com a experiência individual de cada pessoa”. “O género está em mim, não no meu corpo. Necessitamos do corpo para nos afirmarmos, mas o corpo não define o nosso género. Eu sou tão homem hoje, quanto era antes de reposição hormonal e cirurgia”, declara Isaac.
No caso de Maria, o seu corpo foi-se transformando “naturalmente”: “As formas, os seios, o contorno do rosto, a pilosidade… Há também a feminização facial onde se arranja o contorno do queixo, aumenta-se as maças do rosto, o nariz mais pequeno, retira-se a maça de Adão”, explicou a Joana Martins. Geralmente, antes da intervenção cirúrgica, o que muitas mulheres trans fazem é um tratamento hormonal que limita a presença de testosterona. “Mas estas transformações não são necessárias para ser considerada uma mulher”.
No que toca à palavra “travesti”, esta tem significados diferentes em Portugal e no Brasil: “Aqui em Portugal a palavra era usada como referência a pessoas que se expressavam com um estereotipo visual oposto ao seu género em contextos performativos como espetáculos mas também em contextos relacionados com o trabalho sexual. Como o trabalho sexual não era bem visto, e infelizmente ainda não é, as pessoas que faziam espetáculos adotaram a palavra transformista e mais recentemente a população mais jovem cunhou o termo dragqueen. No Brasil é diferente, a palavra travesti é única e jamais possível de ser traduzida, é uma identidade de género num espetro mais feminino própria de uma geografia e cultura”, elucidou Ary Zara.
A visibilidade Trans Isaac considera que, para alguém que tenha ouvido falar de pessoas trans apenas em notícias, ver estes termos diferentes é confuso. “Especialmente porque os próprios media também não utilizam na sua maioria, uma linguagem correta. Isto ajuda a espalhar a desinformação”, defende, explicando que a sexualidade “é o conjunto de expressão de género, sexo biológico, identidade de género e orientação sexual”. “São todas as coisas que nos permite saber quem somos e por quem nos sentimos atraídos”, acrescenta. Já Ary Zara enfatiza a possibilidade da procura por informação: “Quem procura, encontra. Com isto quero dizer que a dificuldade aparece devido à pouca procura de informação. Contudo não posso ignorar a invisibilidade de identidades trans em contextos mainstream, se apenas formos notícias de assassinatos ou lágrimas em programas da tarde dificilmente irão compreender a vasta realidade deste universo”.
Aishan Noir coloca cada conceito “numa perspetiva individual do ser”. Em qualquer uma delas, uma pessoa quer manifestar-se. Para além do facto de ser uma mulher trans, a ativista considera que o facto de ser brasileira e ter a pele escura lhe tem dificultado a vida. “Acho que o sistema aqui é todo fechado para que tu sejas prejudicada a nível máximo. Eu, como uma mulher trans, brasileira, logo a começar pelo meu nome social – Aishan – as pessoas não respeitam. Até pela condição financeira. Se eu frequento locais como tive oportunidade de frequentar em Faro (mais prestigiados), aí fui muito bem recebida e bem tratada. Estava com condição financeira para arcar com aquele local, então as pessoas não me questionavam. Agora, se eu estiver num local como um supermercado da vida, eu vou ser maltratada. As pessoas deduzem logo que tu vieste em determinado lugar”, acredita, frisando que a receção das pessoas em Portugal a uma mulher trans negra “não é boa”: “Eu acho que as pessoas nos querem ver noutros locais, não em lugares de prestígio e diversão”.
Uma noite de terror Neste caso, foi em pleno Bairro Alto que Aishan e o seu namorado foram espancados, por um alegado motim. “Fomos sair, queríamos tomar uma caipirinha. Estamos a morar no bairro alto e a começar a descobrir o movimento. Íamos entrar num bar, estávamos à porta a conversar e eu fui interrogada pela segurança sobre o que estava ali a fazer… Disse-me que eu não podia entrar e ameaçou-me logo de que me ia bater”. Depois de ficar insatisfeita com a receção do porteiro, a ativista fez uma reclamação a explicar a ameaça por parte do funcionário e, na saída, o porteiro fez efetivamente o que tinha “prometido”. “Agrediu o meu namorado e eu empurrei-o, questionei o porquê de estar a fazer aquilo. Depressa se gerou um motim em que várias pessoas nos bateram. A rua estava cheia… As pessoas foram muito cobardes, assistiram de camarote à cena. Eles deram-nos tantos socos e tantos pontapés, era tanto ódio”, lembrou. Uns minutos depois, no meio daquela confusão, Aishan acredita que teve a ajuda de um anjo que a puxou. “Consegui levantar-me, fui à porta do bar falar com o responsável, e disseram-nos que não íamos entrar mais naquele sítio, como se eu tivesse roubado alguém, ou feito algo de muito errado ali. Depois disso fui ao encontro da Polícia, que rejeitou fazer o nosso registo, alegando que deveríamos estar ilegais no país e coisas do tipo”. Sem ajuda por parte das autoridades, o casal deslocou-se à Associação de Apoio à Vítima (APAV) que se encontra, neste momento, a auxiliar com o processo de queixa. “Fizemos uma denúncia na APAV para que fosse enviada diretamente para o Ministério Público e agora estamos a aguardar a investigação”.
O Dia de Memória Trans Dois dias depois do sucedido, deu-se o Dia da Memória Trans, que, segundo Ary, pretende “trazer visibilidade e consciência para o número de pessoas trans e de género não normativo que foram mortas vítimas de transfobia”.
Um estudo feito pela Transgender Europe (TGEU), uma rede de diferentes organizações que trabalham para combater a discriminação contra pessoas trans e apoiar os direitos das pessoas trans, mostra que, de outubro de 2020 a outubro de 2021, 375 pessoas trans foram assassinadas. 96% eram mulheres trans ou pessoas trans num espetro feminino. A média de idades é 30 anos e a pessoa mais nova assassinada tinha 13 anos. 36% foram mortas na rua e 24% nas suas próprias residências – 43% eram migrantes. “Neste dia, o que fazemos é a divulgação destes estudos, a prestação de homenagem a todas as pessoas que foram mortas e celebração das que continuam vivas”, explicou Ary. “Com este estudo não há como negar e é importante saber que ficam fora destes números os suicídios que são em grande parte das vezes reflexo de agressões sociais e de falta de apoio no sistema de saúde e na criação de políticas públicas que visem a integração e proteção de pessoas trans na sociedade”.
As leis e a falta delas Para Isaac, há a ideia que “já está tudo bem”, que já ninguém é expulso de casa ou que vive em circunstâncias de abuso por parte da família por ser LGBT. Contudo, defende, “essa ideia não podia estar mais longe da verdade”. “Semanalmente, recebo/recebemos tanto no meu instagram pessoal como no TGUYS pedidos de ajuda no sentido de lidar com familiares, ou sair de casa” – Isaac e Ary possuem um projeto digital conjunto apelidado TGUYS que tem como objetivo incentivar o repensar padrões, preconceitos e ideias sobre género e identidade.
Isaac teve o “prazer” de fazer parte da lei que, em 2018, permitiu às pessoas transexuais mudarem de sexo e de nome no registo civil e, tempos depois, participou também na publicada lei da autodeterminação, que permite a pessoas a partir dos 16 anos escolherem o sexo, embora, se forem menores, com a necessidade de consentimento dos representantes legais. “A mudança significativa que esta lei oferece é a nossa identidade não estar nas mãos de um psicólogo ou médico.
Se ninguém que é cis (se identifica com o género atribuído à nascença) tem de provar o seu género, por que é que nós temos?”, interroga. “Somos nós que vivemos a nossa identidade, logo, só nós poderemos dizer quem somos. Não há metodologias para avaliar a identidade de alguém. Esse foi o grande diferencial em relação à lei de 2011 que submete as pessoas a uma avaliação médica para lhes dizer quem são”, acrescentou Daniela Bento.
Antes de 2011, as pessoas precisavam de ir a tribunal e despir-se em frente a um juiz para provar que eram realmente homens ou mulheres. “Isto para além de abusivo, era redutor e implicava que algumas pessoas nunca conseguissem trocar o BI por não quererem cirurgia genital ou por não terem a capacidade de a fazer”, elucida Isaac. A partir de 2011, começou a ser necessário duas avaliações médicas independentes feitas por equipas profissionais que constassem na lista de médicos que a Ordem dos Médicos criou. A Ordem dos Psicólogos não quis participar nesta lista, ainda assim foram lá colocados psicólogos. “A alteração do BI estava pendente dessas duas avaliações que poderiam levar meses ou anos devido ao tempo de espera. Durante esse tempo, era esperado que as pessoas já tivessem feito o seu ‘coming out’, inclusive no seu trabalho. No entanto, sem BI, sem credibilidade e prova legal necessária da sua identidade. A pessoa tinha de estar um ou dois meses em hormonas e só depois era passado o papel para a alteração do marcador de género e do nome”, lembrou.
Com a lei de 2018, as pessoas podem dirigir-se ao cartório, “sendo donas da sua identidade e ter o seu cartão de cidadão de acordo”. “Contrariamente ao que os media publicitaram fortemente, esta lei apenas permite isto. Tudo o que tenha a ver com alterações físicas, seja por hormonas ou cirurgias, continua a ser a partir dos 18 anos e com os médicos competentes para o assunto”, explicou Isaac, sublinhando que isso apesar de poder parecer “algo pequeno”, fez a diferença na vida de centenas de pessoas.
Porém, alerta Daniela, “nem tudo ficou fechado nesta lei”: “Continua a faltar o reconhecimento legal da identidade de pessoas menores, migrantes e de pessoas não binárias. Há ainda uma lacuna muito grande no que toca à criação de políticas públicas que visem melhorar a vida destas pessoa, guias de boas práticas, fiscalização da lei, critérios menos aleatórios no sistema de saúde, mas que respeitem a autonomia de cada pessoa. Uma boa prática de inclusão de pessoas trans nos mais variados espaços. Uma cultura de aprendizagem para a diversidade sexual e identitária. Tudo isto ainda nos falta fazer”.
Isaac acrescenta que também é urgente trabalhar a saúde trans. “Nós vamos ao médico por mais razões que a nossa transição. Precisamos de nos sentir seguros e integrados nos hospitais, uma coisa que não acontece. Pessoas colocadas nas enfermarias erradas, mesmo com os seus documentos legais atualizados. Homens com vagina a quem é rejeitada uma consulta de ginecologia, ou uma consulta para congelamento de óvulos. Ou mesmo em situações básicas como ir fazer um raio x ou tac podem ser constrangedoras, pela questão da nudez”, conta. Além disso, segundo Ary, “as pessoas trans que não têm uma passibilidade cis encontram muitas dificuldades no acesso ao emprego e habitação”. “As pessoas trans que acabam por ter que sair de casa antes de terminar a sua educação têm dificuldade em voltar a estudar ou entrar no mercado de trabalho e se a isto acrescentarmos camadas como ser uma pessoa trans não branca acresce o racismo, no caso da pessoa ser migrante vemos ainda como acréscimo a xenofobia e mais uma dificuldade no acesso à saúde e ainda incluir na discussão pessoas trans com diversidade funcional que já são discriminadas e privadas de muitos destes direitos”.
“As leis não bastam, é preciso mais do que redigir, é preciso realmente implementar, formar e educar e isto não pode depender de associações, coletivos ou da boa vontade de ativistas no singular”, defendeu.
Por sua vez, Maria João Vaz alerta também para o preconceito existente no mundo profissional, tendo recentemente publicado um texto na sua conta de Instagram alertando precisamente para essa lacuna. “Sendo uma mulher trans, conseguir um trabalho consistente e não uma participação fugaz, em teatro, cinema, televisão ou dobragens, ou conseguir agenciamento por parte de agentes ou agências, é um esforço infrutífero”, começou por escrever, revelando optar por “empregos precários” que “humilham” a sua formação e a “cerceiam e bloqueiam na criatividade”. “Temos de nos confrontar com a verdade de que a visibilidade não é suficiente e que muitas vezes a diversidade não passa de uma pseudo autenticidade, e muitas vezes a inclusão é apenas um convite onde somos testemunhas dos meandros da nossa própria opressão”, continuou, enfatizando a ajuda de que as criadoras e criadores trans precisam. “A minha arte e o meu trabalho é a maneira de vos libertar do fardo de terem de contar as nossas histórias por nós. Nós queremos ser “@s” responsáveis pelas nossas histórias, que nos brotam do coração para alimentar o vosso. Deixem-nos vos dar essa dádiva”, rematou.
Ao programa #SÓQNÃO, a atriz apontou ainda o preconceito existente contra pessoas trans em relações amorosas: “Não é mal nenhum apaixonarmo-nos por pessoas trans. Eu acho que as pessoas realmente se envolvem mas em determinado momento recuam porque não conseguem lidar com isso. É um problema coletivo, de dinâmica. O problema é o que os outros sentem, dizem ou pensam. Se estivéssemos numa ilha deserta, sem ninguém a ver, já não havia problema… O que o outro diz é absolutamente secundário! O principal é que se seja feliz! Que nos deixem ser felizes”.