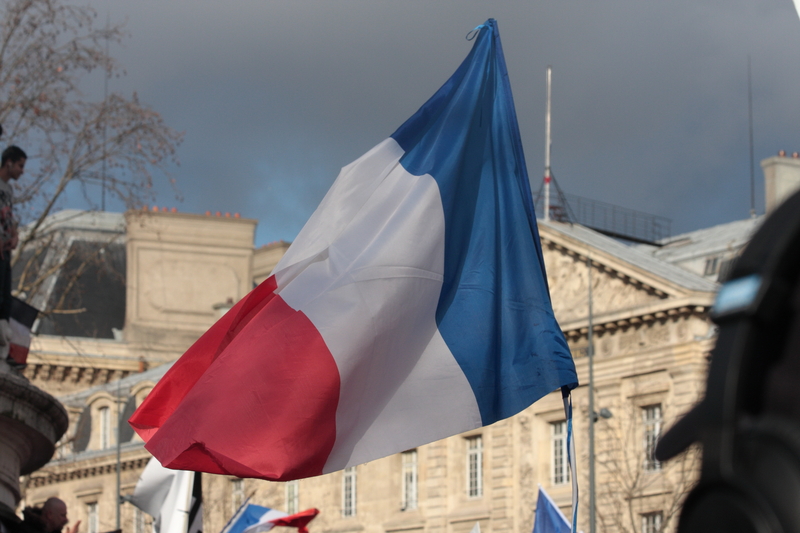Terceira dose da vacina, ensaios, concertos, entrevistas, colaborações com outros artistas, novos arranjos para orquestra e o lançamento do novo disco, 70 Voltas ao Sol: estes têm sido dias intensos para Jorge Palma. A sua agenda, dizem-nos, “é um pesadelo”.
No entanto, quando entramos em sua casa, um apartamento bem no centro de Lisboa, nada transparece essa atividade frenética. O ambiente é tranquilo e silencioso – excetuando, talvez, quando um automobilista impaciente lá em baixo se põe a buzinar com insistência. Ao canto da sala há um piano de cauda, com partituras antigas e recentes, no qual o músico compõe e se diverte a experimentar os sons produzidos pelas 88 teclas. Do outro lado temos a zona de estar, com sofás, uma estante e uma televisão. Jorge Palma instala-se com um café, um maço de tabaco aberto e outro por abrir. Por muitos compromissos que tenha, por muito agitados que sejam estes dias, aqui, na sua casa, rodeado pelos seus livros, o seu piano, os seus objetos – e com os cigarros ao alcance da mão, claro –, está perfeitamente relaxado e disponível para falar sobre o novo disco, o percurso singular e as experiências que o marcaram.
Soube que tomou ontem a terceira dose da vacina. Sente-se bem, não houve efeitos secundários?
Não tive efeitos secundários mas dormi duas horas e meia.
Só?
Não tem a ver com a vacina. Tem a ver com a adrenalina. Não consigo controlar isso. Quando há um acontecimento mais importante, antecipo. O concerto no CCB é sábado. E ontem estava a viver a festa que ainda não aconteceu! Tenho essa particularidade…
É um misto de medo e desejo?
Exatamente. É o desejo, a pica toda, e é um certo medo, também. As inseguranças vêm ao de cima.
Qualquer pessoa diria que ao fim destes anos todos já não tinha nada a recear…
Ainda bem que tenho, se não tivesse era porque não estava a sentir nada. É bom ter isso, ‘le trac’, aquela coisa antes de entrar em palco…
Não há truques para contornar ou minimizar essa ansiedade?
Eu não conheço nenhum. Há quem faça mezinhas… [risos]
O Zeca Afonso, contou-me o irmão, costumava beber um cálice de vinho do Porto.
Ah, sim. E a Amália uma flûte de champanhe.
Mas parece que o Zeca Afonso a certa altura andava também com um bocadinho de bacalhau seco no bolso, para ir mascando…
O Zeca?
Foi o irmão dele que me contou. Era uma maneira de ir aliviando o stresse.
Ainda convivi um bocado com o Zeca. Infelizmente foi muito pouco tempo. Conheci-o antes do 25 de Abril, tinha ele acabado de sair da prisão. Foi numa festa em minha casa, portanto era fumo, álcool… Só que a casa tinha uma varanda, e ele esteve sempre na varanda. E dizia-me: ‘Desculpa lá…’.
Esteve sempre na varanda por timidez?
Não, porque o fumo o incomodava. E o barulho. Gostava muito dele.
Achei surpreendente, porque me tinham dito que a sua agenda estava muito preenchida e as coisas muito aceleradas…
Neste momento? Super-preenchida.
Mas depois cheguei aqui e encontrei um ambiente muito distendido, muito protegido desse burburinho.
Sim, mas isso é aqui em casa. Tenho feito várias colaborações com outros artistas, e brevemente terei mais. Essas participações distraem-me bastante porque queria estar a escrever a tempo inteiro as canções que me faltam para fazer um disco novo. Quando a participação implica aprender músicas dos outros com quem vou participar – estou a falar da Joana Alegre, num tributo ao Manuel Alegre, e do Carlos do Carmo. Escrevi uma música para o Carlos do Carmo que ele gravou neste último disco e vou tocá-la nestas 70 Voltas. Querem pôr-me a cantar [imita, mas sem se esforçar muito, o timbre de Carlos do Carmo] ‘Sou um homem na cidade’. Tenho que estudar a música e vai dar trabalho.
Não se pode improvisar?
Pode. E é isso que eu vou fazer. Porque eu não canto como o Carlos do Carmo, não tenho esse virtuosismo.
Portanto queria era estar a escrever a tempo inteiro, mas tem de responder a várias solicitações…
Isto é um bocado ridículo, porque tive todo o tempo do mundo, no ano passado, quando isto fechou. Mas pus-me a ver os canais de notícias, a CNN, a Sky News, os canais italianos, os canais franceses. Podia ter aproveitado para escrever ou para ler mais… Mas não foi, pronto, foi assim.
Isso faz-me lembrar quando tinha um teste e ia estudar na véspera e pensava: ‘Quem me dera ter tido mais tempo’.
Isso aconteceu-me tanto no liceu! Se há uma data limite, tem de ser, e faço. Se não tiver esse compromisso, vou deixando andar. Idiossincrasias…
Quais são as condições ideais para si para criar?
O espaço da noite é mais propício a que uma pessoa se concentre. Não há interferências, às quatro da manhã ninguém te telefona e não há coisas para fazer lá fora. Portanto o meu espaço predileto para escrever, para compor, é à noite. De resto, já escrevi muitas canções durante o dia em esplanadas, gosto de escrever nos comboios. Mas é conforme calha. Eu não tenho um método. Posso escrever o texto numa hora ou dias, e já estou a imaginar pelo menos o ambiente [da música] e muitas vezes já melodias, harmonias. Outras vezes é o contrário: tenho uma música, começo a gostar dela, e falta-me a letra. Pode sair num dia ou dois, mas também pode demorar meses. Sou melhor a musicar poemas, textos já escritos, ao contrário do Sérgio Godinho, que é fantástico a encaixar as letras na música.
Mas à noite, se tem ideia de uma música, não pode chegar ao piano e testá-la…
Posso.
Toca com headphones?
Tenho um piano de cauda e outro de parede. Desde há 18 anos, que é há quanto tempo vivo nesta casa, às vezes às cinco da manhã estou a tocar. Também não estou a tocar fortissimo. Mas sim, toco, devagarinho, suave. Nunca ninguém me chateou. Pelo contrário. Quando os meus vizinhos me encontram na rua: ‘Então? Nunca mais ouvimos tocar à noite’. E na casa onde vivi quase vinte anos também não havia problemas. Antes disso, quando me emancipei, aí sim, tive de mudar muitas vezes de casa precisamente por causa do ruído.
Os vizinhos protestavam?
Vivi no Príncipe Real, vivi na Parede, no Guincho – aí não havia problema – mas percorri várias casas em que os vizinhos faziam abaixo-assinados. Não era só tocar, era ouvir música em altos berros.
E as festas, também?
E as festas. Trinta pessoas, tudo… [dá uma pequena gargalhada] Uma vez na casa que era do meu pai, no Bairro das Colónias [Arroios, Lisboa], uma noite em que estavam lá vinte e tal pessoas – uma delas era o Zé Carlos Ary dos Santos, na fase em que andávamos sempre juntos –, às duas, três da manhã, veio o vizinho de baixo: ‘Olhe que eu sou militar… Vocês vão baixar o ruído, não vão?’.
Era uma ameaça?
‘É que eu tenho granadas em casa’. [risos] Ele de pijama e eu a dizer: ‘Ok, a gente vai fazer menos barulho’. Nunca mais o vi. E ainda vivi nessa casa mais um ano e meio.
O piano é um instrumento que associamos muito ao menino bem comportado que toca piano e fala francês, e os pais querem muito que ele aprenda. No seu caso foi assim que começou a tocar, para agradar a alguém?
Não, nada. Foi um processo natural porque o quarto onde nasci tinha um piano. E eu comecei a subir para o banco e a brincar com as 88 notas. Isto passou-se desde bebé, com dois anos. Até que pessoas da família e amigos disseram à minha mãe: ‘O puto tem jeito. Devias pô-lo a ter aulas’. E assim foi. A partir dos seis anos comecei a ter aulas de música, e a partir dos oito tive uma professora particular, Fernanda Chichorro, que me deu aulas até aos 14 anos. Aos 14 anos, no Liceu Camões, começo a portar-me mal, a faltar às aulas e a escolher as más companhias – tenho jeito para isso. E virei para o rock n’roll. E marimbei no Schubert e no Beethoven, no Chopin… O ambiente do Conservatório, onde eu fazia exames e audições, e a própria casa da minha professora, era tudo muito… quase palaciano.
Precisava de outra energia?
Começo a ouvir Beatles e Rolling Stones e ‘com licença, isto é que eu quero’. Uma pessoa com 14 anos tem que abrir, e foi o que eu fiz. E quando, depois de muitas milhas, aos 33 anos retomei os estudos de piano, aí já fui eu a decidir. ‘Tenho que reciclar, tenho que fazer alguma coisa para reunir o conhecimento que tenho, ter uma coluna vertebral’. Aliás tive duas: uma foi a história e a outra foi a música. A partir dos 33 e até aos 40, fiz o curso superior de piano com todas as cadeiras associadas – acústica, composição, formação musical, sei lá. E foi muito bom.
Sempre pensei que com essa idade já seria demasiado tarde…
Para mim não foi. Tive aulas de piano com a Olga Prats, por exemplo, e tive excelentes professores, como o Miguel Henriques. É um excelente pianista e um professor duro, escola russa…
Disciplinador?
Eu já tinha a idade que tinha, e há uma manhã, no ano em que fiz 40, em que ele diz: ‘Menino, eu não estou aqui para te aturar. Ou fazes este ano ou então arranjas outro professor’. De repente estávamos em fevereiro, com exames em junho, e aí sim, trabalhei muito.
Teve que penar?
Tive que penar. E ouvir muitas interpretações, desde Maria João Pires ao Arturo Benedetti Michelangeli, aí trabalhei muitas horas por dia. Fiz os exames e passei com uma média porreira.
Esse percurso não devia encaixar nada naqueles parâmetros do conservatório.
Nessa década, que é a década de 80, gravei seis discos de originais, e já tinha concertos – não se compara com o dia de hoje, mas tinha os meus concertos, a minha banda e essas coisas. Mas caprichei, sobretudo porque gostei muito. Gosto de aprender, tenho muita curiosidade, gosto de descobrir coisas, todos os dias aprendo alguma coisa nova, e apanhei uma época de ouro do Conservatório. O piano, o instrumento, é uma aula individual. Mas havia cadeiras como história da música, acústica, composição. Fui aluno do Jorge Peixinho, por exemplo, e quando às vezes não ia a uma aula dessas de grupo, os meus colegas, que tinham metade da minha idade, passavam-me os apontamentos, aquilo que se faz no liceu. E adorei. Foram tempos fantásticos. E dá-me jeito o que aprendi. Mas nunca poderia ter seguido uma carreira de solista. Para ser solista tens de ser muito bom.
E dedicação absoluta.
Horas e horas diárias. Não tenho feitio para isso. Não, não, não…. Quero liberdade.
Essas aulas de composição… Pode-se aprender algumas técnicas, mas imagino que não seja assim que uma pessoa se torna compositor.
Também não acredito nisso. Acontece que aprende-se sempre alguma coisa. Lembro-me do Jorge Peixinho ou da Maria de Lourdes Martins dizerem: ‘Agora pega num poema de Camões e musica como se vivesses no século XVIII’, estilo Mozart. E um gajo ia para casa e tentava escrever uma mini-sonata como se fosse o Haydn. Normalmente o resultado era horrível.
[risos]
Não, não se ensina ninguém a ser compositor ou escritor, a pessoa tem que ter o mínimo de talento, tem que ser minimamente dotada e virada para ali. Depois isto engloba as condições de vida, as possibilidades que cada um tem. Há muita gente que não chega a descobrir que podia ser um grande escritor ou um grande músico, ou um grande pintor, porque a vida não lho permitiu. Eu tive essa sorte. Tive sobretudo uma mãe que me incentivou. O sonho da minha mãe era ver-me a tocar no CCB com uma casaca a tocar Liszt.
Falou daquele período em que fez seis discos de originais numa década. Nunca teve o receio de que a criatividade se esgotasse, de chegar um dia em que não ia conseguir fazer uma música tão boa como as anteriores?
Isso não me preocupa. O ‘Encosta-te a Mim’ é uma canção que nem ia incluir no disco. Achava banal. E amigos meus músicos – e não só – diziam-me: ‘Tens que meter isto, é uma ótima canção’. E foi o que foi. De facto o maior êxito que tive nos últimos anos.
Acontecem muito esses sucessos inesperados?
São sempre inesperados. Acho que ninguém tem – se calhar nalgumas áreas têm – uma fórmula de escrever que sabe que as pessoas vão reagir de uma certa maneira. No meu caso não sei. E ao longo dos álbuns todos faço previsões, para mim próprio – ‘acho que esta vai…’ – e sai redondamente ao contrário.
Às vezes deve sentir que há músicas muito boas que são injustiçadas, não?
Sim, mas rapidamente perdi aquele sentimento de infelicidade, de pena. É o que é. Há de haver alguma coisa na canção que leva as pessoas a virarem-se para ali. O que tenho de fazer é escrever de forma que eu goste até ao fim da minha vida. E é isso que tenho feito. Com cuidado: quando considero que a canção está acabada tem que estar acima de uma fasquia relativamente alta.
O que significa que há muita coisa que não aproveita?
Faço muita coisa que vai para o lixo. Muito, muito lixo.
E acontece estar ao piano a brincar e sair uma coisa muito boa que depois se perde porque não agarrou na altura?
Normalmente quando pego, seja um texto ou um excerto, um segmento de palavras ou um segmento de música, se acho que tem pernas para andar começo a desenvolver e ao fim de algum tempo já está num ponto aceitável.
E há músicas que lhe aparecem quase acabadas?
Acontece muito. Textos que escrevo e… posso mudar uma vírgula ou uma palavra, mas é isto. E muitas vezes parece que a música já cá está dentro para ‘vestir’ esse texto. Se estou, como dizias, ‘a brincar’ ao piano e começo a ver: ‘Espera aí, isto é engraçado’, aí ou escrevo, ou gravo no dictafone, ou então esqueço. E há outra situação comum, que é naquele momento em que estás quase a adormecer – ainda não estás a dormir – ouves uma coisa fantástica e tens de decidir: ‘Ou me levanto agora e vou escrever isto, para guardar, mas se fizer isso interrompo aquilo que estou a ouvir cá dentro’. E a preguiça tem aqui um papel muito importante, portanto muitas vezes o que penso é: ‘Ok, vou continuar a ouvir isto e amanhã lembro-me’. Amanhã não lembras porra nenhuma. [risos]
Nunca conseguiu passar uma música dessas cá para fora?
Aí dá jeito saber música, porque registo mentalmente, numa pauta aqui dentro da cabeça, o essencial: a harmonia, a nota em que começa a melodia… Quando se faz isso, funciona.
E há momentos em que se sente mais inspirado ou não há inspiração, só ‘transpiração’, trabalho?
Há momentos em que as coisas se propiciam. Em que consegues produzir mais e melhor, ficar entusiasmado. Há momentos desses, em que me sinto mais inspirado. Isso tem a ver com tudo o que nos rodeia.
São estímulos exteriores ou vem de dentro?
Não sei responder a isso. Vem de dentro mas o dentro absorve o que vem de fora. Não sei, vou seguindo este processo que é natural, de não me preocupar. Neste momento não gravo um disco há dez anos. E sinto necessidade – não é económica porque continuo a ter imensos concertos – de ir a estúdio. ‘Vamos lá experimentar isto. Secção rítmica, percussões, como é que vão fazer? Saxofones, flautas, trompetes, violinos’. Tenho saudades disso. No mês de janeiro, tenho dois ou três concertos marcados, mas vou estar em estúdio com o meu amigo Mário Barreiros, que já me produziu um disco em 2004, que se chama Norte. Estou com pica, estou com vontade.
Ainda sobre a sua relação com a música clássica: outro dia estava a ouvir aquele início da ‘Estrela do Mar’ e pensei: ‘Isto parece-me Debussy…’. Vi bem?
Quando escrevi essa canção já tinha retomado os estudos [de piano] e estava a ouvir particularmente música clássica. E estava a estudar pelo menos uma peça de Debussy, um prelúdio. E isso nota-se. A ‘Estrela do Mar’ foi composta à guitarra, meia dúzia de acordes e depois uma valsinha… mas o Debussy já andava aqui dentro… e o Ravel e o Manuel de Falla. Estava tudo aqui. Então fiz aquele que é o meu melhor arranjo pianístico, até agora. E com um grau de dificuldade técnica já bastante razoável.
Se não tivesse feito o curso de piano não teria conseguido fazer aquilo?
Não teria feito. Como outras coisas. No exame final de piano toquei estudos de Chopin, prelúdios e fugas de Bach, um concerto de Mozart… tudo na cabeça, já não havia partituras.
Como se consegue memorizar? São milhares de notas!
Eu consigo. Julgo que, na altura, tocar sem partitura ainda significava um valor a mais. Agora, com partitura ou sem partitura é o mesmo. Mas eu fiz questão de tocar tudo sem partitura, tudo aqui [aponta para a cabeça]. Toquei uma peça dificílima do Liszt, outra do Scriabin, outra do Rachmaninov, depois acabei o exame e tinha o curso superior de piano. Desde essa altura até agora tenho tido sempre pianos em casa. Uma horinha por dia e tinha mantido os dedos em forma. Mas não. Gravei o álbum Só, em que ainda se nota bastante como estavam os dedos, estava de facto em forma. Um ano depois fui para o rock n’roll outra vez. Uma adolescência tardia! [risos] Foi a altura do Palma’s Gang, com pessoal dos Xutos – o Zé Pedro e o Kalú – e dos Rádio Macau – Alex e Flak – a tocar as minhas canções. Mas rock n’roll mesmo. Agora estou a reestudar. Estou a começar pelo Bach e uma sonata de Beethoven. Porque me dá gozo.
Essa relação tem sido constante ou houve alguma altura em que se fartasse do piano?
Nunca tive esse tipo de sentimento. Virei-me para o grunge e entrei numa onda de noctívago outra vez, boémia… Sex and drugs and rock n’roll. Quer dizer, drogas nem por isso… Mas foram anos em que demos imensos concertos e até há um disco, Palma’s Gang ao Vivo no Johnny Guitar, que era um bar onde eu e os outros compinchas aterrávamos todas as noites. Os anos 90, a partir de 92, foi muito rock n’roll. Essas ondas depois passam.
Ando há anos para lhe fazer esta pergunta.
Eh lá!
Quando eu era miúdo, um amigo falou-me no Só e contou-me uma história que ainda hoje não sei se é verdadeira. ‘O Jorge Palma, quando estava em França, cantava no metro de Paris, passou dificuldades e chegou a dormir ao relento e a ter de se cobrir com terra à noite para se proteger do frio’. Isto é verdade?
Não, isso é filme. São aqueles exageros. Mas pode ter a ver com uma noite em que eu estava a viver em Paris – a tocar na rua, nas esplanadas, no metro – e fui ver um concerto ao pé da Porte de Pantin. Grandes concertos que eu vi aí: Weather Report, Frank Zappa, eu sei lá. O concerto acabou tarde e de repente o metro já não estava a funcionar. Aquilo era muito longe do meu hotel e eu não tinha dinheiro para o táxi. Então eu e mais sete ou oito pessoas, naquelas escadinhas que dão para a entrada do metro, lembro-me de passar uma noite assim, em que havia jornais, cartões…
Para se protegerem?
Sim. Mas isso foi uma noite. Eu não passei dificuldades. Com a guitarra fazia o dinheiro que queria. Podia demorar mais tempo ou menos, mas deu sempre para viver num hotel com casa de banho privativa e comer em bons restaurantes às vezes, ir aos concertos, ao teatro, ao cinema. Nos dias com mais sorte, em cinco horas com a guitarra eu podia fazer 700 francos.
Era imenso dinheiro.
E não tinha compromissos nenhuns, de espécie nenhuma. A pessoa mais próxima, a quem eu estava mais ligado, era a minha mãe. De vez em quando telefonava-lhe, escrevia um postal. De resto, houve um período em que era completamente descomprometido. De manhã podia decidir: ‘Está um tempo porreiro, vou até ao sul de França’. Ou: ‘Vou até à Suíça, a Genebra ou a Zurique’. Conheci músicos de todo o mundo, havia um escocês. ‘Olha lá, queres ir até Copenhaga?’. Ou até Londres. Esses tempos ninguém mos tira.
Para quem vê de fora, um tipo com uma guitarra é quase um trovador.
Sim.
Tem uma certa aura romântica. Na altura sentia isso?
Não estava a pensar se era romântico ou deixava de ser romântico. A verdade é que tinha imenso prazer na incógnita que era o dia seguinte. ‘O que é que vou fazer? Vou ficar por Paris, aquela miúda por acaso é muito gira, também vai ao café onde a gente troca as moedas por notas’… Porque as moedas ao fim de uma hora começam a pesar muito. Ou seja, a vida passava muito por namoriscar, essas coisas.
Há coincidências curiosas. A próxima pergunta tinha precisamente a ver com essa incógnita do dia seguinte. No ‘Deixa-me rir’ diz: “Há quem viva escondido a vida inteira/ Domingo sabe de cor o que vai dizer…”
… segunda-feira. O meu caso é precisamente o oposto disso.
A imprevisibilidade é importante para a vida ter sabor?
Para mim sempre foi. Não me submeter demasiado às regras e aos comportamentos ditos corretos. Tive sempre uma tendência para a subversão, para meter o pauzinho na engrenagem, como dizia o Zé Mário Branco. A liberdade para mim é andar vestido como me apetece – quero lá saber! –, compor e escrever o que me apetece. Estou-me a marimbar…
Para as convenções?
Os anos 80 foram o exemplo disso. Os tais seis discos.
Já era assim subversivo em miúdo?
Já.
Como é que os seus pais lidavam com isso?
Os meus pais eram separados, eu vivia com a minha mãe. Mais tarde também vivi com o meu pai, já no fim da adolescência, quando fui para a faculdade… Como é que era a pergunta?
Como lidavam os seus pais com a sua rebeldia.
Não sou um rebelde do género de partir tudo. Posso partir a louça mas de uma forma mais discreta. [sorri] E sobretudo não me digam que eu não posso fazer isto. Porque aí vou fazer mesmo – se me apetecer. Os meus pais tiveram de lidar com isso, sobretudo a minha mãe, que me criou até aos 14 anos. Saí da casca de facto quando fui para o liceu. Porque até à quarta classe era bom aluno…
Certinho?
Sim, certinho. Mas era filho único, não tinha irmãos – tinha alguns amigos, colegas – e vivia muito cá dentro, sozinho. Inventava peças de teatro em que eu era os atores todos e o encenador. As coisas mudam quando vou para o Liceu Camões, sobretudo a partir dos 12 anos. Isso coincide com começar a ouvir Beatles e Rolling Stones, e uma grande necessidade de fazer o que me apetecia. Se me apetecer andar descalço por Lisboa inteira ando descalço por Lisboa inteira. E o cabelo… agora já não tenho cabelo para isso, mas às vezes chegava ao meio das costas. [risos] Gostava de chocar as pessoas. Não tanto como o Zé Pedro, com aqueles pregos todos na sua altura punk…
O Steve Jobs dizia que o grande problema de Bill Gates era nunca ter feito uma trip de LSD. Que por isso era uma espécie de burocrata, muito direitinho, a quem faltava uma certa visão e golpe de asa.
Tive a minha dose, o meu período de ácidos está cá, aconteceu.
E teve influência na sua música?
Alguma coisa há de ter feito. Houve um período de um ano e meio em que tomava três, quatro ácidos por semana. Quando o ácido estava a descer, aí era ‘haxe’ ou erva. E depois outro ácido, para voltar a subir.
Subir para
onde?
Pois… é uma boa pergunta. Lembro-me de coisas… uma loucura total. Mas sempre controlado. Só houve uma trip que não estava a correr tão bem. Mas acho que tenho qualquer coisa aqui dentro que me disciplina.
Que não o deixa resvalar?
Não demasiado. Nessa altura havia pessoal em ácido e chutos de coca que se atiravam pelas janelas, pensavam que iam voar.
E aqueles que achavam que se tinham transformado numa laranja e não queriam ser espremidos para fazer sumo. Há histórias dessas.
[risos] Houve uma vez em que comecei a fazer uma viagem ao passado e já era um esqueleto e estava na Pré-História…
Essas viagens, essas experiências, trazem alguma coisa à música?
Com certeza.
Acordes estranhos, por exemplo?
Não, isso pode vir mais da aprendizagem que tive. A pessoa abre uma porta e uma janela e de repente são portas e janelas que nunca mais acabam. Quanto mais conheço, analiso uma peça clássica – quando digo clássica pode ser contemporânea, Ligeti, Luigi Nono, Stockhausen… – essas coisas estão todas cá dentro, fica sempre alguma coisa aqui dentro de cada experiência que temos. Nunca pensei nesses termos de uma viagem ou outra situação qualquer – um susto, um grande prazer, traduzido para acordes. Mas sei criar um ambiente escuro e sei criar um ambiente luminoso, e isso vem com a aprendizagem.
Não transforma uma situação num acorde, não é assim que funciona. Mas não pode haver proximidade entre certas músicas e certos episódios da sua vida? Acontecimentos que dão azo a músicas?
Absolutamente.
‘O Bairro do Amor’, por exemplo, transporta-me sempre para um ambiente triste, pessoas…
Eu não lhe chamaria triste. Talvez um bocado melancólico. Gravei o ‘Bairro do Amor’ em 77, no meu segundo álbum, o Até Já. E depois saiu um álbum, em 89, chamado Bairro do Amor, em que volto a gravar a música, com o Júlio Pereira na guitarra. Na altura havia a série O Barco do Amor, e quando saiu o Bairro do Amor toda a gente dizia: ‘O teu ‘Barco do Amor’ é fixe’. [risos]
Mas a sua música parece que remete para umas pessoas desamparadas…
Transmite essa ideia, sim. Quase um gueto. Quando escrevi essa música – e estou não só a falar da letra, mas dos acordes, da sequência harmónica – estava a ouvir muito Lou Reed. Portanto o ‘Bairro do Amor’ é uma tentativa minha de escrever uma canção como se fosse o Lou Reed. Acho que nunca contei isto a ninguém – e se eu não disser isso ninguém vai associar o ‘Bairro do Amor’ ao Lou Reed. Mas a verdade é que foi o Lou Reed que me inspirou para escrever essa canção, letra e música.
Não foi nenhum lugar concreto?
Não.
[André Sebastião, o manager de Jorge Palma, entra na conversa: “Pensava que a canção estava relacionada com a casa do Guincho”].
A casa do Guincho coincide com um período, felizmente curto, em que eu entrei no chuto. E no grupo que está a chutar – a chutar tudo: morfinas, coca, seja o que for – há sempre um ambiente um bocado mórbido.
Deprimente?
Deprimente. Visto de fora. Mas eu tentei iluminar um bocado o ‘Bairro do Amor’. Mas sim… ‘Será que ainda cá estamos no fim do verão?’.’Cada um tem de tratar das suas nódoas negras sentimentais’. O ‘Bairro do Amor’ tem a ver com ambientes que frequentei.
A propósito da sua aura de rebelde, como vê a medalha de mérito da Câmara, a condecoração…?
Estão ali, juntamente com muitos outros prémios.
O consenso que se gerou em torno da sua música agrada-lhe ou às vezes preferia ‘desmarcar-se’ um bocado disso?
Não me desmarco nem fico deslumbrado. Desde os trinta e tal anos que me habituei, fui recebendo prémios, da Sociedade de Autores, de um jornal que era o Se7e, da Blitz. Tenho dois Globos de Ouro… É bom, mas não penso muito nisso. Se eu pudesse pôr uma placa de comendador no carro e isso me permitisse estacionar onde quiser sem a EMEL me multar, ou andar à velocidade que me apetecesse… isso sim. Ou se houvesse uma renda associada ao prémio, como acontecia há séculos… Assim é motivo de orgulho e um incentivo.
Outro dia quando, o Orçamento chumbou, houve a discussão se a ‘geringonça’ continuava ou morria ali, e acho que foi o António Costa…
Foi o António Costa, foi!
Citou a sua música:“Enquanto houver estrada para andar a gente vai continuar”. Os políticos já se apropriaram da sua música.
Têm todo o direito.
Não o chateia?
Acho graça. Se citam coisas minhas, a par de citações de coisas do Zeca Afonso, do Zé Mário Branco, do Fernando Pessoa… Acho engraçado.
É sinal de que o Jorge Palma já entrou para o cânone.
O Jorge Palma continua a ser o mesmo. Se pegam em certas partes do meu trabalho é porque foram bem apanhadas. Mas isso não me compromete de forma nenhuma em relação ao poder.