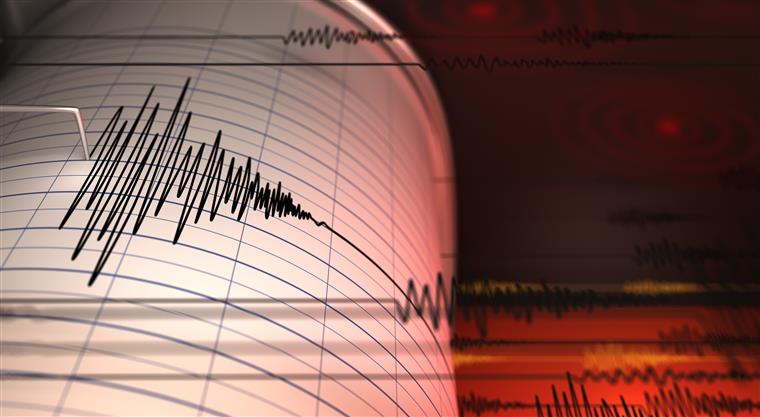Vivemos uma época perigosa, quão perigosa não se sabe ainda, e talvez o melhor seja mesmo não o virmos a saber.
Vivemos uma época perigosa por causas internas.
Vivemos uma época perigosa a nível mundial, europeu e nacional, devido, principalmente, a razões externas, das quais não podemos fugir, nem delas lavar as mãos.
A nível interno, assistimos à propagação e retorno a ideologias já velhas e execráveis, mesmo que revestidas de novas roupagens; ideologias que são, por isso, pelo menos tão perigosas como foram as originais.
Para lhes fazer frente, as forças constitucionais mais centristas oferecem uma receita sem saída.
«Não há alternativa» – insistem em dizer, repetindo sempre mais do mesmo, como se não tivesse sido por tal razão que chegámos onde chegámos: antever um futuro pior do que o presente.
De outro lado, as forças mais empenhadamente ativas na busca de uma sociedade mais justa, desenvolvem, agora, pequenas frentes de resistência construídas em torno, sobretudo, de objetivos sindicais e, em alguns casos, mesmo, em torno da defesa de antigas, mas, no contexto atual, justificadas barreiras corporativas.
Tais frentes, porém, mesmo quando absolutamente necessárias para salvaguardar o que resta de direitos consagrados para assegurar uma vida digna, são, pela sua natureza limitada, verdadeiramente, incapazes de, por si sós, oferecerem uma perspetiva de futuro viável e próximo para todos.
São necessárias, mas são limitadas e, por isso, igualmente frustrantes, pois não alargam horizontes e apenas preservam, quando o conseguem, o mínimo de dignidade humana ou profissional para os que por tais frentes são abrangidos.
São necessárias e devemos-lhe – e aos que incansavelmente as escoram – o que sobra de uma sociedade com direitos e não, apenas, à mercê de esmolas e prebendas.
Contudo, sobre tais conflitos parcelares não se pode erguer um projeto de casa comum que sirva de abrigo e conforto efetivo para todos.
O principal obstáculo para vencer a investida das forças do ódio, da guerra, do racismo e de todos os tipos de supremacistas que se investiram em guardiões da chamada cultura ocidental – seja ela de inspiração americana, europeia ou mesmo das diversas culturas que se reclamam de uma visão ocidentalista – é a assumida incapacidade dos democratas para sonharem e proporem, com acuidade e entusiasmo, uma outra sociedade: uma sociedade que tenha o bem comum como objetivo próximo e, mais ainda, realizável no tempo de vida das gerações que hoje vivem e viverão amanhã.
Esta outra sociedade não tem de inspirar-se e de copiar modelo algum, nem de responder pelos outrora existentes.
Os paradigmas que existiram, num lado e no outro do muro de Berlim, ruíram ambos como qualquer contraforte que apenas se ampara no equilíbrio e na força do que está no outro lado.
Derrubado um, o outro rapidamente se pulveriza, também.
Esta outra sociedade nova tem necessariamente de começar, com rigor e visível empenho, a criar Justiça.
Primeiro para os que mais dela necessitam e, logo, para todos.
Para viverem em harmonia, todos carecem de uma justiça e de uma mesma gramática e não de mundos opostos em que o significado das palavras como, por exemplo, solidariedade, direitos, bem comum não exprimam, sempre e em qualquer situação, a mesma realidade.
Palavras que não sirvam apenas para atirar como pedras a uns e perfumar, como ungidos, a outros.
Começando devagar, mas com firmeza e rigor, é possível, já hoje, desenhar um projeto de sociedade que tenha em conta a realidade atual e, por isso, seja percetível e apetecido por quase todos: ainda vamos a tempo.
Dar vida a uma outra sociedade menos individualista e mais justa é o que nos deveria mover.
Não há, com efeito, qualquer tipo de sonho, de justiça e felicidade sem o projeto e a edificação das bases de uma sociedade mais solidária, que permita que os sacrifícios de hoje possam ser pagos com juros aos filhos do que atualmente os sofrem.
Ora, sem sonho – e, como dizia o poeta, o sonho comanda vida – o que resta é uma sociedade em que cada um trata apenas de si e dos seus.
Quando mesmo isso deixa de poder acontecer, quando vendo o futuro ele se revela ainda pior do que o presente, só resta a vingança dos que não conseguem consumar (consumir) com dignidade a sua vida e a dos seus.
Por isso, sem rumo nem farol, apoiam os que, de dedo em riste, para despistarem responsabilidades próprias, lhes apontam os supostos culpados pelo seu infortúnio, sejam eles o cigano, o judeu, o islamita, o russo, o chinês, o coreano, o indiano, o africano, o latino-americano.
Há sempre, dizem-lhes, um outro diferente de nós – um não ocidental – que olha com inveja para a nossa, muito nossa, maneira de pensar e de viver.
Outro e diferente que, querendo, sem dúvida, o que nós já temos e queremos manter, não pretende necessariamente ser como nós: nele e na sua diferença, reside o inimigo óbvio dos desesperados a quem não é permitido ter sonhos.
São, todavia, eles, os diferentes, quem, pertencendo à maioria – não ocidental – da humanidade, começaram a ver, nas televisões globais e nas irrestritas redes sociais, a imagem, mesmo que embusteira, da nossa suposta sociedade glamorosa.
Claro que não veem os exércitos de sem abrigo – muitos deles ocidentais – que começam a criar raízes profundas nas cidades mais populosas da Europa e, mais abundantes ainda, nas dos EUA.
Claro que não entendem – e quem entende? – as indignadas e contraditórias elocuções sobre direitos humanos, quando estes são violados pelos inimigos do Ocidente, e apenas escutam um eloquente e pesado silêncio cúmplice, quando tais violações, as mesmas violações, são praticadas pelos ocidentais ou os seus aliados no mundo que habitam e dominam.
Claro que não percebem como a paz, que os ocidentais sempre reivindicam, só é boa quando os favorece e resulta de uma guerra que estes ganharam, instrumentalizando e esmagando tudo e todos, e é má se, de algum modo, o glorioso Ocidente não retirou de tal guerra qualquer vantagem própria e digna de se ver: nem que seja o lucro no comércio de armas.
Claro que não entendem como a paz, que uns e outros reclamam, não pode ter o mesmo significado para todos e, por isso, a todos reconciliar e satisfazer na mesma medida.
Claro que não entendem como o conceito de invasão de uma nação é lido, à luz do Direito Internacional, de uma maneira para uns e de outra, para outros, os não ocidentais.
Claro que não entendem a indignação ocidental por um Mandado de Detenção Internacional não ter sido cumprido num país subscritor do tratado que instituiu o TPI e, quase em simultâneo, veem como quase todos, no Ocidente, assobiaram para o lado quando um seu amigo, alvo de idêntico mandado, se passeou impoluto na sede da ONU, em Nova York, em que tal Tribunal institucionalmente se inscreve.
Claro que estranham qual a razão pela qual as regras do livre comércio puderam, durante anos, beneficiar o Ocidente e agora, quando começam vagamente a ajudar, também, quem a ele não pertence, tal liberdade passou a ser vista como agressiva e perturbadora da ordem natural das coisas, por quem a inventou, a impôs e dela beneficiou largamente.
Claro que os ofende pensar que tendo lutado, inspirados nos valores da liberdade de opinião e expressão, de que o Ocidente se podia louvar de ter inventado e praticado, são agora proibidos de manifestar e exibir o seu pensamento sobre o estado do mundo, só por ele não coincidir, exatamente, com as mensagens ditadas aos mass media ocidentais, pelos que, de muitas maneiras, nessa parte do mundo, governam.
É, pois, claro que um tal ser diferente, tão diferente de nós, constitui uma ameaça.
Uma ameaça se, e sempre que, ele pretender ser como nós, precisamente no que respeita ao gozo dos direitos e aos sonhos que, antes de os termos metido na gaveta, lhe fizemos acreditar terem sido pensados para todos.