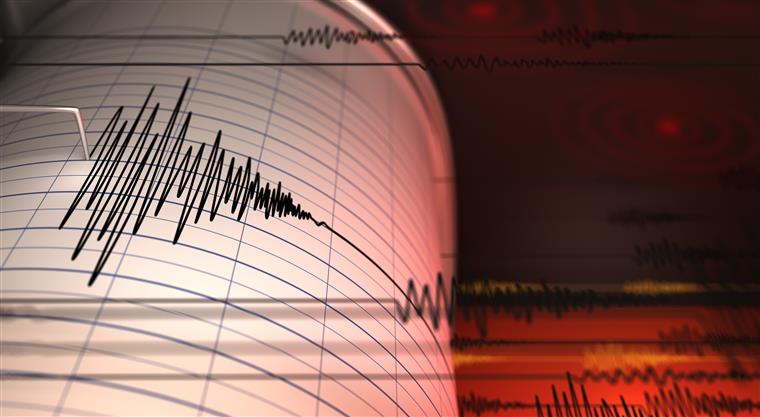Trump cunhou a crítica às “forever wars”, promete não começar nenhuma nova e acabar com aqueles dois conflitos ainda antes de tomar posse. Harris tenta uma espargata difícil entre o apoio incondicional a Israel e uma suave defesa dos palestinianos, ao mesmo tempo que acusa Trump de derrotismo face a Putin. No fundo espera que os eleitores muçulmanos não a façam perder no Michigan (um dos Swing States) e que os eleitores com raízes polacas e ucranianas compensem aquela perda de votos.
O Presidente em exercício continua a enviar os membros da sua Administração para as tournées de apoio a Kiev e de negociação de uma paz no Médio Oriente que Netanyahu e o Hamas boicotam com alacridade.
Os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente são distracções que Washington dispensaria face às dificuldades sentidas na deterrence da China e que são absolutamente indesejáveis durante uma campanha eleitoral centrada na política interna (inflação, imigração, aborto, tensão entre os direitos dos Estados federados e os poderes da Administração federal,…).
No passado os EUA escolheram as guerras em que se envolveram, não necessariamente o grau de envolvimento e, durante a guerra fria, menos ainda o termo desse envolvimento. A sucessão de intervenções militares malogradas no estrangeiro (Vietname, Iraque, Afeganistão,…) tem levado Washington a apostar cada vez mais em guerras por procuração. No conflito com o Irão esta opção está bilateralizada: Teerão apoio Hamas, Hezbolah e Houthis contra Israel, Washington usa Israel e a Arábia Saudita como proxies no ataque a Teerão. No momento presente Netanyahu está, passo a passo, a atrair os EUA para um apoio activo a um conflito regional aberto, incluindo o Líbano e talvez o Irão (os progressos do programa nuclear são uma boa desculpa para um ataque armado em território iraniano). Uma nova invasão do Sul do Líbano não deixará de ter de ser apoiada por Biden e Harris e aplaudida por Trump. Mas, se tal acontecer, Harris perderá um dos Swing States e, se calhar, as eleições. Este cálculo não é estranho ao Primeiro Ministro israelita, parte interessada num regresso de Trump à Casa Branca.
Nesta semana a visita de Zelensky a Washington (reuniões em separado com Biden, Harris e Trump), a Nova Iorque (Assembleia Geral e Conselho de Segurança da ONU) e à Pensilvânia (um dos Swing Sates vítima da desindustrialização e onde esteve numa fábrica de obuses) para captar apoios para o seu “Plano para a Vitória” tem um único propósito: obter mais armas e munições e a autorização para as utilizar de forma ofensiva no território da Federação Russa. Se for bem sucedido, Moscovo terá de escalar o conflito na Europa de Leste. Face ao esgotamento dos militares e à ineficácia das armas convencionais russas, a passagem às armas nucleares tácticas é uma opção real. Quem quer que já tenha participado em simulações de guerras entre as forças da NATO e da Federação Russa conhece a facilidade com que se pode passar do uso das armas nucleares tácticas às armas nucleares estratégicas.
O fim de mandato de Biden está a ser aproveitado por Netanyahu e Zelensky para prosseguirem estratégias de sobrevivência política que não são necessariamente do interesse dos EUA. A campanha eleitoral transformou os EUA no parceiro fraco das alianças com Israel e a Ucrânia.