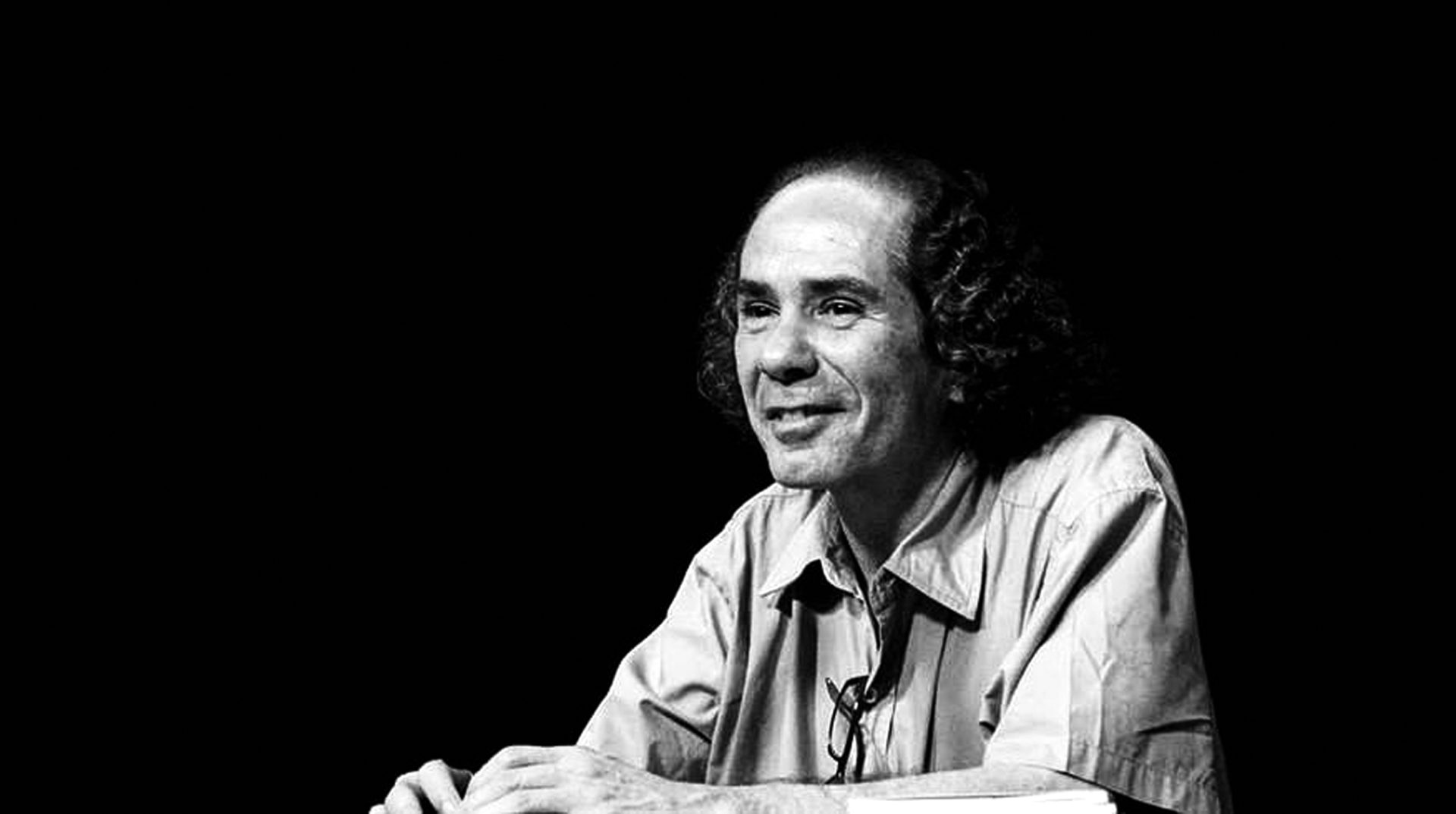A poesia pode bem ser a expressão de airosos mitómanos, de uns raros meliantes sentimentais, seres sensíveis perpetuamente rejeitados e que se vingam num enamoramento pela expansão desses detalhes com os quais se traça desde muito cedo uma estratégia improvável e tanto mais aliciante por isso mesmo. Isto perante uma sociedade alimentada por uma histeria alucinogénia, sujeita a um fluxo esgotante de imagens e outros tantos estímulos que tornam a própria superfície da realidade algo cruenta. Uma sociedade que descrê de tudo o que não seja ministrado pelo frenesi mediático, através de uma linguagem cada vez mais vigiada e que funciona mais como uma dieta que promove a indolência da imaginação. E nisto cada vez mais vemos a época ser servida precisamente do tipo de porcarias que foi pedindo, e, culturalmente, aconteceu a pior coisa que se podia imaginar: esta deu-se por satisfeita. Hoje nem se entende já essa forma de aristocracia que se ergue da miséria, de quem tendo a vida muito rente à indigência, vai criando a golpes de fantasia esse arroubo de uma luz que faz as coisas tresvariar, que lhes torna a sombra um devaneio mais ardente do que a luz do astro com mais influência sobre nós.
É preciso remontar a eras de que só restam alguns estranhos seres deslocados, a esses tempos já distantes em que a escrita era um acto primordial, a maneira mais nobre e eficaz de apreender o homem na sua globalidade. “A Literatura recusava-se a ser apenas uma arte de deleitação, e nem supunha que pudesse vir a ser o que é hoje, um passatempo para sufragistas, uma maneira de se dar ares”, lembra Jean Forton, elencando alguns escritores que exaravam as actas das suas investigações místicas, entrando na literatura como se entra na religião, humildemente, atrozmente por vezes. É preciso uma certa exasperação para se chegar a construir um argumento que force uma vida inteira a medir-se com as grandes provas do espírito. Há um gesto de convicção atormentada e arrebatada que bate de frente com essa atitude que hoje caracteriza tantos dos que vêm a chinelar para a poesia, uma atitude que faz passar por desassombro o simples desinteresse e a fatuidade do que publicam, não assumindo quaisquer dívidas. Zetho não é outra coisa senão um dos poetas mais endividados desta língua, e, por isso, naturalmente, um dos que mais ilustra essa forma de maturidade que é a assimilação dos melhores traços dos seus ancestrais. “Os meus mortos deram-me versos, assombros – um rio/ acampado na memória./ (Os pássaros tomam o ar do seu canto – vento,/ vento espantado.)”.
A “escandalosa doçura” dos seus versos deve-se a esta capacidade de pôr o tempo a ferver, e é um testemunho desses grandes arcos que só a poesia permite traçar, precisamente por se basear em fórmulas estruturantes, ritmos que se alargam numa fome de infinito: “A abelha entrou no mel matei a abelha comi o mel, comi a abelha – disse./ O enxame interior da cera”. E, no entanto, os ancestrais de Zetho não são necessariamente os gregos da praxe, pois como assinalou José Carlos Pereira, outras tradições, e nomeadamente as orais, essas que esquecem os altos perfis e tomam antes os exemplos, também essas têm os seus gregos… Esta é uma escrita da mestiçagem, entre as tradições orais africanas e a influência das vanguardas modernistas, estabelecendo uma vasta cadeia alimentar de elos que se reactualizam constantemente. O que importa é o gozo exultante de quem se entrega ao ofício poético como arte primordial da linguagem e nomeia as coisas de modo a deter sobre elas um poder e alcançar esse conhecimento que, em si mesmo, transforma este mundo de mundos a que chamamos o real. “Era pela raiz que as coisas pensavam/ a exacta palavra de seus nomes”, escreve o poeta. “Porque daqui se levantará/ todo o horizonte, nasces – a Terra toda/ em alfabetos, assombros,/ degraus”…“e cresço/ para um lugar de epopeia/ onde o sangue fermenta/ sobre uma terra inebriada de caminhos e versos”
Os melhores poetas entendem a linguagem não como um processo linguístico mas como um elemento vivo, diz-nos Derek Walcott. E se o medo da imitação é uma obsessão dos poetas menores, se a larga maioria dos poetas, hoje, vive numa obsessão da originalidade, Zetho Cunha Gonçalves parece-se mais com um caçador e recolector de assombros, um homem com a cabeça mergulhada nas águas sibilinas da tradição. Prefere ser uma espécie de anfitrião, alguém que reúne à mesma mesa uma relação espantosa de vozes e saberes que cantam uns para dentro dos outros, da tradição oral e popular aos aspectos mais significativos da cultura erudita. “Toda a beleza se canibaliza aqui,/ e canta”. Vemo-nos perante um corpo que se ergue “tatuado – e longo,/ de prodígios e ancestrais”, destaca-se nas páginas desta antologia “uma caligrafia antiga – a tinta/ permanentemente cinzelada”, entre colagens subtilíssimas, frequentações, “dessedentações,/ fronteiras, abluções, travessias –/ a todo o comprimento da infância sobre o rio.” Há uma memória imaginosa e resplandecente nesta obra que não se circunscreve às experiências pessoais de um sujeito, mas que se concatenam para nos levar a intuir o ritmo de uma outra vida, um génio comum que comparece aqui, bebendo no canto dos ancestrais, nas oraturas e balançando-se com um impulso de um vigor que realmente nos transtorna, por essa perpetuação sagaz que é, afinal, a única verdadeira tradição, aquele “aroma sábio”, regido segundo “astros caligráficos” que logo nos fazem bocejar diante das categorias epocais e das escolas ou modas que agradam “ao jornalismo primário e aos fazedores de manuais” (JMM).
Num prefácio de uma linha que abre um dos livros da antologia, aquele cujo título abrange agora toda a sua produção poética – “Noite Vertical” –, Zetho faz questão de vincar que “a poesia é uma coisa demasiado importante para se confundir com literatura”. E o seu caso é um desses muito raros entre nós em que isto não soa a mera estridência enfática, ao discurso afectado desses que gostam de se fazer representar aureolados e como líderes de seitas, sempre extorquindo a admiração de todos aqueles sobre quem podem exercer algum poder. Zetho é olhado com um indisfarçável desdém por muitos destes figurões, até pelos que se passeiam a exibir supostas mordidas de pulgas e falam de si mesmos como de poetas malditos, e, no entanto, ele sim aceitou ter a vida feita num oito, muito literalmente desgraçada, mas sempre em nome do seu compromisso com a poesia, enquanto relação apaixonada num regime cultural que, na verdade, detesta e condena à miséria quem não acate a fantochada e os ludíbrios que lhe permitem depois vestir-se das peles que ele mesmo esfolou.
Em tempos, o antigo editor da Assírio & Alvim, Manuel Hermínio Monteiro, havia já denunciado este soberbo complot, notando que “o mais caricato é que durante anos as selectas literárias e outros manuais escolares e uma certa crítica professoral bem instalada promoveram as desgraças do escritor como uma componente do talento, como se a ressurreição e a glória fossem justificadas pelo pathos e pela segregação por onde o escritor obrigatoriamente teria de passar”. E logo acrescentava: “É o mito do escritor ou do artista desgraçados, como se a tragédia lhes aguçasse o engenho, não faltando quem estrategicamente proponha bolsas de fome como estímulo da criatividade. Habituou-se assim este país a tomar as lágrimas e a infelicidade de muitos Camões para bebê-las placidamente em pátrias liturgias.”
Zetho mantém-se sem sorte nenhuma em relação aos habituais subsídios de inserção cativados sempre pelos mesmos e para os mesmos, sendo que alguns chegam a tirar licença da academia para usufruir de bolsas de criação, faltando-lhes depois aquele talento que vem de se não viver no beija-mão, esses que versejam com vista a produzir um efeito, um prestígio que influa positivamente nas hierarquias do poder e do dinheiro. Ao contrário desses, Zetho virou-se sempre para a poesia acabando por reconhecer como esta foi e é “a mais constante, irreverente, implacável e generosa de todas as Amantes que alguma vez me foi dado ter”. E não há dúvida de que o enlevo amoroso viu recortados na sua obra versos dos mais encantados que se têm lido entre nós, quase sempre de poetas que vivem daquela juventude expandida para lá do limite de idade. Eis um exemplo: “Uma fábula envolve o aroma do seu corpo/ – e o seu corpo deambula no encanto dos excessos,/ festa itinerante sobre um palco imóvel.” E mais outro entre os tantos que se podem colher nas páginas da antologia: “O corpo/ deitado e nu/ da bem-amada// inunda a Terra/ de leveza/ – e dança.”
A infância alarga-se como o espanto nesta obra, e repare-se no fulgor destas transmudações: “Os barris de vinho/ cortados ao meio// – selhas// onde crescem/ as açucenas”. Colega dos tempos de escola de autores como Manoel de Barros ou Gary Snyder, miúdos desses que “crescem a encantar os horizontes”, que assumem as alturas maiores das árvores e as mais atentas, de formigas, metendo-se pelas intimidades da Terra “enlouquecidos e roucos” a tomar o pulso e apreender a telúrica composição em que tudo se enche de bichos chamados de ouvido à doçura e a esse pavor harmonioso dos frutos que tremem com esse “passo de pássaro” que articula por dentro estes versos, escolares pela muita disciplina que há neles, pelo assombro mudo e imundo da vida quando tomada por essa relação própria da música: “Lembra-me uma coisa/ muito antiga, onde ninguém toca,/ com receio de quebrar o encanto do ar.”
M.S. Lourenço diz-nos que o homem da Idade Moderna está alienado da essência do mundo e da sua própria por ter perdido a consciência de ter sido vítima de um segundo pecado original, o qual consistiu na desvalorização do mundo do ouvido. “Mas sucede que a percepção visual é menos rigorosa e menos fiável do que a percepção auditiva, e que o ouvido é o órgão de percepção mais rigoroso: e assim a consciência (mesmo parcial) desta catástrofe cria o desejo do regresso ao que Walter Pater chama ‘condição de Música’.”
Esta é uma poesia enquanto funda e sublime relação sonora, uma arte de música “como cordas de vento/ em carne viva”. E o corpo é só o princípio: “As mãos devoram as mãos – devoram/ suas marcas, seus ofícios: alimentam-se/ do refazer esculpido e trabalhado dos corpos,/ do estremecimento abrupto dos sentidos./ As línguas iluminam o sal dulcíssimo da pele:/ como relâmpagos navegando/ alucinados – procuram:/ a secreta e nocturna flor do fogo./ E o ar perfuma-se de nós/ como um bosque das suas árvores atentas.”
Há aqui também uma largura e alcance do olhar, uma elevação que contraria o pequeno tráfico de indisposições, indigestões e dores de dentes que tem caracterizado a mais recente poesia portuguesa: “repara na exuberância das árvores/ onde os pássaros escutam/ – ó intimidade soberana da voz! –/ a tão desejada/ madurez dos frutos”. E não é que as coisas deixem de ser miúdas, não se trata de fazer um grande escarcéu. A receita pode ser bem simples – “ao rés do vento: epopeia breve/ – que o tempo alonga,/ acrescenta,/ rememora”. A poesia é mesmo uma arte que aprende a concertar um ritmo a partir dessa insistência em descobrir como “um nome estremece o mundo”, título de um poema de onde vale a pena ressaltar esta frase: “Intacto, monstruoso, obsessivo, um nome estremece o mundo pelo corpo que devasta – nome, que a voz incendeia: coração exposto, duplamente canibal, a quem o sentido da carne e do sangue – turbulência fatal e movediça –, outro ofício não busca.”
E depois, neste país que o que de melhor tem para oferecer e honrar um poeta ainda vai sendo a forma como dele se esquece, como chega a execrá-lo e premeditar o seu exílio, neste ermo onde a generosidade é tida tantas vezes como uma fraqueza, a não ser quando tudo o que se assenta em tom exaltante procede de cálculo e com vista a fortalecer as intrigas promocionantes dos mesmos, veja-se a longa série de homenagens e os epítetos espantosos de que se serve Zetho para elevar outros, sendo que muitas destas passagens, com igual propriedade, se poderiam aplicar a ele: (Sobre Luís Pignatelli) “Dono e senhor duma tenebrosa solidão, raramente conhecia alguém mais disponível para criar (e alimentar) uma nova Amizade, um novo afecto. Ou para destruí-los pela raiz, queimar todas as pontes e seguir em frente.”; (sobre Eugénio de Andrade) “Sublinhavas o mar obsessivamente (…) o oiro mudável do trigo (…) Soletravas a cambiante matéria dos sonhos, das águas e dos frutos, o pulsar inquieto dos pássaros, a chama de outro corpo (…) O Sol inteiro, teimosamente adolescente, é a tua moral inconteste”…; (sobre Roberto Chichorro) “O pintor, apetrechado por um dicionário de astros e habitantes por haver, lê na pauta dos horizontes os sinais. Um pássaro trabalha meticulosamente a sua voz.”; (sobre Ruy Duarte de Carvalho) “E eu pergunto-me: que bússola de luas e de estrelas, ou de ventos e dunas movediças, te guiará agora com as mãos e os passos, sobre as palavras e a ‘coisa dita’? (…) Bicho da Terra, nómada tremendo e fabuloso, ‘atento, desde sempre, às falas do lugar…’”
Zetho Cunha Gonçalves escreveu o livro de cabeceira para uma noite longuíssima, um rastilho ganhando ritmo e a perfeita entoação, como um pulsar cercante, levando-nos até ao “coração do mundo estremecendo alto, deslumbradamente vivo”. Uma noite para que retomemos o hábito do sonho, a sua constelação de nexos impetuosos, para reinventarmos o juízo que fazemos sobre o mundo – “a noite, como um lençol embriagado e lúcido, acautelando os nossos corpos de estrela a estrela, jubilosamente iluminados e fatais”.