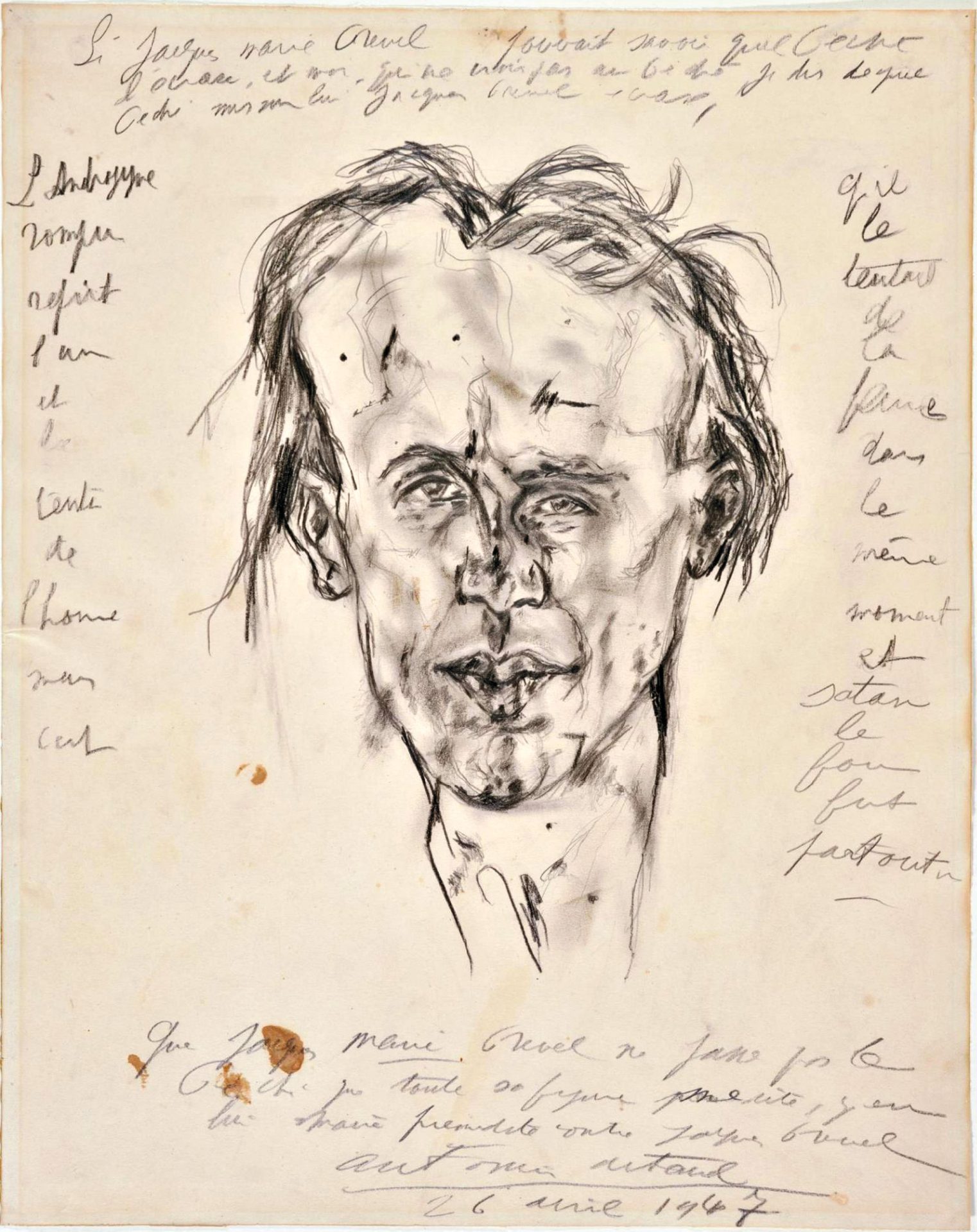O primeiro disco das Fado Bicha, Ocupação, lançado esta sexta-feira, não podia ter um título mais literal. Este trabalho nasceu da vontade de ocupar um espaço no cânone da música portuguesa e no fado enquanto membros da comunidade LGBT. Depois de lhes verem ser negados os direitos de fados que pretendiam gravar para o disco, as músicas acabaram por conferir um tom mais pessoal e confessional que procura terminar o silêncio que tem assombrado esta comunidade.
Ocupação é um trabalho que teve de ser adiado inúmeras vezes antes de ser finalmente lançado. Lembram-se da primeira vez em que pensaram e se desafiaram a lançar este trabalho?
Lila Fadista: Este disco foi algo que se apresentou de uma forma muito natural e orgânica. Temos um percurso um pouco diferente das restantes bandas. Apesar de o Fado Bicha já ter quase cinco anos e de já termos feito cerca de trezentos concertos, ainda não lançámos nenhum álbum. Já temos alguma experiência de palco, que também se traduz num maior à vontade.
Essa confiança também ajudou a sentirem-se mais confortáveis no estúdio?
LF: O estúdio é uma experiência muito diferente do palco e, para mim, é ainda um pouco agridoce. As insatisfações ficam mais ampliadas no estúdio. Mas, com todo este tempo, é difícil apontar um momento exato em que decidimos avançar para o álbum. Algo que aconteceu foi uma constante mudança e evolução do que seria o conceito do álbum.
Será que podia explorar um pouco quais foram esses cenários?
LF: Houve uma altura em que pensámos que faria sentido gravar todas as músicas que temos vindo a cantar desde o início da nossa carreira, mas tornou-se óbvio que isso não seria possível porque, mesmo depois de pedirmos autorização através da SPA aos herdeiros, foi nos negada a hipótese de gravarmos fados de outros músicos, até aqueles que tocávamos ao vivo. Esta sentença fez nos chegar à conclusão de que não iríamos conseguir registar o nosso espólio tal como o tínhamos vindo a desenvolver, por isso, teríamos de fazer algo diferente.
Porque é que acham que esses pedidos foram rejeitados?
João Caçador: Não tenho dúvidas que foi por homofobia. Tenho experiência de tocar em casas de fado e com todos os meus colegas fadistas que gravaram músicas, que é uma prática bastante comum, nunca houve uma rejeição deste estilo. Recebemos algumas explicações em que nos diziam que não queriam ver o nome desses fadistas associado ao Fado Bicha. Essa foi mais uma barreira que tivemos de ultrapassar.
Isso mudou a forma como estavam a pensar organizar o disco?
LF: Para nós era muito estrutural a ideia de apropriarmos este património que já estava feito e que também era nosso, que faz parte da forma como crescemos, aprendemos a ouvir música e nos expressamos, e foi mais uma mensagem simbólica de que não fazemos parte deste mundo. O álbum vem responder a todas essas negas e à nossa vontade de ocupar este património e de contornarmos esse obstáculo.
Houve algum caso em que tiveram de alterar uma música devido a estas barreiras?
JC: Por exemplo, na Crónica do Maxo Discreto. Quando começámos a tocar ao vivo, a melodia da música era da Nem Às Paredes Confesso, da Amália Rodrigues, mas quando fomos gravar disseram-nos que não podíamos. Mas em vez de mandarmos para o lixo, decidimos fazer uma melodia nova. Este disco faz uma ocupação mas ao mesmo tempo uma reciclagem do fado – mostra aquilo que é possível para nós enquanto pessoas queer e do que não é possível.
A Amália é uma grande referência para o vosso grupo. Foi um sentimento muito amargo quando vos foi negado acesso ao espólio dela?
JC: E não só, também o do Pedro Homem de Mello, que apesar de ser um homem homossexual, disseram-nos que o seu trabalho não podia estar associado ao Fado Bicha. Mas a Amália é um grande símbolo para o nosso grupo. Na adolescência encontrámos uma grande ligação que não encontrávamos em mais nenhum estilo. Para um adolescente que se vai apercebendo de que tem uma sexualidade não normativa, aquela intensidade e a forma de nos relacionarmos com os sentimentos, como é o caso do Estranha Forma de Vida, liga-se muito com a realidade que vivi. Existe uma ligação com a morte que está muito presente na narrativa queer.
LF: A Amália foi a minha porta de entrada para o fado. A minha família e a do João não tem ligações com a música, mas com 14 anos o fado foi algo que começou a fazer sentido para mim. Era muito ligada às palavras, os livros sempre foram um grande refúgio, e este estilo conseguia juntar a centralidade da palavra e da língua portuguesa com uma expressão emocional muito forte. Desde a minha adolescência fui desenvolvendo uma relação muito forte com a Amália. Só houve uma canção da Amália que pedimos autorização para cantar, a Tive Um Coração, Perdi-o, escrito pela própria, mas os seus herdeiros rejeitaram o pedido. Essa custou-me um bocadinho mais. Tendo a imaginar que, se a Amália fosse viva, ela se relacionaria com o nosso projeto, e faço a fantasia que ela se ligaria a nós, ao nosso projeto e à nossa luta.
Sentem que essa dificuldade em conseguir os direitos das músicas ajudou a que o disco se tornasse mais pessoal, uma vez que vos obrigou a serem mais originais e a criar músicas novas?
LF: De certa forma, sim. O movimento de rejeição do cânone em relação às expressões marginais acaba por fazer com que essas expressões se marginalizem ainda mais e encontrem caminhos mais divergentes. Isso acabou por acontecer connosco. Todas estas rejeições levaram a que, num primeiro momento, ficássemos sem chão. Não temos prática como compositores, mas também não estávamos interessadas em contratar alguém de fora para compor músicas porque temos uma identidade muito própria. Desse momento fomos desafiadas a encontrar os caminhos possíveis dentro daquilo que queríamos fazer.
Sentem que essa necessidade e obrigatoriedade de, por exemplo, terem que escrever as vossas próprias letras ajudou a amplificar o caráter pessoal e confessional das vossas composições?
LF: De certa forma, o Fado Bicha transformou-se muito cedo num projeto muito político e é sobre isso que queremos falar. Queremos ter essa postura através da música. Houve algumas escolhas muito conscientes para o álbum, por exemplo a 1997. Queria contar a minha própria história e achei que era importante termos neste disco uma faixa onde a minha experiência era contada na primeira pessoa. Apesar do álbum não estar organizado de uma forma linear, de certa forma existe um caminho possível entre uma história de rejeição e outra de superação. Era importante contar e deixar registada a história da minha infância até para que outras pessoas pudessem ouvir o que aconteceu e se pudessem encontrar nessa faixa.
De certa forma, também foi importante para si.
LF: Precisava de dizer aquilo à criança que fui. Todas essas experiências aconteceram mesmo e, até hoje, continuam a ter um impacto negativo na minha saúde mental. Precisava de deixar isso bem claro para mim. Já tinha falado dessa experiência em terapia, em amigos, nunca muito em família, mas durante muito tempo recusava-me a acreditar que aquilo tinha acontecido e que tinha tido um impacto tão grande na minha vida. Foi uma necessidade pessoal, depois transformada em necessidade artística, deixar esse registo.
Mas essa sensação não ficou apenas presente nessa faixa.
LF: Não, também queríamos ter uma música sobre o Valentim de Barros [bailarino português e homossexual que foi internado no Hospital Miguel Bombarda], que é uma história muito crua que mostra a homofobia assassina do Estado e da ciência médica. Apesar de ter acontecido quase há cem anos, é uma história em que a nossa comunidade continua a rever-se. Queremos incidir luz sobre este tipo de casos, assim como trazer as nossas próprias reivindicações e sugestões relativamente ao que consideramos estar mal na sociedade portuguesa.
Quando ouvi pela primeira vez as músicas pensei esta pudesse ser uma tentativa de a Lila estar a exorcizar os seus demónios, mas depois apercebi-me que se calhar essa não é a palavra certa. Não há a tentativa de “matar” e enterrar estes problemas, mas sim de abrir um diálogo e debater estes problemas.
LF: Mostrei o texto do 1997 a um amigo e ele sugeriu que devia falar mais sobre a experiência de superação e como hoje consigo ser uma pessoa minimamente funcional (risos). Refleti sobre a questão e decidi que queria falar destes casos mais negativos. Existe uma grande cultura de silêncio em Portugal e isso reflete-se muito na comunidade LGBT e na forma como as pessoas vivem vidas escondidas, nas coisas que não se dizem em família. Até entre aquelas que têm mais visibilidade e que acentuam discursos homofóbicos na nossa sociedade. Assim, quando surgem pessoas que tem discursos mais rasgados acabam por ser relegadas para lugares de nicho. É importante dizermos estas palavras, não ter subterfúgios.
Estava a falar sobre pessoas com visibilidade na comunidade LGBT que adotam posturas homofóbicas. Um exemplo foi o Manuel Luís Goucha que condenou a vossa performance no Festival da Canção. Deve ser complicado ter alguém que faz parte da comunidade a deitar-vos assim a abaixo.
LF: Este é um reflexo quase esperado. Todas as pessoas LGBT crescem um bocado aos trambolhões e, quando chegam à idade adulta, são sobreviventes que resistiram a um conjunto de sistemas que, historicamente, se concentram no nosso apagamento. Mas nós somos ervas daninhas que vão ressurgindo e que continuam a crescer da lama. Isto deixa muitas marcas em pessoas LGBT, independentemente da sua idade, porque têm muita dificuldade em encontrar-se no mundo – e que se exprime em agressividade com outras pessoas que conseguem viver com essa exposição.
Quão importante foi para as Fado Bicha aparecerem no Festival da Canção, um programa visto por tantos portugueses?
JC: Foi a primeira vez que tivemos uma plataforma desta dimensão e entrámos na casa de milhões de pessoas sem pedir licença. A nossa história é feita de um vazio completo. Não há referências LGBT na nossa história que estejam para lá dos escândalos, em relatórios médicos que afirmam tratar-se de uma doença ou em notas de suicídio. Entrar nas casas das pessoas e criar esse tipo de desconforto ajuda a eliminar o silêncio a que estamos tão habituadas. Lemos um tweet de uma pessoa que estava a ver a performance com os pais, e descreveu que os pais fizeram comentários homofóbicos e, por isso, nunca teria coragem para sair do armário. A mim comove-me muito a arte que promove a discussão e causa desconforto, ainda para mais quando reflete os tempos em que ela acontece.
Vocês levaram o Povo Pequenino ao Festival da Canção. Pequenino em mentalidade?
LF: Essa música partiu de um sonho que eu tive com essa expressão. A primeira vez que escrevi esse poema foi em 2020, numa altura em que o André Ventura parecia ser omnipresente nos meios de comunicação. Os seus discursos estavam a lançar algumas sementes que me preocupavam imenso. Esta expressão tem um duplo significado, “pequenino” no sentido do passado, remetendo para o meu pai e a sua geração, e também no sentido da mesquinhez. Quis cruzar estas duas ideias, este povo que tem uma história na qual a ideia de liberdade é tão importante… mas que reflexão sobre a liberdade é que fazemos para além de descer a Avenida da Liberdade uma vez por ano? O que é que entendemos por liberdade e quem é que ficou de fora? Por exemplo, este ano celebramos os 40 anos da descriminalização da homossexualidade que só chegou oito anos depois do 25 de Abril. A música parte dessa tensão.
Estavam a falar da importância da ocupação e da disrupção. Sentem que com o vosso trabalho querem desmanchar o fado e voltar a construir ou apenas acrescentar mais uma linguagem e coexistir com o que já existe?
JC: Eu e a Lila adoramos fado tradicional, mesmo que as pessoas possam pensar que detestamos. Mas achamos que, historicamente, não existe nenhum tipo de arte que seja estanque. Queremos manter o fado vivo e não uma coisa morta que está numa gaveta que as pessoas vão reproduzindo sem que seja verdadeiro. Não nos fazia sentido cantar o fado como se cantava há cem anos porque não ia ser verdadeiro, não é a nossa história. Isto só demonstra o nosso amor ao fado, esta vontade de nos apropriarmos dele e darmos o nosso cunho e experiência.
LF: Queremos desenvolver uma nova prática sobre o cânone. Não é que esta nova prática tenha de substituir a antiga, elas podem coexistir e admirar-se mutuamente. A certa altura definimos que a nossa resposta à frase “o que vocês fazem não é fado” seria “não é fado, é Fado Bicha”. Quando dizem essa frase estão a atirar-nos para cima o peso da tradição. A tradição não é controladora, é um caldo que as pessoas podem beber e que lhes confere um caráter identitário. Apreciamos a tradição, mas não aceitamos que a normatividade dite a nós ou a qualquer outra pessoa formas de fazer ou sentir a tradição. Posso adorar a Hermínia Silva, mas não vou cantar como ela. Canto com o meu corpo e canto como sou. Já absorvi o que tinha a absorver e agora expresso-me livremente e é isso que quero continuar a fazer.