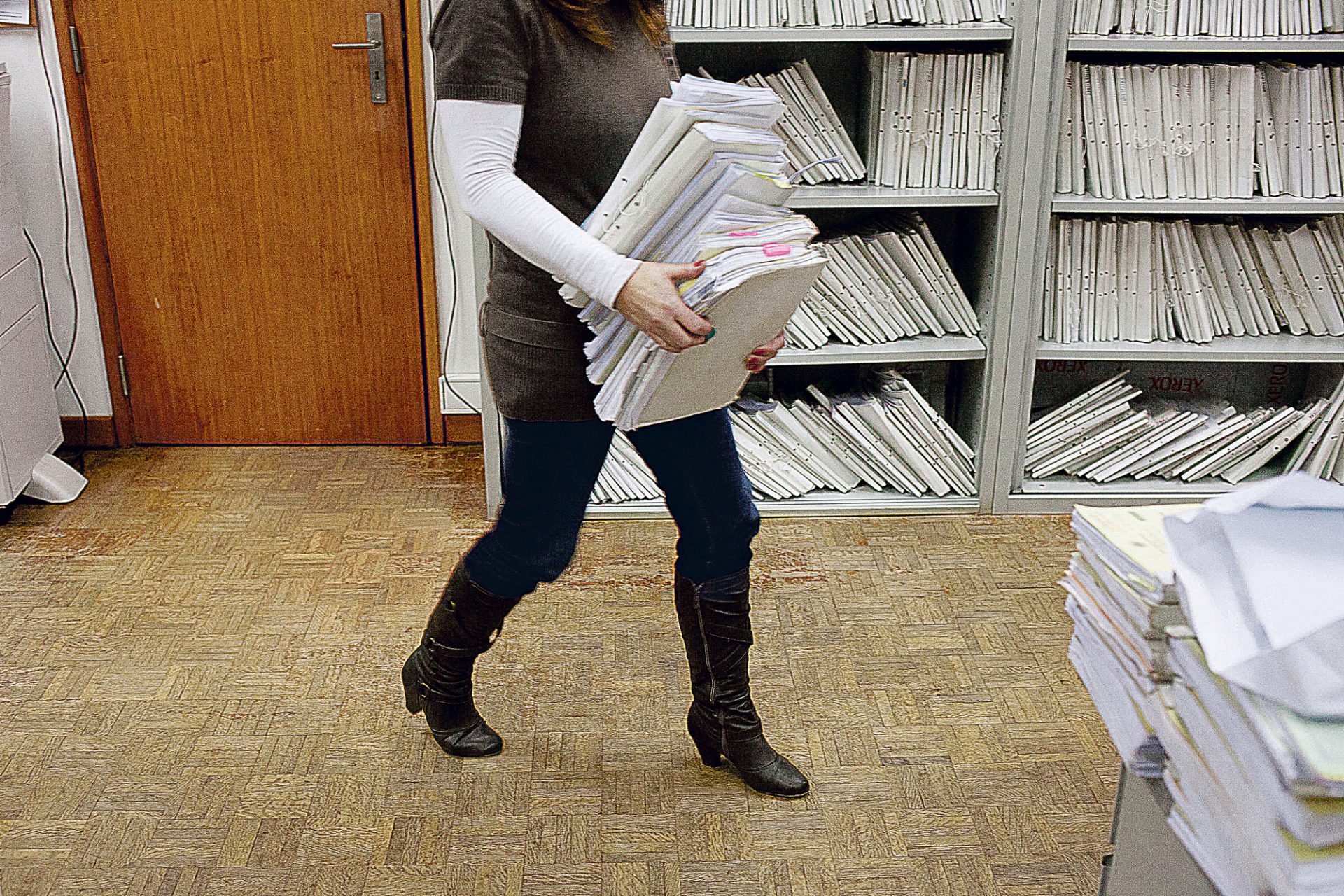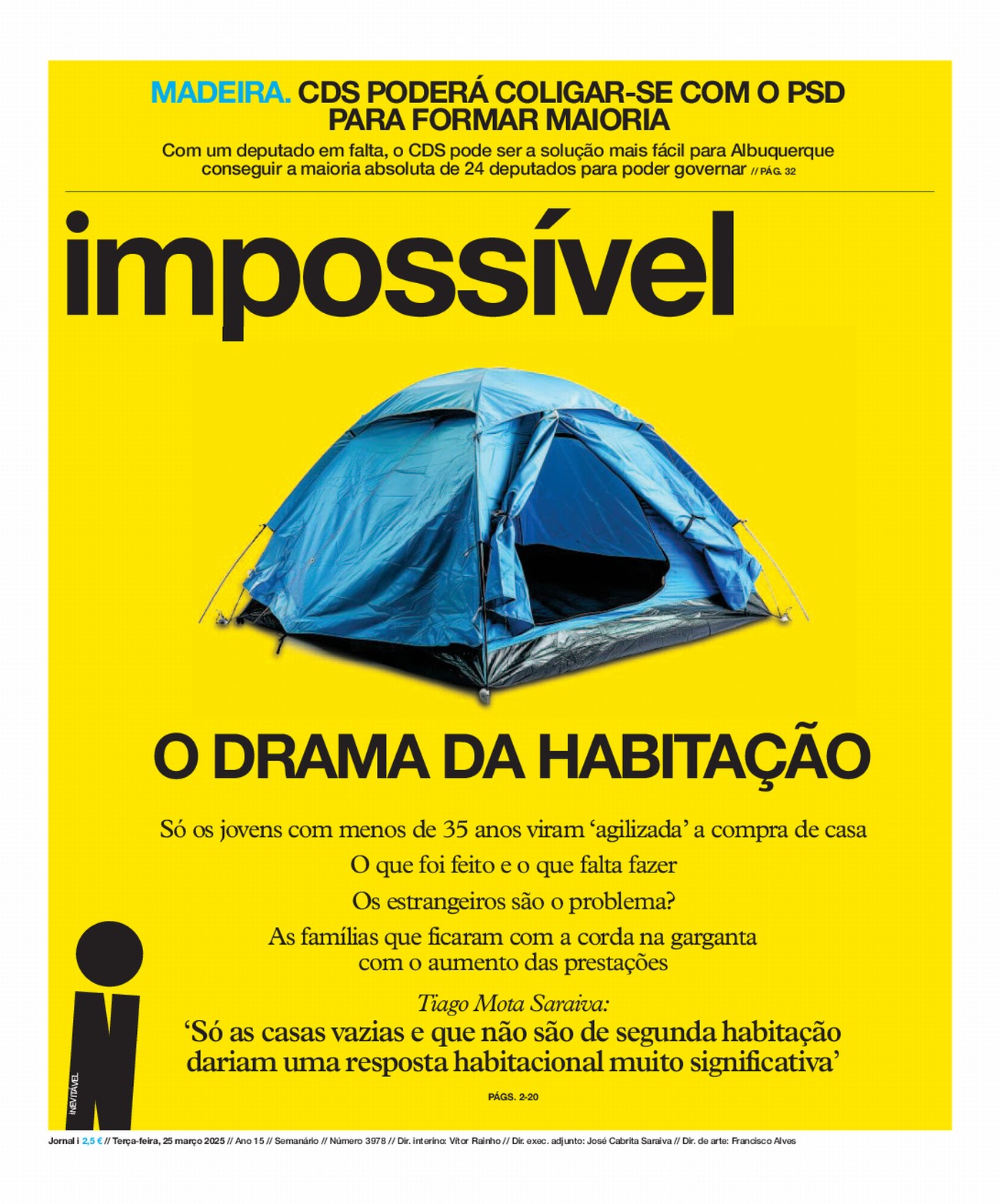Hoje fazem-se distâncias absurdas e regressa-se sem ter experimentado um calafrio. Tornou-se terrivelmente banal isso de viajar. De tal modo que é difícil chegar alguma vez a sair da fila. Sai-se de uma e logo se dá por si noutra. Perdem-se países, tem-se uma vaga tontura, um sonho confuso ou indigesto na melhor das hipóteses. O mais triste é a geografia comichosa, apalpando-se, essa que mal sabe de si. Tudo o que foi aventuroso deixou só um restaurante de beira de estrada onde o cardápio alude a uma série de mitos moribundos. Estamos muito mal assim. Para se despertar do sonho da distância é preciso um encontrão violento. Pois se o mundo é aquela coisa pela qual não esperávamos, a distância precisa da justa dose de realidade para obrigar a que interiormente se sinta o embalo. Com a sua carreira atirando sobre nós, tornando-nos o vago sujeito de atracções e repulsas, confrontos, diferenciações e encontros. São precisos hoje viajantes exemplares, como Michaux, que, segundo Alain Jouffroy, “era uma espécie de geógrafo que transformava tudo em Abissínias”.
De testemunhos que multiplicam o eu, no visto e ouvido, sentido, imaginado, no que se cheira, nesse ar que chega a esbofetear-nos nalguma praça, que se nos impõe, pretende guiar-nos por ruas esconsas, bairros mal frequentados, tudo o que se mostra na sua aspereza inconciliável, de algum modo há algo de tudo isso que acaba reunido neste caderno que tem esse balanço tremido de um constante abrir e fechar. Um caderno que resfolega como uma besta de carga. E Michaux não tem qualquer pejo em servir-se de generalizações, mas elas logo adquirem carácter e firmeza moral. Povoa as suas paisagens de figuras pluralíssimas, arranja a cena confrontando legiões. Às tantas, acrescenta esta nota de rodapé na sua passagem pela China: “Julga-se que a China é um formigueiro porque os chineses têm muitos filhos. Não será o inverso? Eles gostam do conjunto, dos conjuntos, não do indíviduo. Do panorama, não de uma coisa.” Também assim funciona Michaux. Não se prende com detalhes que não possa elevar a uma escala mais ambiciosa. De certo modo, essa selvajaria dos juízos que expandem um aspecto menor, uma característica aparentemente isolada e a amplificam ao ponto de fazer com ela a terra sentir o gosto de uma debandada é o exemplo de uma virtude tipicamente poética, dessa forma de obstinação do sentido, capaz de fazer delirar o pensamento para que à página, como a uma praia, venham dar esses sobreviventes que relatam as grandes peripécias em alto mar. E que bela lição para os literatos deste tempo, sempre tão avessos a sujar-se nas querelas para que a realidade nos puxa. Neste poeta que não se satisfazia nunca com os bons modos das práticas regulares da escrita ou até da pintura, o ódio era um dos processos necessários de exame de si, da sua consciência e do mundo. Como nos diz Chantal Maillard, poeta espanhola que se tem dedicado à tradução de vários dos seus textos, ele escrevia como se odeia, com a força do “contra”, para sobreviver, e depois, para viver mais intensamente, para vibrar mais alto. Aquilo de que se trata aqui é de se fazer de si mesmo a própria experiência, ver como é que fazemos para colar ou construir o mundo, e que cada passo se faça sentir, até pelo muito que às vezes um passo nos custa, sobretudo se a realidade põe aquela expressão de abismo.
A Michaux não lhe interessava o grande rigor, mas antes uma mecânica que se possa expandir até ao infinito. Só que a teoria não pode deixar que nos escape o sabor tremendo das particularidades, e, assim, com modos às vezes grosseiros, ele cozinha um preparado que, com a sua força alucinatória, toma conta da divisão, salpica-nos uma e outra vez, deixa-nos escaldados. Estamos habituados à carne aflita das suas palavras, impressões rudes, que rodam sobre si mesmas, se animam inesperadamente, rugem. Abre uma distância cobrindo-a de pancada, escreve com a energia de quem dá uma descompostura das antigas, se enerva, ferve em pouquíssima água, molha toda a gente nesse exercício sem rigor nenhum e que, aqui, é também um estilhaçar daquele registo tão cómodo da viagem, desses equilíbrios e simetrias que exercem uma ordem pacífica. Contraria, deste modo, essa estupidez decorativa levada a cabo pelos “benévolos auxiliares da embaraçosa realidade e das suas aparências”.
Aqui, os contrastes ferem, a ferida supura, somos “tomados pela urgência do que é dito, do que é mostrado: coisas secretas, coisas sagradas, por vezes, que não pudemos saber ver e que ficaram num plano anterior da consciência”. Interessa-lhe o bulício interior das coisas. A ideia é mesmo des-cobrir, arrancar os véus e as ligaduras, e testar-lhe de novo a convicção. Por isso, gosta de provar tudo. Cria as suas provas, e liga esse modo de aplicar tensão sobre as coisas a um regime de atenção, a sua forma de habilitar as coisas na sua relação umas com as outras. De resto, veja-se como fala dos chineses:
“O povo chinês é artesão nato.
Tudo o que pode inventar-se biscatando, já o inventou o chinês.
O carrinho de mão, a tipografia, a pólvora, o foguete, o papagaio planador, o taxímetro, o moinho de água, a antropometria, a acupuntura, a circulação sanguínea, talvez a bússola e grande quantidade de outras coisas.
A escrita chinesa parece uma língua de empreiteiros, um conjunto de sinais de oficina.
O chinês é artesão e artesão hábil. Tem dedos de violinista.
Não se sendo hábil, não se pode ser chinês, é impossível.
Mesmo para comer com dois pauzinhos, como ele faz, é precisa certa habilidade. E essa habilidade, procurou obtê-la. O chinês podia ter inventado o garfo, que cem povos inventaram. Mas este instrumento, cujo manejo não requer nenhuma destreza, repugna-lhe.”
Michaux aprecia esses gestos que são actos de concentração, essa habilidade que é um desdobramento da atenção. Admira os povos que enxotam as distracções como a moscas, que sabem ligar-se às coisas que fazem, unir-se a elas, que trazem de volta essa relação profunda, esse modo de se integrar no mundo. Porque, como nos diz Maillard, para Michaux a realidade não é mais que um conjunto de relações. “Nada se sustenta separado de outra coisa, nada há que seja por si só. O que há é a comunidade e não o indivíduo. Há uma trama, e fios, verbos, não substantivos. Há acções, e não adjectivos nem advérbios.” Não lhe interessa reproduzir as coisas como elas nos aparecem. Não acredita sequer que se chegue a ver alguma coisa sem antes tê-la digerido, sem ter começado por triturá-la. Desse modo, também lhe interessa menos identificar este tipo ou aquele, aplicando-se antes a “retratar temperamentos”. Como escreve em “Qui je fus” (1927), “A alma é um oceano debaixo da pele. Dela conhecemos apenas as suas tempestades e a forma como resiste ao movimento, às vibrações ao seu redor. Mas a alma em si mesma escapa-nos. Só se proclamam as suas emoções.”
A viagem também serve para ir ganhar-se a mão de outro. Atirar fora aquela que de princípio se levava, cortá-la, dá-la de comer aos peixes. Os bons viajantes, aqueles que sentem a própria letra encarniçar-se, tornar-se ébria de paisagens, livram-se das suas mãos, ouvem vozes, lançam-lhes contornos, aqueles que sabem caçar por meio de um traço contínuo, um ritmo. Em vez de afogar simplesmente o branco em tinta, apontam nele esse impulso absurdo que há na vastidão. Hoje que todos buscam ir por atalhos e querem o mundo tão breve, olham a ementa longamente e pedem depois o mar, mas sem espinhas, as distâncias amortecidas, atapetadas, esses chegam aqui e dão por si a comer só espinhas, a engolir tudo em seco, sem nem pão para empurrar. Enquanto exprime uma existência errante e aparte, uma atenção de quem busca e rebusca para apagar a fuga a algo que amesquinha diariamente o nosso sentido do espanto, Michaux vai voltando a si, apanha-se do chão, recompõe-se, e com ele o europeu, essa sombra que o segue, que ele não evita tratar com tratos de polé. “O homem branco possui uma qualidade que o faz seguir em frente: a falta de respeito./ Não tendo nada nas mãos, a falta de respeito tem de inventar; fabricar, progredir.” E as comparações vão-se sucedendo, sendo amiúde achincalhantes para os de cá. “Árabes, hindus, mesmo os últimos dos párias, parecem impregnados da ideia da nobreza do homem. O seu ar, a forma como se vestem, as faixas e os turbantes. Comparados com eles, os europeus parecem precários, secundários, transitórios.”
Também o sentimento religioso cristão é contraposto ao hindu, sendo naquele a humildade um aspecto fundamental, com as suas catedrais onde se reza de joelhos, “não em terra, mas sobre o rebordo esquinado de uma cadeira, dispersos os centros de magia natural”, isto numa “posição infeliz, nada harmónica, em que cada um não pode realmente fazer mais que suspirar e tentar arrancar-se à sua miséria”. Já as religiões hindus, pelo contrário, diz-nos Michaux, “não soltam a fraqueza do homem, mas a sua força”. E adianta que estas impulsionam realmente as forças espirituais através da oração e da meditação. “Quem reza bem faz cair pedras, perfuma águas. Força Deus. Uma oração é um rapto. E não se consegue sem uma boa estratégia.”
E quanto às provas que é preciso oferecer para se conquistar o espírito dos europeus, Michaux mostra-se também bastante cáustico: “Se Cristo não tivesse sido crucificado, nem um discípulo conseguia na Europa.
Excitaram-se com a sua Paixão.
Que fariam os espanhóis se não vissem as chagas de Cristo? Toda a literatura europeia é de sofrimento, nunca de sabedoria. Foi preciso esperar pelos americanos Walt Whitman e o autor de Walden para ouvir outro acento.”
Este “Bárbaro na Ásia”, não sendo das experiências mais radicais de Michaux, é também ele um texto sem uma linhagem clara, uma pauta para abusos menores, algo que ao próprio autor constrange, como uma sombra que foi ficando distante e o deforma, estando datada “da minha ingenuidade, da minha ignorância, da minha ilusão de desmistificar”. Mas que ilusão, que bruta matéria, que reflexões num encadeamento que só pode embaraçar esses protocolos dos viajantes que soam a campanhas de agências de turismo. Pelo contrário, aqui há impulsos que se esforçam por “navegar contra a corrente da história”. Se admite que “falta muito a esta viagem para ser real”, vai afiando os instrumentos, sem abdicar inteiramente de uma certa dose de hostilidade, até para excitar a imaginação, e, assim, numa espécie de longa litania, entretece teorias, experiências, hipóteses, verificações, exclamações, denúncias, organizando tudo em relevos, apontamentos mais vivos e outros mais áridos, num esforço que perde aqui e ali recupera o fôlego, saindo de uma confusão para se lançar noutra, travando combates errantes, numa liberdade que soará hoje como afronta, um dizer desabrido, basculante, deixando que a viagem viva. Sem sobranceria nenhuma, é ele que surge como o bárbaro, e ao grande e geral gracejo de quem sempre regressa do estrangeiro com um repertório de anedotas para animar as hostes sedentas dessas abreviações para o outro lado da vida, responde este autor com uma auscultação de uma natureza vibrante e que nos quebra a cara e a indiferença, essa indiferença que se ri, esse vazio coceguento de quem se busca narcisicamente com uma atracção estéril por ficções do outro lado do globo. Assim, encomendando os olhos para que possamos ver para o exterior, este é um exercício que nos empurra e nos põe diante da “descrição abrangente, magnética, que impõe a visão”. Em vez de andar atrás de episódios fáceis de aclimatar, dessas bagatelas de ninharia sentimental, desses dóceis pedaços narrativos que nos põem à vontade, prefere bater, espicaçar. Vai cumulando impressões sem demasiado estudo… mas se nada é estudado, também nada é decorativo. Parece atacado também ele pelas coisas que vê. Deixa-se instigar, gerando desacatos no próprio juízo, tempestuosas anotações que fazem balançar o leitor indo a bordo dessa atenção sacudida por rostos, expressões, sinais, sentindo-se atirado de um lado para o outro no quarto, isto se não o puderem, essas impressões, lançar pela janela fora, para o meio da rua. Revela também aqui um talento imoderado para o aforismo, mas esse que surge num tom desbragado, sentencioso, capaz da ignomínia como da inspiração deslumbrante, como quem sondasse harmonias e, depois, ficando meio embaraçado, introduzisse nelas uma boa dose de ruído. Vão-se encavalitando as suas notas de viagem, desequilibram os sentidos, num vigoroso exercício de agitar as paisagens, desaparafusar o cenário mental, obrigar o circo a levantar-se e ao pó dos seus truques baratos, das suas tristes noites de exibição na província, para uma audiência de bêbados, viúvas e crianças retardadas.
Vão-nos surgindo pela frente “personagens de estranha vida palpitante, trepidante e eléctrica”. Fala dos outros, mas como se os apalpasse e sentisse, sem ocultar que “ninguém é puro, que cada um é uma indizível, uma indestrinçável mistura”. E “a luz passa através dos recortes, desenha-os e ilumina-os ao mesmo tempo com a nitidez da evidência ou da dura realidade, ou melhor, com uma surrealidade cortada à faca e retirada do céu”.
Estes povos, estas gentes com quem se cruza entre o real e o sonho, podem até não existir já, ou nunca terem passado de aproximações delirantes, mas não se apagam, continuam a meditar num tom ao mesmo tempo sereno e escarninho sobre esses contrastes radicais que a realidade nos propõe como estrondosos rumores, notícias bestiais, relatos devastadores e até ameaças ao nosso “estilo de vida”. Há aqui um Oriente escabroso mais pela revelação do Ocidente nele, como se este tivesse sonhado o seu monstro, ao tentar compreender, convencer ou assimilar aquele. “Já se sabe que a civilização ocidental tem todos os defeitos”, diz-nos a acerta altura. “Mas possui um magnetismo que arrasta todas as outras. Há no mundo um impulso geral para uma alegria sem profundidade, para a agitação.”
Noutro momento vai um pouco mais longe: “A civilização europeia é uma religião. Ninguém lhe resiste (…) Outrora, nunca a civilização dos brancos tentou outro povo. Quase todos os povos dispensam o conforto. Mas quem dispensa divertimentos? O cinema, a grafonola e o comboio são os verdadeiros missionários do Ocidente.”
Para Michaux, o artista faria melhor em baixar da sua pose, comer o pó da terra ou outras substâncias que actuem como “demolidores do espírito e da pessoa”. Ele que se serviu das drogas para ter uma ideia daquilo que ensombra a mente dos alienados, desses que em algum momento se tornam prisioneiros do descontrolo, não tinha qualquer complacência para com aqueles que se viram para as drogas em busca de paraísos, e achava-as, a esse respeito, bastante aborrecidas. Preferia experimentar com elas de modo a que lhe dessem “um pouco de saber”, adiantando que “o nosso não é um século para paraísos”. Para ele o pensamento devia observar-se sob a lente “de microscópio de uma atenção desmesurada”. O seu ensejo era desvelar o “normal”, aportar ao desconhecido, ao insuspeitado, ao incrível e à enormidade disso que chamam normal. Nas suas investigações do infinito, deu-se conta de que o único acesso a este era pelo ritmo. Mas estava empenhado em orientar-se num infinito que, longe de ser um bairro de deuses, fosse o eterno rebaixamento, um modo de se pôr em causa, sem nenhum apoio ou descanso, sendo atravessado em todos os sentidos, em todas as direcções. O seu infinito era, por isso mesmo, tão turbulento. E ele admitia que não sabia fazer nada com moderação, que não sabia ir até metade, nem sabia aceitar as ideias dos demais fosse sobre o que fosse. “Sou inventor à força”, confessou, em 1923, logo acrescentando: “Sou um imbecil. Não percebo nada do que as pessoas dizem, os autores. Tenho que voltar a fazer o caminho todo na minha cabeça. É penoso, mas talvez seja isso a invenção e a originalidade.” Mais caçador do que escritor, parece acreditar que o verdadeiro conhecimento obriga a essa perseguição dolorosa. Ele caça a partir da sua desordem interior. E não se preocupa em que o leitor possa acompanhá-lo. Diz-nos Maillard que Michaux não quer expressar o que vê, que o que faz é gritar linhas como quem vomita as suas próprias entranhas. “Michaux vive constantemente em fractura exposta, cada signo de si mesmo é como um osso que rasga a pele no cotovelo, no joelho, ficando à mostra como um signo, apontando monstruosamente, quase de forma obscena, ‘em carne viva’, dolorosamente, para o que está para além de si, para o outro, forjando-o com a força pertinaz dessa obscenidade.”
A repercussão desta obra no nosso país fica a dever-se sobretudo ao empenho de um conjunto de estupendos tradutores, incluindo Herberto Helder (que confessou certa vez ter a ambição de o traduzir inteiramente em verso), Ernesto Sampaio, Luiza Neto Jorge, Natália Correia, Júlio Henriques, Aníbal Fernandes, Rui Caeiro ou Margarida Vale de Gato. Esta reedição de “Um Bárbaro na Ásia”, livro originalmente publicado em 1933, recupera a tradução que Ernesto Sampaio fez para a Fenda, publicada em 1999. Nas páginas que lhe dedica em “Faux Pas”, Maurice Blanchot chama-lhe “o anjo do bizarro”, um título que cai bem a alguém que perturbou a relação entre o mundo e a perspectiva que dele se detém nas páginas dos livros, alguém que, exprimindo a sua angústia, nesse cerco hostil e desde esse desamparo que a vida lhe inspira, devolve, tantas vezes depois de uma impossível digestão, ou seja, vomitado, algo que não aceita ser serenado, que estimula essa angústia suja e embriagadora própria do que é assinalado no extremo dos extremos, “obra do fim do mundo, arte que só encontra o seu começo aí onde já não há arte e onde faltam as condições da arte” (Blanchot). Tendo começado a escrever uma década antes, neste livro damos por ele a arrancar de lugares que lhe são estranhos essa sensação de ser ele o bárbaro, alimentando-se do erro de perspectiva enquanto homem ocidental, nessa relação de especial intimidade em que o outro faz estremecer as suas percepções, sendo esta uma viagem que vai das Índias à China, Japão, Malásia e Indonésia, mas tudo num transtorno em que o real e o imaginário se revelam medidas arbitrárias, doentes uma da outra. “Ao desembarcar ali, em 31, sem saber quase nada, mas com a memória excitada por relatos de pedantes, dei pelo homem da rua, que me absorveu, me agarrou, a tal ponto que não vi mais nada. Fascinado, passei a segui-lo, a acompanhá-lo, persuadido de que com ele, ele em primeiro lugar, ele e o homem que toca flauta, e o homem que representa num teatro, e o homem que dança e faz gestos, já tinha o necessário para compreender tudo… ou quase.”
Até aos 21 anos, Michaux praticamente não tinha saído de Bruxelas, onde viveu a ocupação alemã, entre 1914 e 1918. Nascera em Namur, nas Ardenas, e passou uma infância absolutamente solitária. Pouco o ligava à própria família, e assim foi-se distanciando do que tinha ao seu redor, escavando-se pelo interior, servindo-se das obras dos místicos e de livros de viagens para alimentar as suas conjecturas. Depois de uma primeira viagem que o levou à Inglaterra e ao Brasil, como marujo, em 1920, viu essa aventura cancelada no ano seguinte em resultado da obrigação de desarmamento dos navios, após a Primeira Guerra Mundial. Quando o mar lhe foi tirado, vendo-se forçada a desempenhar toda a espécie de ofícios, começou a escrever, e foi nas páginas da revista Le Disque Vert que viu publicados os seus primeiros textos. Buscava um contacto grave, solitário, perigoso, insubstituível, e aos 25 anos descobriu Lautréamont e a sua descarada e vertiginosa obra, algo onde sentiu que podia enfim esbarrar com terror e com delícia, nesse excesso que lhe permitia, como esperava que o mar fizesse, ser conduzido para fora de si e talvez para fora de tudo.
Por esta altura, conhece Jules Supervielle, que se tornou um amigo bastante próximo e com quem pôde contar na sua aproximação à poesia que vinha desmentir esse tráfico de ilusões e vaidades que sempre toma conta do jogo literário. Também conheceu, nesses anos de iniciação artística, os surrealistas, com quem conviveu o tempo suficiente para se desinteressar dos conventículos literários, preferindo frequentar os pintores: Ernst, Klee, Masson. Foi Jean Paulhan um dos primeiros a tomar-lhe o pulso a dar-se conta como as suas palavras eram escritas no fio mais tenso, nessa “zona oculta/ onde o ar é tão fino”, ficando a dever-se-lhe a publicação do primeiro livro de Michaux, “Qui Je Fus”, com o selo da Gallimard, em França.
A segunda viagem que Michaux fez à América do Sul originou o seu outro livro de viagens, “Equador”, publicado em 1929, e que por cá saiu também com tradução de Ernesto Sampaio, nas edições Fenda. Sobre as suas viagens, sobre o que estas lhe inspiravam, tem este apontamento em “Um Bárbaro na Ásia”: “Tendo vivido mais de trinta anos num país da Europa, alguns espantam-se de que nunca me tenha ocorrido falar dele. Chego às Índias, abro os olhos e escrevo um livro.
Os que se espantam, espantam-me.
Como não se haveria de escrever sobre uma terra que se apresenta com a abundância das coisas novas e na alegria de reviver?
E como se haveria de escrever sobre um país onde se viveu trinta anos, ligados ao aborrecimento, à contradição, às preocupações mesquinhas, às derrotas, à usura quotidiana, e sobre o qual já não se sabe mais nada?”
Nesses anos que antecederam a Segunda Guerra, Michaux esteve mais envolvido que nunca na vida literária, e chegou a dirigir a revista belga Hermès, que publicava textos dedicados sobretudo à filosofia e à poesia. Durante os anos da Ocupação, foi viver para o sul de França com a mulher, tendo passado a maior parte do seu tempo dedicado à pintura. “Perguntaram porque adoptei a pintura como instrumento… Primeiro adoptei-a para me colocar em apuros. Mas também estava com vontade de entrar num registo a partir do qual pudesse dar um safanão à literatura. Era um desejo de ruptura”, disse numa entrevista a Jouffroy, em 1959. A partir de 1937, Michaux começou a expor regularmente em Paris as suas pinturas e desenhos. Se inicialmente, estas apareciam como ilustrações nos seus livros de poesia, nessa busca de novas dificuldades, novas tentações, aos poucos foi-as separando, tentando “recuperar o mundo através de outra janela”. “Estranha descongestão, adormecimento de uma parte da cabeça, a faladora, a escrevente (parte, não, é antes um sistema de conexão). Um tipo muda de endereço quando se põe a pintar”, diz-nos Michaux num texto de 1939.
As viagens foram sempre um modo de se cumprir nesse impulso de alguém que diz que “está e queria estar noutro lugar, essencialmente noutro lugar, sendo outro”. Alguém que nos diz que num país de planícies, por regra, se deve privilegiar o tráfico de colinas. Alguém que desejava mais as paisagens da estrada da vida do que da superfície da Terra. Alguém que certa vez terá encontrado o seu lugar “no tépido vapor de um hálito de rapariga”. Alguém que nesta incursão como bárbaro na Ásia, nos fala também de mulheres como de “paisagens para cobrir as chagas, o aço, o estilhaço, o mal, a época, a mobilização, a corda ao pescoço”. E sobre o que descobriu no seu périplo do outro lado da vida, nos serve de guia para encontros íntimos que terá vivido ou imaginado.
“A europeia ama-vos com paixão depois esquece-vos de repente à beira da cama, pensando na gravidade da vida, em si própria ou em nada, ou então simplesmente apanhada pela ‘ansiedade branca’.
A mulher árabe comporta-se como uma onda. A dança do ventre não é uma simples exibição para a vista; excita-nos e depois deixa-nos numa ressaca, num estado de beatitude, sem saber exactamente o que nos aconteceu, nem como.
(…)
A mulher chinesa, não. É como a raiz do banian, que se encontra por toda a parte, até entre a folhagem. Se a metermos na nossa cama, vão ser precisos dias para nos livrarmos dela.
A mulher chinesa cuida de nós. Considera-nos em tratamento. Em nenhum momento se vira para o seu lado. Sempre abraçada a nós, como a hera que não sabe isolar-se.
E o homem mais ansioso e irrequieto acha-a tão próxima e cómoda como o lençol.
A mulher chinesa põe-se ao nosso serviço, sem baixeza, não é disso que se trata, com tacto, justeza, afeição.”