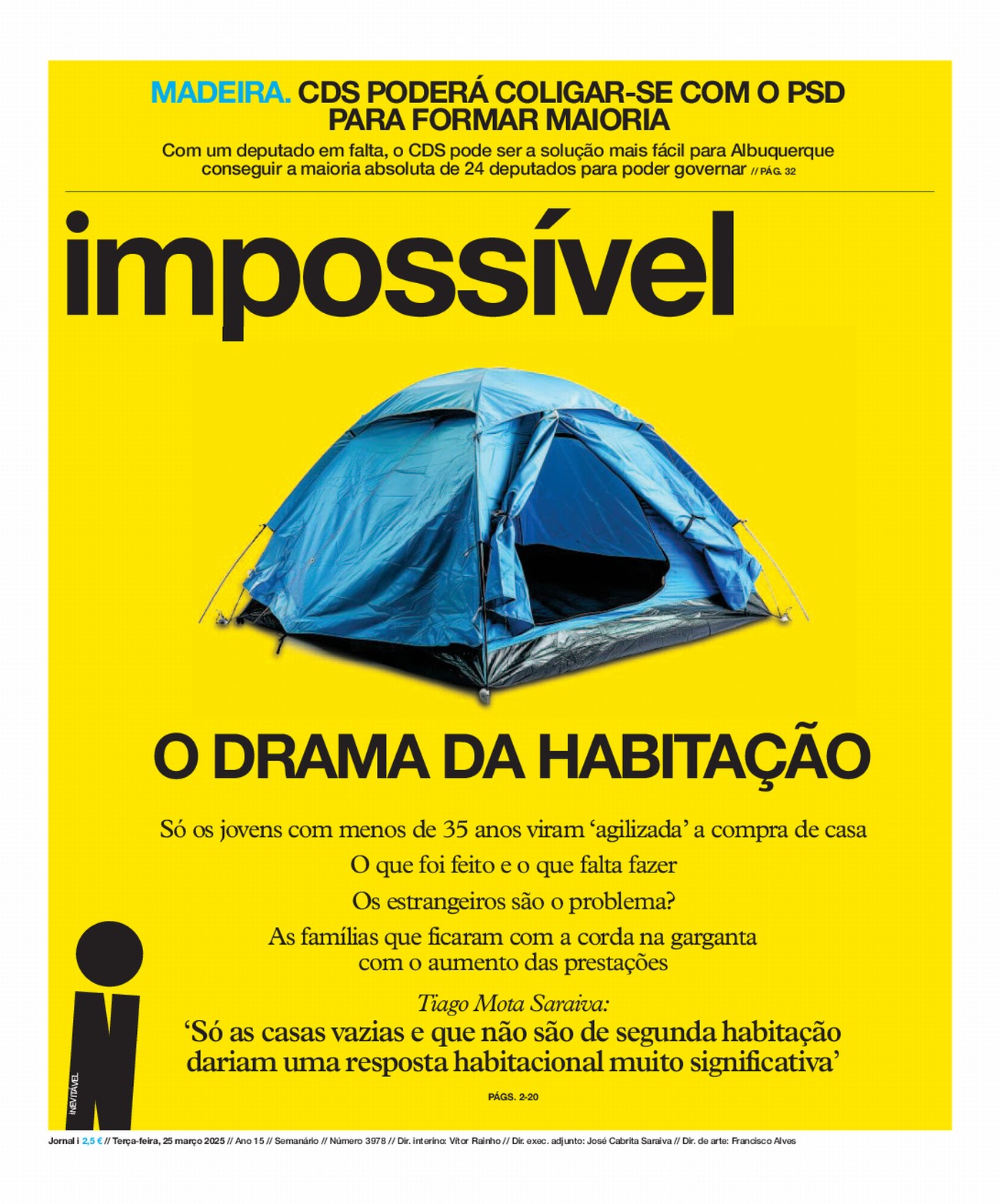À meia-noite e vinte do dia 25 de Abril de 1974, quando ‘Grândola Vila Morena’ passou na Rádio Renascença para dar o sinal para o início da revolução dos cravos, João Afonso dos Santos, o irmão do compositor José Afonso, encontrava-se a 11 mil quilómetros de distância, na cidade da Beira, no centro de Moçambique. Logo na manhã desse dia, ao chegar ao Café Luso, soube do que se passara em Lisboa, embora as coisas não fossem ainda muito claras. “As pessoas estavam animadas, era a ditadura que tinha ido ao ar”, mas ao mesmo tempo havia o receio de que fosse um golpe da “direita da direita”.
Nascido em Aveiro, o mais velho de três irmãos, João Afonso dos Santos passou a infância com a família em África, primeiro em Angola, depois em Moçambique. Em 1939, o pai, que era juiz, foi mandado para Timor, e João foi com o irmão viver para casa de uma tia muito católica em Coimbra, cidade onde se licenciou em Direito. Deixou registo desses tempos no seu primeiro volume de memórias, O Último dos Colonos – Entre um e Outro Mar (ed. Sextante).
O segundo volume, agora publicado – O Último dos Colonos – Até ao Cair da Folha – relata o regresso a Moçambique já como advogado, e casado, em 1955 e as duas décadas que ali passou, até ao regresso definitivo a Portugal em 1975.
Em conversa com o i, João Afonso dos Santos recorda a infância e juventude em Coimbra, a vida em África e a relação com o seu irmão célebre.
Quando começou a sentir necessidade de passar as suas memórias para o papel?
Sempre tive o intuito vago de escrever sobre a minha família em Timor, no período durante a [Segunda] Guerra, e a separação da família. Tudo isso faz parte do primeiro volume. Depois naturalmente escrevi o segundo volume sobre a minha idade adulta – ou melhor, sobre a primeira fase da minha idade adulta, porque agora estou na fase muito adulta [sorri]. Esse intuito já era um bocado antigo, mas só se concretizou agora, por razões difíceis de dizer…
Só agora teve disponibilidade?
Já antes tinha alguma disponibilidade mas puxava-me a pena para outras coisas que estão para aí um bocado sepultadas, no meio dos papéis.
A certa altura faz uma referência à madalena do Proust [no romance em Busca do Tempo Perdido, ao levar à boca o bolo molhado em chá, o escritor é transportado como que por magia para a sua infância]. Há uma tentativa de agarrar alguma coisa que é fugidia?
São impressões que ficam na memória de tempos muito recuados, da minha escola primária em Angola por exemplo. E às vezes servia-me do artifício do Proust – ele fala na madelena embebida no chá, eu falo na maçaroca que às vezes comia aqui para ver se me transportava para o Bié.
E resultou? Houve momentos em que se sentiu transportado para a infância?
Sim. Pequenos farrapos de memórias, aquelas impressões que as crianças guardam, que as chocam. Foi o que sucedeu comigo. Tenho impressões da primeira infância em Angola. Neste segundo volume são já de natureza diferente, mais conscientes, mais estruturadas, não são tão distantes.
Essas memórias da primeira infância são idílicas, aqueles momentos que depois tendemos a idealizar quando chegamos à idade adulta?
As memórias são sempre o presente projetado no passado, e não ao contrário, portanto há sempre uma idealização, e eu não escondo isso. São coisas um bocado soltas, como que adivinhadas na bruma do passado.
Portugueses que nasceram e cresceram em África falam bastante da vastidão dos espaços, da liberdade que as crianças tinham de brincar na natureza, das praias e até de contacto às vezes com animais mais ou menos exóticos – escorpiões, macacos… Essa proximidade com a natureza era uma marca da vida em África na altura?
Sim. No primeiro volume faço umas referências gerais a isso, mas evito esses postais da bicheza selvagem, etc. Faço mais referências às emoções perante os bichos que a gente não os via, sugeridos pelo tio Augusto, que nos fazia ver os leões atrás da moita sem eles lá estarem. Evito esses clichés, que ficarão melhor num filme sobre África do que num livro de um tipo da minha idade e com a suposta lucidez por trás disso.
A família andou por vários sítios. Estiveram em Novo Redondo, em Silva Porto, depois vinham a Portugal…
Viemos a Portugal na altura da guerra de Espanha [1936-1939]. Recordo perfeitamente que estava em Belmonte, terriola onde um tio meu era notário e onde passámos algum tempo, na altura da entrada das tropas franquistas em Bilbau. Nunca mais me esqueci disso. Esse meu tio era um fervoroso nacionalista e acompanhava as tropas através do olho luminoso da telefonia, aquele olhinho opalino – ele ficava a olhar para aquilo como se realmente visse as tropas, o Franco, etc.
E isso despertou em si alguma consciência política?
Não, não, éramos pequenos. Gostávamos muito desse tio por outras razões, porque era alegre e punha-nos a cantar canções do folclore rural.
Como era, para um miúdo que vinha de Angola, estar em Portugal, e em particular em Belmonte? Notava a diferença?
São coisas antiquíssimas. Nessa altura recordo-me que tocava gaita-de-beiços muito elementarmente e de dançar com as pequenas lá de Belmonte. Aquilo era um mundo muito acanhado em relação a África, em relação aos tais horizontes que referiu. Mas adaptávamo-nos bem porque éramos crianças.
E quando regressaram definitivamente em 1939? A adaptação também foi pacífica?
Não foi pacífica porque fomos parar a casa de uma tia que vivia em Coimbra, que era uma pessoa extremamente religiosa, um mundo muito fechado, em contraste com o que era Lourenço Marques em 1938-39. Em Moçambique brincávamos, íamos para a praia, andávamos à vontade, e chegámos a Coimbra e demos com aquele mundo muito embiocado, não só a casa da tia mas mesmo Coimbra em si. A partir de uma certa hora a cidade era dos rapazes, as raparigas ficavam em casa. Aquilo era uma casa devocional, com uns santinhos e um crucifixo na sala – tinha a Santa Filomena que mais tarde foi apeada pela Igreja, coisa que deve ter arrepiado a minha avó, que também lá estava, e que deu o nome dela a um dos filhos, o tio Filomeno. Essa experiência em casa da tia Avrilete foi traumática para o meu irmão, que o resolveu de uma maneira, e para mim, que resolvi doutra. Foram muitos anos ali metidos, enquanto durou a guerra e depois disso.
Deixou-lhe uma certa aversão pelas coisas da Igreja?
Não direi propriamente aversão, mas distanciamento e ceticismo.
E iam à missa?
Íamos os dois, ordeiramente, percorríamos a avenida Dias da Silva, íamos até à Igreja dos Olivais, onde o Padre Estrela nos confessava uma vez por mês. A nossa tia não exigia mais do que que isso: uma vez por mês tínhamos de ir à confissão e lá íamos eu e o meu irmão. O Padre Estrela perguntava: ‘Então, e cometeste atos impuros?’. E nós dizíamos ‘sim’… ‘Uma ou mais vezes? Sozinho ou acompanhado?’ E nós dizíamos: ‘Sozinho’. ‘Dez Padres Nossos e dez Avé Marias’. [risos] Isso cumprimos, tanto eu como o meu irmão cumpríamos ordeiramente. Rezávamos o terço ao fim do dia, à volta da braseira, e as ladainhas em latim, etc. E ficámos vacinados no fim disso tudo. [risos]
Havia muitas regras?
A tia não era muito exigente. Mas viemos pequenos, com a quarta classe, de Moçambique para Coimbra, para a tal casa característica de um mundo fechado, muito católico, etc. As regras eram quase burocráticas. Era um entendimento da religião muito convencional.
Exterior?
Isso mesmo. A nossa tia exigia sobretudo o cumprimento das disposições católicas formais – o que era preciso era cumprir e não tanto sentir.
E como era terem os vossos pais e a vossa irmã tão longe, em Timor?
Isso é em 1940. Os meus pais e a minha irmã [Mariazinha] ficaram em Timor e às tantas deixámos de saber deles.
Isso era uma fonte de angústia?
Sim, era uma coisa de que não se falava – nem em Belmonte, onde estava o meu tio com quem às vezes passávamos férias, nem em Coimbra. Havia como que subentendida uma nota dramática. Talvez já não existissem…
Um pacto de silêncio, quase?
Um silêncio de quem não sabe o que pode dizer sobre o assunto. E nós respeitávamos isso. Como sabe, Timor esteve ocupado primeiro pelos australianos e logo a seguir pelos japoneses. E os meus pais e a minha irmã foram colocados num campo de concentração, Liquiçá, e passaram as passas do Algarve. E já não falo dos timorenses, que morreram muito. No fim da guerra lá fomos a Lisboa esperá-los de capa e batina. A capa e batina nessa altura era quase uma espécie de segunda pele.
Definia a pessoa que a usava?
Era também um tapa-buracos. Era um país muito diferente do atual, muito embiocado, com muitas faltas, as pessoas viravam os casacos – não se comprava um casaco novo. Havia quem tivesse fundilhos e coisas assim, e a capa e batina era uma espécie de traje que safava, dava para tudo. Mesmo que estivesse um bocado esfrangalhada ninguém repararia nisso. Não era um traje para inglês ver, era um traje de todos os dias.
Fez Direito em Coimbra. O facto de o seu pai ser juiz pesou nessa escolha?
Talvez. Houve uma altura em que hesitei entre Direito e Filosofia e História, o curso que o meu irmão seguiu. Mas acabei por ir para Direito, por razões que tenho dificuldade em explicar porque eu próprio não sei quais foram.
Nesse período, sem os pais por perto, eram vigiados pelos vossos tios ou tinham alguma liberdade para participar na boémia académica?
O meu irmão, José Afonso, a partir de uma certa altura, raspava-se de casa. Mas eu interiorizava um bocado aquele isolamento e enfiava-me mais no meu quarto, umas águas-furtadas magníficas de onde se via uma Coimbra antiga que já não existe. O Zeca entendia-se com os companheiros, que eram uns ‘moinantes’, teve essa sorte, enquanto eu tive companheiros muito mais cordatos, respeitadores e ‘obrigados’.
E nunca o acompanhava com esses ‘moinantes’?
Ele andava dois anos atrás de mim e isso era mais do que suficiente para ele ter os amigos dele e eu ter os meus, que não tinham grandes aventuras.
Foi nessa altura que começou a despontar o talento musical do seu irmão ou já vinha de trás?
O meu irmão sempre teve um ouvido muito fino para cantar canções e fazer a segunda e a terceira voz, em coisas que cantávamos com esse tio de Belmonte – canções beirãs, açorianas, alentejanas, etc. Já tinha uma grande facilidade, um grande ouvido. Mas só começa a cantar em Coimbra por volta do seu sexto, sétimo ano [do liceu, atual 10.º e 11.º]. Foi numa viagem a África do Orfeão de Coimbra em que ele foi um bocado pendurado em mim, que era orfeonista, que ele se tornou mais conhecido porque às tantas cantou o fado para aquela gente toda em Lourenço Marques, onde o barco parou.
Não se acanhava?
Sempre se acanhou, mesmo em adulto. Já com uma banda e com grande calo e grande experiência continuava a ser um grande problema para ele a entrada em palco.
Por timidez?
Não sei se era timidez, se era receio… Sei que era convidado pelo Orfeão para cantar o fado – andava ele no sexto ou sétimo ano do liceu – e era sempre um problema para ele entrar no palco. Dizia que estava sem voz. Eu dizia-lhe: ‘Ó Zeca, estás bom, entra, não há problema’. Até se passava uma coisa curiosa. Ele entrava numa mercearia e pedia um bocado de bacalhau. E o merceeiro perguntava-lhe: ‘Quantos quilos quer?’. ‘Quero só um bocadinho’. E então andava com bocadinhos de bacalhau no bolso – de tal modo que às vezes puxava do lenço e saltava o bacalhau – para mascar e aclarar a voz.
Era quase uma pastilha elástica!
Uma espécie. Mais tarde, já com alguma aura de cantor de fados, mas ainda nessa fase, surgia o mesmo problema e ele às tantas pedia um porto. E ficavam as pessoas todas atarefadas: ‘Ó pá, vai buscar um Porto ali à mercearia!’ E lá ia um sujeito buscar um cálice de Porto para o Zeca beber antes de entrar para o palco e perder aquela tensão que ele tinha sempre antes do início do espetáculo. Sentia o peso da responsabilidade de se estar a dirigir ao público, e às vezes precisava de alguns estímulos exteriores até recobrar a confiança. Ao fim de uns minutos a coisa passava. Uma vez na Beira teve o mesmo problema da garganta mas aí já não era o porto nem o bacalhau. Foi preciso um injeção de vitamina C. E eu, como ia cantar com ele, ‘já agora apanho também’. De modo que levei a injeção de vitamina C para cantarmos lá na Praça do Município. Um arremedo de Coimbra em África, uma coisa que não lembra ao diabo!
Em 1955 regressou a Moçambique. Como era a viagem de barco?
Era idêntica à que tínhamos feito em miúdos. Claro que tinham passado muitos anos – fiz o liceu, a universidade, casei-me… Embarquei com a minha mulher no Moçambique, um barco um bocado melhor do que os antigos – o João Belo, onde pela primeira vez fomos para África. O barco ia parando pelos vários portos do caminho – a começar pelo Funchal, São Tomé, o que proporcionava sempre aqueles contactos com paisagens geográficas e humanas diferentes, e algumas excelentes, como por exemplo o Funchal daquele tempo, e logo a seguir São Tomé, uma exuberância completamente diferente.
Esse regresso a Moçambique foi um reencontro com a infância ou nem por isso?
Nem por isso. Para já, quando cheguei a Lourenço Marques em 55, tinha outras preocupações, de adulto, e a cidade que encontrei não tinha nada a ver com as minhas reminiscências. Em vez das casas térreas havia prédios de muitos andares, como hoje, portanto não senti bem isso, não tenho ideia de qualquer reencontro. Houve sim pessoas que estavam à minha espera, os meus pais e a minha irmã e amigos.
Como era a vida de um advogado em Moçambique?
A minha foi um bocado difícil. Abri banca de advogado mas ao mesmo tempo, como não era de esperar que me entrassem muitos clientes porta adentro, fui dar umas aulas na Escola Comercial, à noite. Lá fui fazendo a minha vida até que a dada altura, a seguir às eleições do Humberto Delgado, as coisas não me correram bem e tive de passar para a Beira.
E na Beira relacionava-se só com os portugueses ou também com os nativos?
Não havia relações com os nativos. Eram dois mundos distintos. O africano ocupava o lugar extremo na escala social, era empregado, era criado – nesse aspeto dei-me com alguns, mas só com esse tipo de relação. Mesmo nas escolas havia alunos pretos, mas uma pequena percentagem. Era através das missões que os negros mais evoluídos obtinham algum grau de instrução, porque o ensino oficial estava praticamente vedado ao negro, que de resto não tinha condições económicas nem de vida para estudar.
Quem eram os seus clientes?
O cliente era o branco, o indiano, o goês, um ou outro negro, mas muito raramente, a não ser a título de defensor oficioso. Aí sim. O juiz tinha que nomear um defensor oficioso quando a pessoa não tinha advogado, e aí, como defensor oficioso, atuei várias vezes em defesa de negros, sobretudo, porque o branco normalmente tinha dinheiro para constituir o seu advogado.
O facto de trabalhar nessa área permitia-lhe tomar contacto com certas injustiças da sociedade colonial?
Sim, essa consciência foi muito viva. De resto, como conto neste volume, muitas vezes íamos para o bairro africano que rodeava – e rodeia ainda – a cidade de cimento. Eu pertencia ao Cineclube e íamos filmar ou gravar as músicas que se cantavam e se dançavam nos subúrbios, aquela batucada, etc. Coisa que o meu irmão fez quando também lá esteve. Normalmente ao fim de semana íamos até ao bairro do Xepangara – o meu irmão tem uma canção ‘Lá no Xepangara’, era aí.
E o convívio era pacífico, não havia tensão?
Na Beira não havia, estava-se perfeitamente à vontade. Podia haver tensões com os polícias brancos que talvez não gostassem que a gente andasse por ali, mas por acaso nunca tivemos problemas dessa natureza. Regra geral ou íamos para o Xepangara – isto na Beira – gravar, filmar ou assim, ou então junto à praia. A fotografia da capa deste segundo volume é tirada na praia da Beira na parte menos frequentada pelos brancos.
E fora da cidade de cimento como eram as condições em que essas pessoas viviam?
Em Lourenço Marques a zona onde viviam os africanos eram palhotas também com contraplacado, chapas de zinco, uma construção muito densa, dificilmente penetrável pelo branco. Na Beira era uma coisa mais rarefeita, palhotas mais afastadas entre si… Era isso – era e é, ao que parece.
Condições muito primitivas, portanto…
O africano nunca teve condições para progredir. Esses bairros eram modestos, chamavam-se ‘palhotas maticadas’, com barro entre varas para fazer as paredes e o telhado de colmo, e tinham as suas galinhas, um ou outro com uma horta, um porco, era assim que viviam. E infelizmente parece que ainda vivem.
Para quem estava na Beira a guerra era uma realidade distante?
A guerra, até uma época muito tardia, mesmo perto do 25 de Abril, era uma coisa de que não se sabia. Quando o Zeca desembarcou em 1964 em Lourenço Marques para iniciar um contrato como professor por quatro anos, tinha começado a haver escaramuças no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, e não se sabia nada, absolutamente nada. Em Lourenço Marques a vida corria normalmente.
Como se nada se passasse?
E na Beira a mesma coisa, durante muito tempo. Mais tarde já havia uns pequenos boatos, por exemplo que o Marcelo Caetano tinha sido mal recebido em Londres, mas isto numa fase muito mais tardia, que Kaúlza de Arriaga com a sua campanha Nó Górdio não tinha dado resultado, e os guerrilheiros já estavam no planalto de Tete, tudo isso começava a saber-se, mas só numa fase muito tardia, e por algumas indiscrições de pessoas que passavam perto. De resto a censura fazia o seu papel e os jornais não se referiam a isso.
Conta que soube do 25 de Abril num café da Beira. O que lhe passou pela cabeça?
O 25 de Abril foi uma coisa que gerou muita perplexidade. Na Beira não sabíamos muito bem qual o caráter do 25 de Abril. As pessoas estavam animadas, era a ditadura que tinha ido ao ar, mas ao mesmo tempo havia receio de que fosse a direita da direita que governava o país a tomar o poder, que a coisa tivesse piorado. E só aos poucos foram chegando as notícias mais precisas, ao passo que a vida continuava na mesma: os polícias continuavam os mesmos, as chefias que mandavam nas cidades eram as mesmas, tudo parecia estar na mesma durante alguns meses.
Durante a fase da transição para a independência?
Sim, até se constituir o governo provisório, o Acordo de Lusaca, e haver aqueles acontecimentos trágicos em Lourenço Marques [um movimento de contestação ao Acordo e à descolonização resultou em confrontos, pilhagens, pânico e fuga em massa, nos dias 7 a 10 de setembro de 1974 e mais tarde a 21 de outubro]. Havia uma grande ignorância que só aos poucos foi sendo dissipada.
E a vida foi sofrendo alterações?
Do ponto de vista da economia de Moçambique, a vida já estava a piorar há bastante tempo. As coisas estavam a ter aspetos graves, do ponto de vista macroeconómico, das empresas, dos trabalhadores, mas à parte disso a vida fluía com aquela perplexidade em que estivemos durante muito tempo sobre o que se estaria a passar em Portugal. Perguntavamo-nos por que eram os mesmos sujeitos a ocupar os mesmos lugares em Moçambique.
Manteve sempre relações com o seu irmão nessas duas décadas que passou em Moçambique?
Não éramos muito assíduos, nem eu nem ele, mas escrevíamo-nos e tivemos sempre contacto. De resto, ele foi três anos professor em Moçambique, esteve na Beira dois anos e um em Lourenço Marques. Por outro lado, fez duas visitas com a tuna académica, de uns poucos dias, e havia sempre um relacionamento porque eu vinha a Portugal. Lembro-me por exemplo de ele ser professor em Faro e eu ir lá em janeiro, que era a altura das férias escolares em Moçambique até uma certa fase. Houve sempre muitos contactos. Vim cá muitas vezes. Quando ele foi detido pela PIDE em Caxias, vim cá e no próprio dia em que eu cheguei ele foi libertado. Fui com o tio Filomeno a Caxias buscá-lo.
Estava a par desses problemas dele com a PIDE?
Claro, estava perfeitamente a par, acho que toda a gente sabia. Aliás, alguns discos foram proibidos pela censura. As perseguições que o meu irmão sofreu eram do meu conhecimento lá em Moçambique. E eu tinha os discos dele em triplicado. Era ele que me mandava, era a minha sogra que me mandava e eu comprava [risos].
Sendo advogado não lhe dava aconselhamento?
Conselhos não, não dava, nem ele os aceitaria. Mas às vezes comentávamos. Tive conhecimento dos problemas que ele teve em vários locais por onde andou, que culminaram nos problemas em Setúbal, quando não foi revalidado o seu contrato como professor do liceu de Setúbal. Isso forçou-a a dedicar-se à atividade de cantor. Só nessa altura passou a ser uma espécie de cantor profissional. O meu irmão costumava dizer que o que gostava de fazer era de ensinar. Mas cá para mim também gostava de cantar.
Além das recordações que registou neste livro, também trouxe objetos de Moçambique? A certa altura refere um caixote que fica retido, e quando o recebe um ano depois o conteúdo está completamente danificado.
Isso foi um caixote que eu deixei preparado, pedi ao meu compadre Simões para o embarcar num navio que lá estava pronto para zarpar, passei-lhe procuração, mas o caixote, com aquelas complicações, ficou no cais. De vez em quando esse amigo punha-lhe um oleado por cima, mas quando cá chegou o caixote estava praticamente tudo destruído. Eram livros, discos, coisas assim menores, um quadro do Malangatana que também ficou completamente destruído… Tenho-o agora numa arrecadação.
Há pessoas que trazem esculturas de madeira, objetos de marfim, artesanato…
Não, não trouxe nada disso. Só tenho duas máscaras africanas à entrada de casa, não tenho mais nada.
Este segundo volume termina em 75. Ficamos curiosos sobre como foi a sua vida a seguir, o regresso a Portugal.
Não quero que veja nisto uma falsa modéstia, mas essa foi uma preocupação que tive: falar das minhas memórias mas não falar excessivamente de mim. Para falar do resto teria de contar que andei de Herodes para Pilatos aqui em Lisboa. Tendo andado aqui, trabalhado acolá, passado para ali, fiquei a conhecer a cidade muito bem e hoje, se me perguntam de onde sou, digo que sou lisboeta. Nasci em Aveiro e vivi em África, mas realmente nunca estive tanto tempo noutra terra como em Lisboa.
E continuou a exercer advocacia?
Entretanto enfiei-me numa função do Estado e à margem fiz uma ou outra coisa mas sem remuneração. Considero-me advogado até ao fim, porque fui sempre exercendo e há três anos fiz o meu último julgamento, embora já estivesse reformado, numa causa própria. Finalmente desliguei-me, deixei de pagar quotas e deixei de exercer.
Presumo que o regresso a Portugal lhe tenha permitido acompanhar com outra proximidade o percurso do seu irmão, que depois do 25 de Abril adquiriu grande notoriedade.
Claro. Acompanhei sempre o meu irmão.
Costumava assistir aos concertos dele?
Alguns. Mas os concertos demoravam até às tantas e depois a noite ainda continuava. E eu tinha de trabalhar. Nem sempre era possível estar ali a noite toda, porque muitas vezes no dia seguinte teria de ir trabalhar de manhã. Mas acompanhei algumas sessões.
Alguma que tenha ficado mais na memória?
Foi aquela época de grande entusiasmo coletivo, quer aqui em Lisboa, quer no Alentejo, etc.
Conta no livro que recentemente numa visita a Belmonte deparou-se com uma estátua do seu irmão. Sendo ele o irmão mais novo, para si às vezes é estranho ver que aquele rapazinho que conheceu tão de perto se tenha tornado uma figura que é celebrada em toda a parte e por toda a gente?
Eu não o conheci só rapazinho! [risos] Conheci o sujeito que vai evoluindo ao longo do tempo e que muitas vezes me conta as suas coisas mais profundas, as suas dúvidas, angústias, etc. – isso era próprio do meu irmão. Acompanhei a evolução toda dele, portanto não me espanta que ele seja consagrado. Espanta-me que em Belmonte tenham substituído a placa que havia no largozinho onde nos encontrávamos com as meninas Martinhos, que eram umas meninas já entradotas, madrinheiras – imaginavam casamentos das crianças que nós éramos com pessoas da terra, o Zeca casava com Helena Cabaço e eu casava com não sei quem.
Mas o que estranho é que tenham posto no largo uma estátua de corpo inteiro do meu irmão. Com esta pecha de quererem reproduzir fisicamente a pessoa, em vez de pôr uma coisa simbólica, está lá um tipo que não é de forma nenhuma o meu irmão na tromba – desculpe a expressão [risos]. É que nem sequer posso considerar que seja parecido. A intenção foi boa, mas realmente não é o Zé Afonso que está ali, é uma outra pessoa, com outra pele. O melhor é ir para composições abstratas, simbólicas. Mas as pessoas fazem questão em reproduzir. E traduzir uma figura em mármore ou em bronze não é para todos.