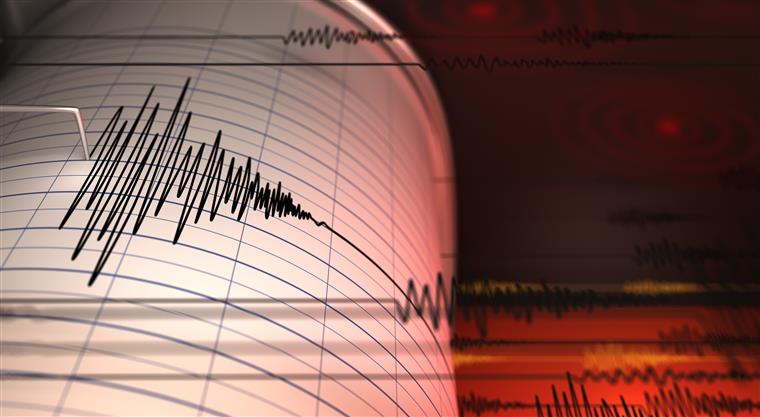A arquiteta paisagista Teresa Andresen foi, na passada sexta-feira, a primeira laureada com o recém-criado prémio Gonçalo Ribeiro Telles, uma iniciativa partilhada pel’A Causa Real, o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, a Ordem dos Engenheiros e a Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas. Momentos antes de receber a distinção, conversou com o i na Gulbenkian sobre o seu percurso, a necessidade premente da harmonia do território, o futuro do mesmo e, claro, sobre jardins, esse local de experimentação milenar que tanto nos diz sobre como vivemos. Ou, afinal, como deveríamos viver.
A que sabe ser a primeira pessoa laureada com o prémio Gonçalo Ribeiro Telles (GRT)?
Para mim, o que está em causa não é a questão de ser a primeira pessoa, mas a iniciativa destas quatro instituições, e da própria família de Gonçalo Ribeiro Telles, que se organizaram para criar este prémio para preservar o legado da sua memória.
Privou com GRT?
Sim, muito, ao longo da minha vida profissional. Tivemos uns encontros sempre muito animados. Gonçalo Ribeiro Telles é uma pessoa que transporta uma alegria muito contagiante, que tem uma curiosidade permanente pelo que se passa e quer sempre saber as novidades que lhe trazemos.
Para lá do elogio a GRT, também vemos este prémio surgir numa altura em que a Arquitetura Paisagista e a organização do território começam a estar cada vez mais na ordem do dia, até por força das alterações climáticas. Este interesse pela harmonia do território já vem tarde?
Nunca vem tarde. E Ribeiro Telles foi o grande arauto disso. Desde os anos 70, até mesmo antes, que Ribeiro Telles chama a atenção para os problemas do ambiente, para a forma como o Homem trata a natureza. Agora, tem toda a razão: o momento que vivemos é grave. O que se está a passar hoje na Austrália não é um acontecimento que tem que ver com os australianos, mas com todos nós. Hoje a escala global a que tratamos o problema leva-nos a ter esta perceção. E, portanto, penso que o prémio pretende também continuar a manter na primeira linha, digamos assim, não apenas o discurso pelo ambiente, pela defesa da qualidade de vida e pela valorização do património, mas chamar a atenção para a prática. É a prática que está em causa. Hoje temos que ser muito mais criativos, até porque temos muitos mais meios para o fazer, e refiro-me nomeadamente aos meios tecnológicos que possibilitam essa intervenção no meio ambiente. Estamos muito mais informados, temos muitos mais meios, só podemos fazer melhor – e, não sei porquê, parece que nem sempre é assim.
Licenciou-se em 1982. Sempre sentiu o apelo da Arquitetura Paisagista?
Vem da minha juventude, foi uma opção feita logo nessa altura. Sempre estive muito ligada ao mundo da natureza e sempre gostei muito de jardins. E o jardim é, digamos, o ecossistema de base da arquitetura paisagista. Foi uma escolha muito intencional e sou muito feliz por ter sido arquiteta paisagista. Foi uma sorte enorme.
Podemos dizer, então, que o jardim foi o seu chamariz?
Nasci num quintal enorme, num jardim enorme, no qual passei muitas horas sozinha. Era a mais nova dos irmãos, os outros já tinham seguido os caminhos, e passei muito tempo com a minha mãe enquanto ela jardinava. Havia uma horta, havia um jardim, havia galinhas, cães, tudo. Ainda hoje sou jardineira, cultivo a minha horta e isso dá-nos vida e põe-nos os pés na terra. Ou melhor, a mão na terra. E isso é muito importante para o bem-estar, e para o bem estar da sociedade.
O jardim de que fala não é o atual Jardim Botânico do Porto, que pertenceu à sua família [Teresa Andresen é sobrinha de Sophia de Mello Breyner]?
Não, nada disso! Era um quintal suburbano, na praia da Granja, à beira-mar, em Vila Nova de Gaia.
Certo, porque essa casa no Campo Alegre (Casa Andresen) foi vendida em 1949.
Essa casa foi comprada pelos meus bisavós, e a minha bisavó era uma grande jardineira, uma grande artista, era também escultora.
A sua bisavó Joana?
Sim. Não a conheci, não conheci nada do mundo que ela criou, só a conheci através da mágica que os seus descendentes têm deixado a todos nós.
Voltando aqui ao cerne da arquitetura paisagista: em termos de gestão e de ordenamento do território qual é a atrocidade mais amplamente cometida?
Acho que é a nossa incapacidade de vermos, de nos confrontarmos e de tomarmos medidas para contrariar o abandono da gestão da paisagem. Isto é transversal de norte a sul. A grande maioria do nosso território está abandonado, não é jardinado. E essa é a grande crise que temos. Estamos ainda muito amarrados a uma memória – acredito que as gerações mais novas não estejam, porque não a podem ter – de uma outra forma de fazer paisagem que acabou. Testemunhei o final de um período da história.
Qual é essa forma a que se refere, fala do cultivo dos campos?
Falo do cultivo. Dos campos, das montanhas, de tudo. Da agricultura e floresta. Gostaria muito de ver Portugal – vamos falar de Portugal, mas também podemos falar da Europa – a construir uma política agrícola e florestal nacional que fosse um instrumento de base no território. Sabemos que os proprietários não têm essa capacidade de cultivo, então temos de reinventar as formas de apropriação do território para o podermos gerir. Sobretudo, isto pede a organização da sociedade e reclama sistemas simples. De facto, nós não estamos lá nos territórios longe, naqueles que ardem, onde ocorrem as cheias, onde todos esses flagelos acontecem. Mas podemos recorrer aos animais que domesticámos ao longo de tantas gerações e com os quais aprendemos nesta revolução da agricultura, já com tantos milhares de anos. Há que reaprender. Claro que isto não é para ser feito com o arado, dessa forma. Hoje temos possibilidades de mecanização de vários níveis. E o que tem sido feito é que a mecanização é quase sempre a mesma, aplicada a todos os territórios, independentemente das suas características e vulnerabilidades. Já o pastoreio, que sempre foi uma atividade fundamental, tem que ser repensado. Queremos ter isso em conjunto com a preservação da vida selvagem, e às vezes não é exatamente compatível. Há soluções para a forma como temos que compartimentar e gerir a paisagem, temos é que as experimentar, pô-las em marcha e ser contagiantes nesse exercício.
Quer dar exemplos?
Há gente a fazer isso de que falo, organizações privadas que dão esse exemplo. Acompanho algumas e recordo-me, por exemplo, da Montis, que vem a comprar territórios, havendo até pessoas que lhes entregam as suas terras para gerir, com base no voluntariado. Tenho esperança e acredito que há bons modelos. Agora é difícil comunicá-los e conquistar a adesão para eles, mas acredito que vão ser incontornáveis. Em muito do nosso território não sabemos quem é o dono, ou o dono está ausente, e portanto é impossível. Não podemos querer ter a paisagem que já tivemos, terá que ser uma outra que teremos que inventar. A paisagem que temos neste momento tem que ser reinventada e tem que ser melhor gerida. É o grande problema da gestão da paisagem no seu geral.
Vê nas novas gerações o interesse e a preocupação com este tema da ordenação do território?
Vejo. Temos gente muito atrevida a fazer pequenas experiências, nas quintas. Pessoas que fizeram novas opções de vida – são os novos rurais, se nos permitirem chamar – que estão a fazer coisas notáveis com grande sacrifício. Tenho a certeza de que terão cada vez mais visibilidade. De resto, nós próprios temos de mudar os nossos hábitos de vida, de alimentação, de como nos deslocamos, de como nos recriamos.
Está a falar da mobilidade suave, da redução do consumo de carne, etc.
De tudo isso. A forma como nos vestimos, como gerimos o lixo. Isso vai levar-nos a comportamentos muito diferentes e vamos ter novas exigências. Neste processo, acredito muito no futuro da arquitetura paisagista, uma profissão perpetuada há milénios na arte do jardim.
E que foi extravasando cada vez mais esses limites.
Passa por fases más, nunca é um profissão de muitos – como os advogados ou engenheiros. É uma profissão que resiste, sobrevive, mas que é combativa.
Atualmente é a presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos. Que radiografia faz do interesse dos portugueses por este tipo de equipamentos?
Têm-me dito que os jardins estão na moda, e eu ando feliz com esta animação toda que me têm dado! Assim seja. O que acontece é que é um património efémero pela sua componente vegetal, pelo seu sistema de água que tem que ser permanentemente mantido. Sinto que o património precisa gritantemente de apoio até porque os jardins e quintas históricas, as cercas conventuais e os santuários são estruturas ordenadas, geridas na paisagem, que o Homem nunca abandonou. E portanto eles guardam esse segredo de saber gerir a paisagem.
Há ainda muito património desconhecido?
Há. Há património desconhecido e há, sobretudo, património ignorado.
Estamos no jardim da Gulbenkian, ao fim e ao cabo um símbolo nacional que será agora ampliado. Acha que este projeto é um presente excecional ou um presente envenenado?
Acho que é uma oportunidade excecional. A Gulbenkian, de facto, é uma instituição que nos tem habituado a muitos presentes, tem sido muito generosa para com a sociedade portuguesa. Mas da apresentação que vi acho que é um projeto muitíssimo bonito, que conseguiu encontrar o espírito da Gulbenkian e que o saberá perpetuar.
Qual é o seu jardim preferido?
O meu.