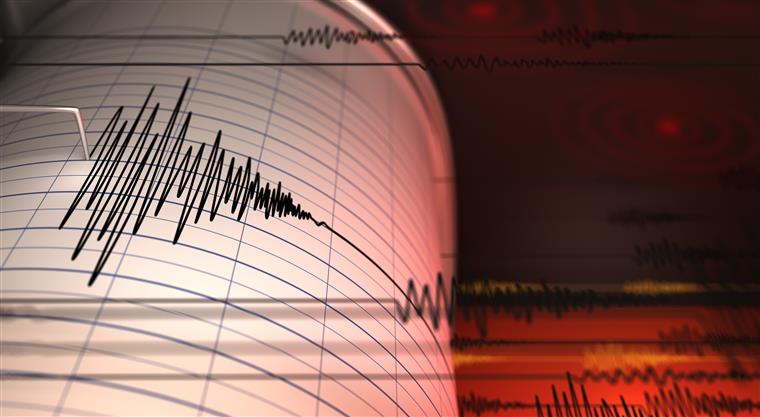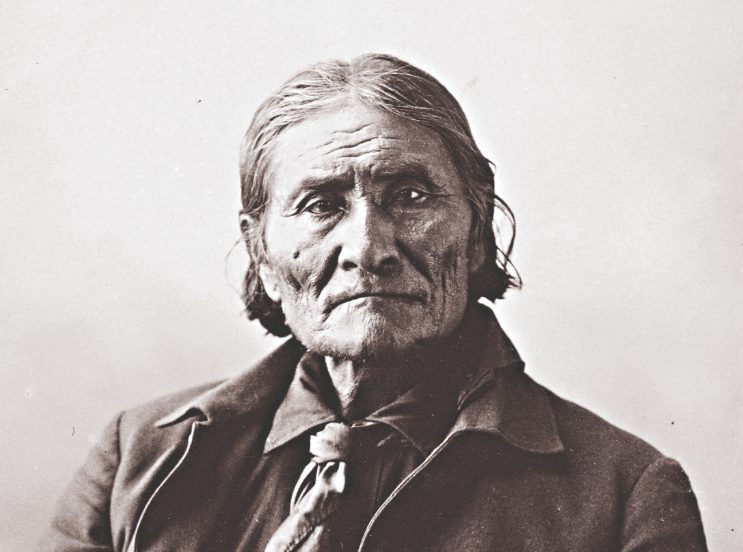Uma das razões pelas quais admiro actores como Jason Robards (que morreu no ano 2000) e Tom Hanks (felizmente bem vivo) é por terem interpretado magnificamente a figura de Ben Bradlee (1921-2014), o grande jornalista que foi editor e, depois, editor-executivo (i. e. director) até 1991 do “The Washington Post”, sobretudo durante o tão conturbado período entre 1965 e 1975, desde o auge da guerra do Vietname até à queda de Saigão e à ocupação da embaixada dos EUA pelo Vietcongue, em 30 de Abril de 1975, que assinalou a derrota definitiva das tropas norte-americanas.
Nesse tão conturbado período, por causa e para além da guerra do Vietname, os EUA foram abalados, primeiro, pelas escandalosas revelações contidas nos ultra-secretos “Pentagon Papers” – que trouxeram à luz do dia as mentiras sistemáticas sobre o envolvimento de militares norte-americanos na Indochina, desde 1951, por parte das administrações presidenciais de Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson – e, depois, pelo incrível assalto à sede do Partido Democrático, situada no edifício “Watergate”, em Washington, levado a cabo por um grupo de colaboradores directos do presidente Richard Nixon, pela calada da noite, como vulgares gatunos, assalto esse que – graças à corajosa investigação levada a cabo pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein para o “The Washington Post” – iria desencadear o “impeachment” do presidente dos EUA, que Nixon preferiu evitar demitindo-se em 8 de Agosto de 1974.
Dois belos filmes registaram para sempre esses dois episódios dramáticos da História dos EUA. Primeiro, em 1976, o magnífico filme de Alan J. Pakula, “All the President’s Men” (“Os Homens do Presidente”), sobre o “Caso Watergate”, com Robert Redford e Dustin Hoffman nos papéis de Bob Woodward e Carl Bernstein, e Jason Robards no papel de Ben Bradlee. E agora, em 2017, o excelente filme de Steven Spielberg, “The Post”, sobre os ultra-secretos “Pentagon Papers”, com Tom Hanks no papel de Ben Bradlee e Meryl Streep no papel de Katharine Graham (1917-2001), corajosa “owner” e “publisher” do “The Washington Post”. Sendo que o filme de Alan Pakula é, pelos acontecimentos de retrata, a sequência histórica do filme de Spielberg. Devo dizer que não conheço actualmente nenhum “patrão de Imprensa” que se assemelhe, de perto ou de longe, a Katherine Graham, nem qualquer director ou chefe da redacção de um jornal de referência que chegue sequer aos calcanhares de Ben Bradlee.
É justo referir que os “Pentagon Papers” – dossier do Pentágono que contém a história ultra-secreta do envolvimento militar dos EUA na Indochina (desde 1951) e na guerra do Vietname (desde 1959), que foi encomendada por Robert McNamara (1916-2009), Secretário da Defesa de John Kennedy e de Lyndon Johnson, a mais de 30 especialistas civis e militares sob anonimato – começaram por ser revelados pelo jornal “The New York Times”, graças ao trabalho de vários jornalistas, entre os quais se destacam Neil Sheehan e Hedrick Smith, e só depois é que o “The Washington Post” pegou no dossier e continuou a divulgá-lo. Devo salientar, porém, que o então director do “The New York Times” era um jornalista reaccionário, chamado Abe Rosenthal, que engendrou um esquema sinistro para impedir a publicação das investigações de Ralph Nader, famoso advogado dos consumidores e ambientalista, e decidiu proibir quaisquer citações e referências a Noam Chomsky e a outros intelectuais.
Tudo isto, e bastante mais, fez parte das bandeiras de luta da minha geração nas décadas de 1960 e 1970 (designadamente os protestos contra as guerras coloniais) e também da profissão que mais gostei de exercer em toda a minha vida: o Jornalismo, primeiro como colaborador da revista “O Tempo e o Modo” e, depois, como jornalista profissional nos diários “A Capital” e “O Século”, antes do 25 de Abril, tendo sido sempre a guerra do Vietname um tema recorrente até 1974. Tanto mais que a sua condenação como guerra colonial era uma forma indirecta a que recorríamos para tentar contornar a Censura instituída pela ditadura e condenar também as guerras coloniais desencadeadas por Salazar em Angola, Guiné e Moçambique.
2. Entretanto, passam agora exactamente 50 anos sobre o episódio militar que marcou o início da derrota da tão longa e bastante mortífera intervenção militar dos EUA, não só no Vietname mas também no Laos e no Camboja. A fulgurante ofensiva do Tet (dia do novo ano lunar), iniciada em 31 de Janeiro de 1968 com um audacioso ataque à embaixada dos EUA em Saigão, atingiu os seus pontos culminantes durante o mês de Fevereiro. Para nos apercebermos da sua importância e amplitude, basta recordar que o próprio comandante-chefe dos 525.000 soldados norte-americanos em combate no Vietname, o general William Westmoreland, comunicou aos chefes do Estado-Maior conjunto, em Washington, e ao Secretário da Defesa, Robert McNamara, que “não mais do que 20 a 35 % das forças norte-vietnamianas” (!) tinham atacado, no dia 4 de Fevereiro, nada menos do que 34 cidades capitais de províncias, 64 cidades sedes de distritos e todas as pequenas cidades autónomas, no Vietname do Sul.
Claro que esta “confissão”, digamos assim, do general Westmoreland, servia para ele e os chefes do Estado-Maior conjunto reclamarem mais reforços: nada menos do que 206.756 homens, que elevariam o contingente de forças militares norte-americanas para 731.756 efectivos, implicariam a chamada de reservistas (que eram, nessa altura, 280.000) e a instauração de uma autêntica “economia de guerra” nos próprios EUA. Uma perfeita loucura, que culminaria a “escalada” iniciada durante a presidência de Kennedy. Só então o presidente Johnson se deu conta de que se tratava de manter uma guerra sem fim, cuja derrota era prevista pelos próprios peritos civis e militares que McNamara tinha convidado a elaborar os “Pentagon Papers”. Incapaz de dissuadir as gigantescas manifestações de protesto contra a guerra, quer no plano interno quer por todo o mundo, e de fazer frente aos “falcões” militares e civis, Johnson teve pelo menos o mérito de recusar os reforços gigantescos reclamados, determinando que o “tecto” do contingente militar no Vietname nunca poderia ultrapassar os 525.000 efectivos. Decidiu, também, mandar recuar até ao paralelo 20 a zona limite para os bombardeamentos aéreos norte-americanos no Vietname do Norte. Como o próprio McNamara confessaria, décadas mais tarde, os bombardeamentos “Rolling Thunder” (tapete de bombas contínuo) consistiram no lançamento de duas a três vezes mais bombas por dia, do que em toda a Europa durante a II Guerra Mundial (!). Johnson anunciaria, por fim, que não se recandidataria ao cargo. Mas não conseguiu ordenar uma “desescalada”, tendo em vista o final, a prazo, da intervenção militar.
3. Um grupo de jovens que reunia representantes das várias tendências da oposição de esquerda à ditadura (em que eu era, imagine-se, um dos social-democratas de serviço) constituiu, nessa altura, à semelhança do que estava a acontecer por essa Europa fora, um “Comité Vietname”, de luta contra as guerras coloniais, cuja primeira manifestação que organizou foi em frente da antiga sede da embaixada dos EUA em Lisboa, no cimo da avenida Duque de Loulé. A pretexto do protesto contra a guerra do Vietname, que era genuíno e sincero, a manifestação depressa se transformou num protesto contra as guerras coloniais em África, com cargas da “polícia de choque” e grandes correrias para evitar as bastonadas, as dentadas dos cães e as detenções. Creio que terá sido a primeira vez que a “polícia de choque” utilizou cães treinados para tentar dispersar as manifestações contra as guerras coloniais e contra a ditadura.
O ano de 1968 foi, por assim dizer, deveras “escaldante” em Portugal e no mundo. Por cá, Salazar caiu duma cadeira no forte de Santo António, no Estoril, em 6 de Setembro de 1968, e foi substituído na “cadeira do poder”, em 27 de Setembro, por Marcelo José das Neves Alves Caetano. O novo ditador inauguraria o mau hábito de fazer sinal de virar à esquerda com o “pisca-pisca”, acabando, porém, por virar sempre à direita. As guerras coloniais prosseguiram e a ditadura continuou mas com as novas farpelas que Marcelo Caetano lhe vestiu: a União Nacional (UN), o partido único do Estado Novo, passou a chamar-se Acção Nacional Popular (ANP); a Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) passou a chamar-se Direcção-Geral de Segurança (DGS) mas todos os oposicionistas passaram a chamar-lhe PIDE-DGS; também a Comissão de Censura mudou de nome passando a chamar-se Comissão de Exame Prévio; já o Secretariado Nacional da Informação (SNI), instrumento de propaganda do regime, foi elevado à categoria de Secretaria de Estado da Informação e Turismo, sem respeito pelos versos dum poeta de terceira ordem que exaltava o grande propagandista do regime: “E se parte este passo do SNI / É justo António Ferro honrar aqui”. A rima estava certa, é verdade! Mas não os “travestis” realizados pelo novo ditador, Marcelo Caetano, preso à ideia de que seria preciso que alguma coisa mudasse para que o regime continuasse como estava há três décadas. E lá se aguentou como pôde, até 1974.
No mundo – e para além da guerra do Vietname, onde ocorreria, em Março de 1968, o terrível massacre de My Lai, perpetrado por soldados norte-americanas contra velhos, mulheres e crianças – os acontecimentos mais dramáticos concentraram-se no próprio território dos EUA, não só por causa das gigantescas manifestações contra a guerra reprimidas com violência, mas sobretudo por causa de dois trágicos assassinatos. Em Memphis, no dia 4 de Abril, foi morto a tiro o líder do movimento pelos direitos civis, Martin Luther King. Em Los Angeles, no dia 5 de Junho, foi morto a tiro o senador e ex-ministro da Justiça Robert Kennedy, irmão do Presidente assassinado em Dallas cinco anos antes. Na Europa, a revolta dos estudantes franceses, em Maio de 1968, dominou os noticiários durante algumas semanas, mas hoje bem sabemos como muitos dos que então arrancaram pedras da calçada para as arremessar contra a polícia acabaram por se transformar, vários anos depois, em personagens idênticos aos que tanto odiavam nessas jornadas de Maio, numa mistura confrangedora de mimetismo e oportunismo. Bem mais trágica foi a invasão da Checoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia, no dia 21 de Agosto, para esmagar, qual rolo compressor, a chamada “Primavera de Praga”, liderada por Alexandre Dubcek, o reformista que, em Janeiro, substituíra o estalinista Antonin Novotny como líder do Partido Comunista da Checoslováquia. O mundo vivia em plena “Guerra Fria”, porventura bem mais quente do que fria…
4. O admirável documentário realizado por Errol Morris em 2003, “The Fog of War – Eleven Lessons From the Life of Robert S. McNamara” (“Testemunhos de Guerra” na versão em Português), no qual o antigo Secretário da Defesa de Kennedy e Johnson, então com 85 anos, faz um balanço da sua vida e da História contemporânea dos EUA, há um episódio extraordinário em que Robert McNamara relata pormenores da sua visita aos seus ex-inimigos do Vietname do Norte, nos anos 90. É quando ele discute acaloradamente com um ex-ministro das Relações Exteriores do Vietname sobre as razões que motivaram uma guerra tão longa e mortífera, na qual os vietnamianos sofreram 3.400.000 vítimas. McNamara explica que os EUA encararam sempre a guerra como um conflito inserido na “Guerra Fria” (bastante “quente”, aliás, como ele próprio salienta). Mas o ex-ministro vietnamiano replica, implacável: “O senhor nunca leu um livro de História porque, se tivesse lido, saberia que nós nunca fomos joguete dos russos e dos chineses. O senhor desconhece que nós lutamos contra os chineses há mais de mil anos”. Ou seja, para os vietnamianos tratava-se, afinal, de uma guerra civil em busca da unificação e da independência do Vietname, estando dispostos a vencê-la por mais tempo que ela durasse e por maiores que fossem os sacrifícios.
Uma das lições que McNamara nos transmite logo no início do documentário, com particular lucidez, inteligência e sinceridade, é a da necessidade de “criarmos empatia com o inimigo” quando enfrentamos uma grave crise, isto é, colocarmo-nos na pele dele e tentarmos perceber o que ele pensa de nós para melhor o compreendermos. Foi isso que permitiu evitar uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis soviéticos instalados em Cuba, através dos dramáticos contactos entre Kennedy e Krustchev até chegarem à conclusão de que ambos os lados não queriam a mútua destruição maciça dos respectivos países, nem o desaparecimento puro e simples de Cuba da geografia física e política, depois de arrasada por bombas atómicas.
Ora, como reconhece Robert McNamara com enorme coragem, no caso da guerra do Vietname, nem ele nem os sucessivos Governos dos EUA souberam criar a tal “empatia com o inimigo” que lhes teria permitido perceber quais as suas verdadeiras intenções e compreender, assim, que não se tratava de mais um conflito inserido na lógica da “Guerra Fria”, mas sim de uma luta pela unificação e independência do Vietname, não estando realmente em causa o alastrar da hegemonia soviética e, ainda menos, da hegemonia chinesa àquela região do Sueste Asiático. McNamara reconhece a sua falta de cultura histórica, que o levou a cometer erros de avaliação e a tomar decisões fatais que só contribuíram para o agravamento da guerra. E a verdade é que eu não conheço nenhum político que alguma vez tenha reconhecido publicamente os seus erros graves ao fazer o balanço de uma vida no exercício dos mais altos cargos públicos.
5. Meio século passado sobre a guerra que marcou uma geração e sobre o escândalo que levou à demissão de um Presidente dos EUA, é infelizmente possível afirmar, em 2018, parafraseando o que disse o grande jornalista Edward Behr em 1995, que “esta nova América mete medo”. A América que elegeu George W. Bush e que aceitou invadir o Afeganistão, o Iraque e a Líbia, e incitou à guerra civil na Síria, está bem longe de ter compreendido as lições da guerra do Vietname. E a América que elegeu Donald Trump está ainda mais longe de ter compreendido as lições do escândalo Watergate e o papel desempenhado por uma Imprensa verdadeiramente livre como condição de equilíbrio, vitalidade e sobrevivência de uma democracia. O poderio material e a superioridade tecnológica não constituem, infelizmente, uma base moral e intelectual associada a um conhecimento da História. É provável que Clinton e Obama apresentassem laivos dessa “estrutura mental” tão necessária para governar uma grande nação, mas foram ambos suficientemente fracos e cometeram ambos gravíssimos erros, que bastaram para dar origem a dois sucessores ignorantes, belicistas e extremamente perigosos: George W. Bush sucedeu a Bill Clinton e Donald Trump a Barack Obama.
Nestas duas primeiras décadas do século XXI, quer os Estados Unidos da América quer a União Europeia entraram numa “espiral de declínio” que não sabemos se é possível travar. A par da degradação das respectivas democracias, ambas as “potências” deste Ocidente cada vez mais arrogante e belicista continuam a viver dominadas pelo poder financeiro das multinacionais e da plutocracia, com uma Imprensa cada vez mais frágil e dependente desse poder e com políticos cada vez mais condicionados por ele. Nestas sociedades em que escasseiam as ideias mais nobres e as convicções mais profundas, e em que abundam a ganância do lucro, o oportunismo político e o “alpinismo social”, fazem cada vez mais falta a memória e o conhecimento da História, para não repetir os mesmos erros e trilhar outros caminhos para a paz e o bem-estar dos povos.
O autor escreve de acordo com a antiga grafia