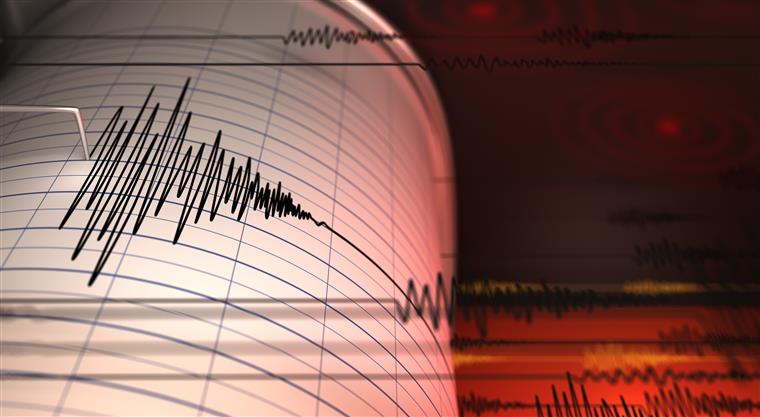Em 1959, Portugal vivia a preto e branco, com Salazar, a PIDE e a censura. Resistir não era fácil, e a minha infância mais remota, ainda que feliz e confortável, deixou–me muitas imagens fragmentadas de agitação conspirativa num meio claramente antissalazarista, numa casa de portas abertas onde tudo se discutia e onde também se conspirava na proporção das cumplicidades, da informação e dos sinais que vinham de dentro e fora do país.
Entre várias relíquias desse tempo guardo comigo um velho número da “Paris-Match”, revista tolerada pelo regime mas que ainda assim, e porque então publicara as primeiras imagens da revolução cubana de 1959, fora rapidamente retirada das bancas pela censura.
Cresci a olhar com romantismo a originalidade de Fidel na conquista de Havana com os barbudos da serra Maestra, ali bem ao lado do gigante americano, rechaçado depois na baía dos Porcos, e guardo com nitidez a ansiedade daqueles dias dramáticos da crise dos mísseis, com a casa agitada e à volta do velho aparelho de rádio, entre a BBC e a Rádio Moscovo. Entrei assim na adolescência com o gene da política, com Fidel e o Che, enquanto Cuba resistia (até hoje) ao cruel embargo dos americanos, também altamente responsável pela perpetuação de Fidel no poder.
Imponente como os puros que fumou, Fidel governou em ditadura de partido único, perseguindo intelectuais e artistas e discriminando minorias, é certo. Mas nem por isso Miami voltará a lupanar de Batista porque, de facto, Cuba nunca foi a Coreia do Norte. Disso estão cientes na sua pele os cubanos, um povo admirável. E culto.