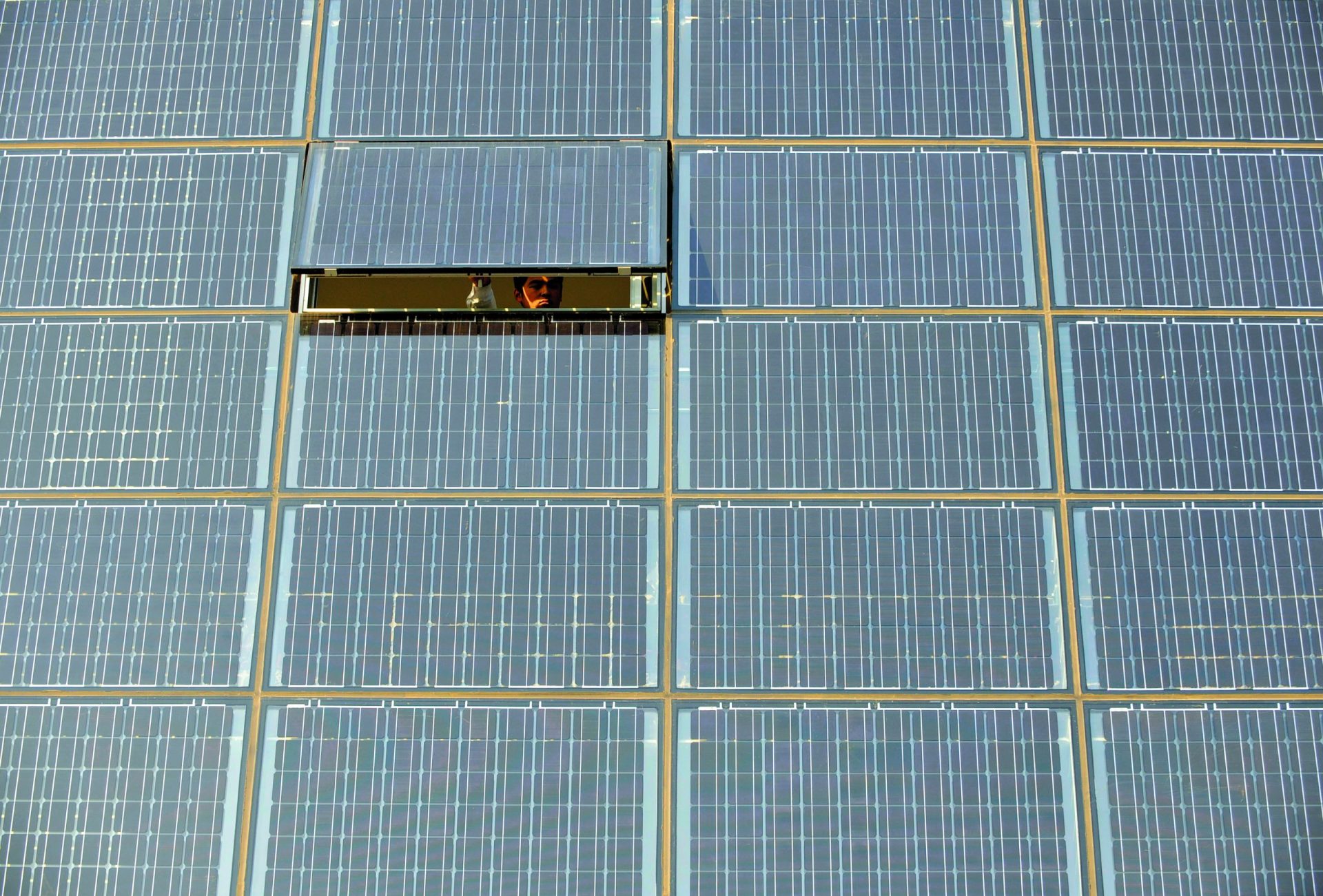Lígia Morais e Carla Santos fazem parte do movimento #euvivo, que nasceu no mês passado e pretende dar visibilidade à violência obstétrica. Os testemunhos que lhes chegam são de todos os tipos, já que a brutalidade para com as mulheres tanto pode ser física como psicológica, existindo ainda o risco de a relação mãe-filho ficar afetada pela forma como o parto se deu. Os relatos falam em racismo, xenofobia e homofobia. É uma luta de poder que passa por refletir sobre a saúde e sobre o papel da mulher na sociedade.
Como nasceu o movimento #euvivo?
O movimento nasceu no dia 21 de outubro deste ano devido à recusa e negação de que existia violência obstétrica por parte dos médicos. Tudo isto advém também de várias propostas que existem atualmente: uma delas é da deputada não inscrita Cristina Rodrigues que tem um projeto-lei. Desde aí, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos vieram insistir que não existe este tipo de violência.
Num espaço de 10 dias montámos uma manifestação, em quatro locais do país, para mostrar que sim: a violência obstétrica existe. Pedimos relatos e, em duas semanas, foram quase 300 testemunhos de mulheres que passaram por isto. O principal motivo foi a negação total da Ordem dos Médicos (OM). O movimento é constituído maioritariamente por vítimas.
Que mensagem querem passar?
Se a violência obstétrica não existe, então vamos para a rua, em frente à sede da Ordem dos Médicos, para dizerem isso na nossa cara. A nós, que somos vítimas. Pedimos para que nos entregassem relatos e os senhores da Ordem dos Médicos não os receberam. O nosso objetivo é dar visibilidade à violência obstétrica. Estamos a representar milhares de mulheres.
De onde vem essa negação por parte da Ordem dos Médicos?
É uma questão de semântica. Partem do princípio de que não existem casos de violência obstétrica porque, de facto, não existe violência obstétrica. É a mesma situação de dizerem a um agressor de violência doméstica que não existe violência doméstica. No fundo, estão a tapar a palavra violência – e que é necessária, porque queremos dar um contexto de vítimas às mulheres que passam e passaram por isto. Porque com o estatuto de vítimas existe uma série de mecanismos aos quais se podem agarrar.
A violência obstétrica materializa-se de que forma?
Manifesta-se de várias formas e acaba por ser um poço onde vários preconceitos vão acabar por eclodir como por exemplo a gordofobia e a homofobia – porque existem também relatos de casais lésbicos terríveis. Mas continua: existe transfobia e fobia com a idade – onde começam a tratar as mulheres de forma diferente e negativa. Encontra-se também muito racismo e xenofobia, assim como classicismo.
Existe uma hierarquia quando entramos num hospital – parece quase um serviço militarizado. Nós, mulheres, estando numa situação vulnerável, ficamos em último. Nós recebemos, nos testemunhos que nos chegam, casos reais de violência e assédio sexual. A violência psicológica é física, como por exemplo bater nas pernas, agarrar as mãos ou amarrar.
Temos um caso de uma pessoa que está dentro do nosso movimento onde agarraram-lhe os braços e uma médica forçou um toque vaginal – e isto é assédio sexual. Isto acontece todos os dias. Não é corriqueiro. Está normalizado que o corpo de mulher tem de estar disponível para o que entenderem. Existe a legitimidade de usarem o corpo da mulher e fazerem o que quiserem.
Por que acontece isso?
Porque para os médicos e enfermeiros o importante é que o bebé nasça. Para muitos não interessa o como. E o processo é importante. Claro que não estamos a negar que tenha existido uma grande evolução ao nível da obstetrícia, claro que existe e é inegável. O movimento não questiona isso. Até pelo contrário. Nós precisamos da ciência e dos profissionais de saúde. Mas é preciso tratar as mulheres como ser humanos.
A mulher não é tratada como um ser humano?
Não. É preciso pensar qual é o contexto de uma mulher parir e em que modos a mulher irá dar à luz e, principalmente, dar o tempo necessário. E não “tens de parir no meu turno” – porque isso é uma violência. Quando nós, mulheres, ouvimos isto, não é fácil: pensar que agora tenho de ir para o hospital e tenho de parir em 12 horas quando, na verdade, um parto até pode demorar 24 horas ou mais.
É no fundo uma opressão da mulher?
Claro. Existe um afunilamento das opções da mulher para servir o profissional de saúde e, quem está no centro do parto é, na verdade, o médico e não a mulher. A lei diz que a mulher tem que ser tratada segundo as melhores condições da Organização Mundial de Saúde (OMS) e as recomendações dizem que é a mulher que tem de estar no centro dos cuidados. A violência obstétrica manifesta-se, no fundo, por um total desrespeito à mulher. Não existe nenhum Hospital em Portugal onde haja garantia de saber que a mulher irá ser respeitada até ao fim.
E existe diferença de tratamento pelo público e privado?
Neste momento, não. É transversal.
Estavam à espera de tantos relatos?
Num espaço de 48 horas recebemos 500 rosas para colocar no mapa de vários sítios onde as pessoas tinham sofrido desde tipo de violência. Portugal e Ilhas ficaram cheios. Foi um choque. Escrever um relato é extremamente complicado para uma mulher fragilizada, mas escrever o ano e o hospital é muito importante para elas. De repente colocar os testemunhos, as rosas e ver Portugal ficar cheio… É preciso fazer qualquer coisa.
Como é que se combate a violência obstétrica?
O problema é estrutural e sistémico. Existem duas coisas importantes. Uma delas é que existem medidas, como o anteprojeto do Bloco de Esquerda, que achamos que é importante, mas a longo prazo. Mas neste momento, enquanto estamos a dar esta entrevista, existem mulheres a serem vítimas de violência obstétrica. Todos os dias recebemos testemunhos.
A longo prazo é preciso educar e sensibilizar, o que nós apoiamos. Mas não é suficiente. E é por isso que a criminalização seria uma bengala. Era preferível que não fosse necessária, mas há que criminalizar para haver consequências. O que as mulheres podem fazer é reclamar, e não resulta. Nós temos emails de respostas dos hospitais que acusam as mulheres de difamação.
As mulheres vítimas de violência obstétrica e que expõem a situação estão a receber respostas onde ou acabam com o assunto ou recebem um processo de difamação. Estão a ser colocadas quase que no papel de agressoras. É isto que está a acontecer, com fundamento nos testemunhos que nos chegam. Tem de haver alguma lei que defenda estas mulheres agora.
Qual é o papel das Ordens neste assunto?
A falta de comunicação das Ordens dos Médicos e dos Enfermeiros é de negação. Negam e não comunicam. Nós estamos disponíveis para dialogar. Não nos importamos de sentar e conversar para mudar o que se passa nos hospitais. Mas como isto é um problema tão grave e urgente, tem de haver alguma forma de consequência. A nossa lei prevê que quando existem situações de negligência, mas mulheres serão tratadas dentro do quadro de especialidade. Ou seja, uma pessoa que seja vítima de uma situação e que quer expor ao tribunal, este indica que o caso irá ser tratado dentro do quadro de especialidade, que tem poder para fazer o que for necessário, e não o Ministério Público (MP). E é isso que queremos: que o MP atue.
É importante promover uma maior literacia de saúde nas escolas?
Sem dúvida. Como todos os preconceitos que existem, educar para a cidadania, para a sexualidade e para como é suposto ser um parto é fundamental. Existe a ideia de que o parto é uma mulher deitada subjugada pelos médicos. E, por um lado, não deveriam ser os médicos a estar presentes a não ser quando há um problema de saúde e de risco – deveriam ser sim as parteiras – um nome que as enfermeiras recusam um pouco, por termos saído de uma ditadura há relativamente pouco tempo.
Depois existe o problema do tabu. Uma pessoa perceber que nasceu de uma situação de violência não é agradável e normalmente não se fala disso. Existe uma em cada três crianças que nascem em situação de violência. Talvez assim as pessoas percebam melhor do que estamos a falar. É importante desde logo as crianças saberem como os bebés nascem. Não é sobre sexo. É sobre informação e saúde.
Esta cultura e educação traduz-se no comportamento dos médicos?
Ainda existe muito tabu com o corpo das mulheres. Têm de estar tapadas, deitadas, caladas, “sossegadinhas e decentes”, como eu já ouvi. Ainda existe muito pudor com o corpo feminino. Assim que a mulher entra é logo sugerido uma epidural para ficar calada e sossegada.
Que tipos de testemunhos é que vos chegam?
Temos muitas pessoas, principalmente imigrantes, que sofrem de racismo. E é a esmagadora maioria. No hospital público é obrigatório ter um tradutor neste caso. É muito raro. Se for cigana é tratada de forma diferente, se for preta o mesmo. Chegam-nos relatos de que mulheres pretas que têm menos acesso a epidural, porque elas aguentam. Porque supostamente são boas parideiras.
Existem profissionais de saúde que ainda perguntam porque é que vieram para Portugal parir. E estas questões são racistas e não têm de ser colocadas por um profissional de saúde. Temos mulher de Cabo Verde que vêm cá e dizem “Ah, afinal em Portugal é tudo igual”. Isto acontece porque é um problema sistémico e estrutural.
A violência obstétrica pode afetar a relação mãe-filho?
Absolutamente. O vínculo fica afetado e até pode dar problemas com a amamentação, em atrasos. Muitas das vezes o bebé não vai para a mãe quando nasce. No meio da situação, a mãe nem quer estar com o bebé, porque depois de toda a violência nem sequer reconhece o filho e, como consequência, as primeiras 24h e 48h, que são fundamentais, vão por água abaixo. Uma mulher sofre de violência. O artigo de violência foi o bebé.
Logo, a mulher irá rejeitar aquele bebé e, muitas das vezes, pode trazer questões como divórcio. No meio disto tudo as mulheres rejeitam o papel de mães. Recebemos alguns emails com testemunhos de mães que não conseguiram uma conexão com os bebés porque ainda estão a tentar recuperar de uma situação abusiva. As mulheres sentem culpa, sentem que falharam. Mas os partos não têm de ser assim. Têm de ser coisas humanizadas.
Isso significa o quê?
Respeito. Uma criança ouvir que veio ao mundo por uma situação de violência não é bom. Grande parte do que as mães passam às suas filhas quando estão grávidas é: “espero que seja uma hora pequenina”, ou “não sofras como eu sofri”. Nós temos relatos dos anos 80 e estamos a tentar falar com pessoas até dos anos 70 para perceber como é a história da violência obstétrica em Portugal. As mulheres passam por um pesadelo devido a esta carta branca assinada à entrada e que a mulher pode recusar a assinar. E mesmo que assine não tem valor legal.
Ou seja, é a palavra da mulher contra a do médico?
Sim. É por isso que é importante que a mulher nunca esteja sozinha desde o momento em que entra no hospital. E, por isso, também é importante que o companheiro ou companheira estejam tão informados como ela. Temos relatos de companheiros que foram fortemente condicionados a fazer manobra de Kristeller – proibida em alguns países – que no fundo é fazer pressão nas costelas da mulher com os cotovelos ou com os braços.
O próprio pai ou companheiro foi persuadido a fazer isso, porque os médicos lhe pediram. No momento em que a mulher devia estar a ser apoiada, aconteceu uma situação de violência feita pelo próprio companheiro, que confiou no médico. O resultado? O casal divorciou-se.
Os médicos olham para o corpo da mulher como um instrumento?
Sim. E a Obstetrícia, na verdade, desenvolveu-se muito por esse caminho: através das mulheres negras que eram utilizadas em prol da ciência. Sabe-se muito pouco sobre a vida dentro dos hospitais, principalmente quando se fala em dados. Um processo clínico é diferente de um resumo clínico. E, depois, quem é que tem razão? É o médico, que sabe o que faz, ou é a mulher que está “histérica”, como muitos dizem?
Haver poucos dados é intencional?
Parece, pelo menos. Não é difícil recolher estes dados. A lei obriga a que exista um registo de tudo o que é feito à mulher. Temos casos reportados em que não há a colocação devida dos dados. Não é difícil hoje em dia fazer estes registos. É má vontade. E pelas respostas que temos da Ordem dos Médicos e dos hospitais, parece que existe uma seita e que não se pode questionar.
As crianças também podem ter marcas?
Eu tenho um primo que, por dentro da boca, tem as marcas dos fórceps. A mãe dele disse que saiu do parto completamente destruída. Ao início não conseguia tomar contar dele. Hoje em dia já é diferente. Isto acarreta mesmo transtornos.
O apoio dos companheiros também é importante?
Extremamente importante. Não conseguimos ter visibilidade se não tivermos homens connosco. Nós, mulheres, temos uma voz, claro. Os homens não têm de lutar por nós, mas sim lutar connosco. Temos de nos unir. Estamos a falar do futuro da saúde.
A pandemia vaio agravar a situação?
Foi um retrocesso. A DGS proibiu que os companheiros entrassem com a mulher. Mais emoções, mais intervenções, mais mulheres marcadas. E houve, claro, muitas pessoas a dar à luz em casa. A pandemia veio dar visibilidade às poucas opções que as mulheres têm. Noutros países, quando surgiu a pandemia, os centros de partos continuaram a funcionar normalmente. Em Portugal, só temos uma forma de parir reconhecia pela Ordem dos Médicos, que é no bloco de partos.
Parir em casa é legal, mas não é reconhecida pela Ordem. E o que acontece é que o protocolo hospitalar se sobrepôs à lei, e é comum isso acontecer. Mas sempre tivemos previsto na lei o direito ao acompanhante, e este direito foi imediatamente retirado. Com a pandemia, houve uma proibição total.
Depois, quando a comunicação social noticiou a situação, os hospitais começaram a mascarar o isolamento do companheiro, dizendo que iria entrar, mas atrasando o máximo possível. E isto continua. A mulher fica sozinha e, muitas das vezes, sofre de bullying.
Mas existem profissionais que gostavam de vos ajudar.
Sim. É importante referir que estamos, claro, a generalizar. Porque existem médicos e enfermeiros que gostavam de ver as coisas a mudar. Tivemos muitos casos de profissionais a querem falar connosco, mas que não podiam. A exposição leva a consequências.
Qual é o próximo passo?
A nossa associação tem o apoio internacional, principalmente da América Latina. Três países já tem legislação sobre a violência obstétrica. Em termos europeus, também estamos em contacto com Espanha, que já nos abriu a porta para falarmos e para ajudar. E a ideia é ser um movimento global, porque a violência obstétrica acontece em todo o mundo. Em Moçambique, por exemplo, é muito grande. As pessoas estão a começar a acordar. É usar a nossa voz por quem não tem uma. Se conseguirmos usar a nossa expressão global, vamos conseguir ajudar vários países Não vamos parar.