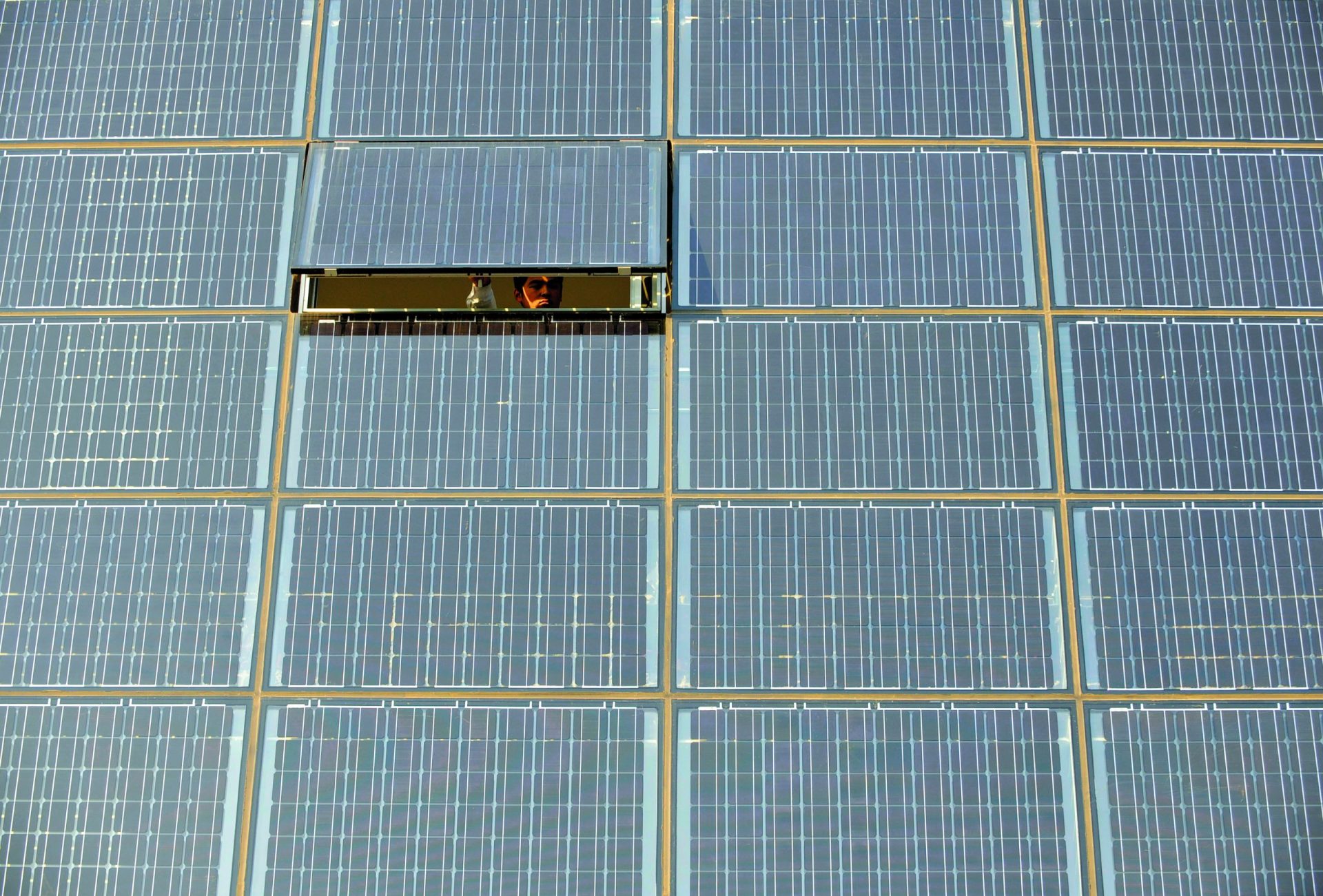O seu primeiro livro, “Ana de Amsterdam” (2015), reuniu textos que escreveu no famoso blogue com o mesmo nome e produziu um generalizado aplauso crítico cujos ecos ainda não se extinguiram. Passados seis anos bem contados, “Ana do oriente, ocidente, acidente, gelada”, como reza a canção de Chico Buarque, regressa ao papel pela mão da BookBuilders.
Trouxe o jogo de facas com que gosta de esquadrinhar a condição feminina e as suas misérias – confessadas, desabafadas; e afiadinho o suficiente para cortar com a moralidade convencional. Com ele, golpeia o lar doce lar, desmembra respeitosas instituições como a família ou a igreja, desmancha as fachadas da sociedade em que vivemos, acerta no coração de mulheres e homens a contas com os outros e consigo mesmos. Trouxe também uma poderosa máquina de conjugar: truculência mordaz e sensibilidade lírica, fúria desejante e enternecimento. E não esqueceu o estimulador de clitóris, “essa pequena marca do diabo”. “Babilónia”, um sopro de radical liberdade, segue as aventuras de Aninhas, uma mulher de várias facetas que se desloca em metamorfose. Cheio de fibra literária, muito afastado do empilhado cultural mas também das escritas sem mossa nem alcance a que alguns chamam literatura, é um livro muito habitado: vadios, loucos, solitários, bruxos, quiromantes, escritores medíocres, alfarrabistas velhos, “poetas porcalhões”.
6 anos depois do seu livro de estreia, “Ana de Amsterdam”, acaba de publicar novo livro. A que se deve este pousio editorial?
A minha vida é preenchida pelo meu emprego e pelos meus filhos (tenho três). Trabalho das nove às cinco, depois vou para casa fazer camas, varrer, cozinhar, limpar casas de banho. À noite, quando estou finalmente sossegada, gosto de beber dois ou três copos de vinho, fumar cigarros e ouvir música. Descomprimo, livro-me da tensão acumulada ao longo do dia. Sobra pouco tempo para escrever e, sobretudo, para organizar o que vou escrevendo.
A maternidade continua a pesar mais nas mulheres?
Pesa mais na vida das mulheres do que na vida dos homens. Se se pensar na minha geração, continuam a existir mais escritores homens, são mais, publicam mais, do que escritoras mulheres. Aquelas que vão aparecendo, muitas delas, lúcidas e pragmáticas, optaram por não ser mães. Não sei se não o foram por uma escolha deliberada pela escrita, por quererem ser escritoras. Mas a liberdade, o recolhimento, o silêncio que a escrita exige é muito difícil para quem, como eu, está sozinha a cuidar de três filhos. E depois eu gosto de ler. Preciso mais de ler do que de escrever. Aproveito o tempo que sobra sobretudo para ler, não para escrever. Leio todos os dias, durante horas (sofro de insónia crónica e a noite é longa), escrevo quando calha, quando me apetece. Posso estar várias semanas, meses, sem escrever e sem sentir culpa por não o fazer.
E quando é que a escrita se atravessou no seu caminho?
A escrita apareceu na minha vida por acidente. Ao contrário de muitos escritores da minha geração, que escuto em entrevistas e que, com ar meloso, confessam que desde sempre, desde pequeninos, tiveram o sonho de ser escritores, eu nunca quis ser escritora. O Lobo Antunes, numa entrevista que ouvi recentemente no YouTube, vai mais longe: diz que aos dez anos já sabia que ia ser um grande escritor. Caramba! O ego do homem. Com dez anos, eu queria ser peixeira porque ia todos os sábados com a minha mãe à praça de Moscavide e ficava doida com o prateado dos peixes, o rabear dos carapaus ainda vivos. Que sorte, pensava eu, poder viver todos os dias perto de tamanha riqueza e beleza. Depois disso quis ser professora de história, actriz e deputada.
Escritora, nunca?
Jamais. Gostava, é certo, nos testes de português, de escrever as composições. Acho que os textos que actualmente escrevo não se afastam muito das composições que escrevia quando andava na escola. São composições. Gostava de ler, isso sim, sempre gostei muito de ler. Os meus pais, gente dos subúrbios, preocupados com o pão nosso de cada dia, não eram leitores, mas a minha tia, que sempre viveu connosco, gostava de ler e, já deitadas na sua cama, eu e a minha irmã, lia-nos excertos dos livros que andava a ler. Lembro-me de ela nos ler “As minas de Salomão”, a adaptação feita pelo Eça de Queiroz, e eu sentir uma espécie de maravilhamento. De espanto. A determinada altura, o casamento moribundo, com três filhos, um emprego rotineiro, comecei a escrever num blogue. No início, sei-o, escrevia mal, muito mal, escrita levezinha, sobre os miúdos, sobre o casamento, uma coisa a atirar para um estilo “pipoca mais doce”. Mas já era uma escrita confessional, íntima, o início da devassa da minha intimidade. O blogue tornou-se um vício e a escrita também. Fui apurando a escrita. Escrevo hoje melhor do que escrevia quando comecei a escrever no blogue. Este livro que agora se publica está mais bem escrito do que o anterior. É a minha opinião. Uma escrita mais depurada, mais enxuta, é o que desejo.
O primeiro livro resultou da recolha dos textos do blogue. Este resulta da recolha de textos que nos últimos anos escreveu na sua página de Facebook. Não receia a desqualificação do seu trabalho literário?
Sei que há quem pense que escrever nas redes sociais é uma coisa menor, uma coisa que definitivamente não está à altura da literatura a sério e que um escritor a sério deve evitar. As opiniões são como os chapéus do Vasco Santana. Opiniões há muitas. Sei porque é que, em vez de ir escrevendo na sombra, com tempo e ponderação, para depois publicar, escrevi e publiquei no blogue e depois no facebook. Preciso da validação imediata. Tenho pouca auto-estima, acho sempre que tudo o que faço é menor, na melhor das hipóteses, assim-assim. Escrever e ter muitos likes, muitos emojis sorridentes, ter essa panóplia vulgar, mas imediata, de elogios afaga-me – e de que maneira!- o ego. Mas não pretendo escrever mais nenhum.
E porquê? O que a leva a dizer isso ainda este segundo livro mal saiu dos prelos?
Entretanto, por coisas minha vida que não interessam, talvez seja o peso dos 50 a aproximarem-se, aquilo que mais quero é sossego: uma casa no campo, como na canção da Elis Regina, com uma horta para plantar tomates, pimentos e couves galegas, um espaço para estar com os meus gatos, os meus livros e o meu namorado (e, a médio prazo, sem filhos, que os tenho quase criados). Não ter redes sociais, usar o telemóvel para falar com as pessoas em vez de lhes mandar mensagens. Ora, eu preciso do meu inferno interior para escrever. Sem labaredas a chamuscarem-me os dedos eu não escrevo. É por isso que acho que não voltarei a escrever. Quero livrar-me do meu inferno interior mesmo que isso signifique deixar de escrever.
Num post que publicou no FB, confessou que tinha inveja da Ivone Mendes da Silva, que pratica uma escrita muito singular mas em alguns aspectos vizinha da sua. A que se deve essa inveja?
A Ivone, que conheço apenas do Facebook e dos livros que entretanto publicou é uma escritora que admiro, a escritora que eu gostava de ser. Reclusa e avessa a vaidades literárias. Sem expor a sua intimidade, sem escancarar as janelas, como eu faço tão tolamente, escreve sobre os brincos de uma mulher que encontra no café ou sobre o cheiro do creme com que massaja as mãos. Não precisa de ademanes ou pirotecnias, e o que escreve é bom, é muito bom. Gosto da Ivone por ser discreta, não faz lançamentos, nem apresentações, não dá entrevistas, não precisa de se pôr em biquinhos de pé para mostrar aos outros o que vale como escritora.
Parece-lhe que no meio literário há muito quem se ponha em biquinhos de pé?
Pouco sei do meio literário estrangeiro, mas parece-me que o meio literário português é um pouco podre. Escritores que são críticos. Críticos que são escritores. Escritores que têm agências literárias e dominam a máfia dos festivais literários (promovem, claro está, os seus escritores; fazem bem porque a literatura afinal é um negócio como outro qualquer), jornalistas que são escritores, editores que são escritores. Todos muito amigos. Muitos beijos e abraços quando se encontram. E, claro está, todos com um ego patético e do tamanho do mundo. São todos extraordinários, mesmo quando o que escrevem não vale nada. Há muitos exemplos de quem tenha essa postura no meio literário português, eu devia ser capaz de os nomear um por um aqui, mas sou muito cobarde. Vá, refiro só um nome, porque é uma embirração antiga e de estimação: a Inês Pedrosa. O que escreve é fraquinho, mas curiosamente tem sempre palco, vitrinas, escaparates, críticas assim-assim porque ninguém é capaz de dizer preto no branco aquilo que dela se diz nas suas costas. Ai de quem se atreva a uma análise mais contundente do meio literário português. São uns párias, uns invejosos, uns ressabiados. Um escritor precisa mais da crítica do que dos elogios. A crítica, se honesta e não motivada por rancores, permite a análise, o confronto, a discussão. Permite a um escritor notar os seus vícios, as suas falhas, a sua charlatanice, a sua mediania.
A julgar pela epígrafe que abre “Babilónia” – um artigo do Código de Hamurabi – podemos pensar desde logo que o Direito tem aqui um papel a jogar?
Não. Nem pensar. O Direito na minha vida é como a escrita: um acidente. Um infeliz acidente. Não tenho jeito nenhum para as coisas do direito, tendo desempenhar o meu trabalho com competência pq no fim do dia é o direito, não a escrita, que me paga as contas e me permite criar com algum desafogo os meus filhos. A epígrafe foi uma sugestão do Hugo Xavier. Falou-me do código de Hamurabi, disse que se calhar ficava bem uma epígrafe, sugeriu que escolhesse uma lei. Lembrava-me do código de Hamurabi muito vagamente, das aulas de dto romano com o padre Samuel. Era um rico padre. Careca, com cara de poucos amigos, gostava de sossegar as alunas, nos exames orais, pousando a sua santa mãozinha nas coxas das mais nervosas. Li o código de Hamurabi de uma ponta à outra, gostei das leis referentes às tabernas, mas esta lei, a 143º, que fala da mulher, do que se espera de uma mulher, do que deve fazer-se a uma mulher que não corresponde àquilo que a sociedade dela espera (deve ser atirada à agua) pareceu-me cair que nem gingas no livro.
Continua, através de uma escrita desenvolta, desassombrada, trabalhada, a transformar em literatura tudo quanto toca: a conta da luz, um folheto publicitário, um gato zarolho, uns pés feios, umas unhas repelentes, medonhas. Atrai-a o pormenor demolidor e certos elementos tidos como pouco elevados ou até rasteiros?
Sou contemplativa. Acho que a maior parte dos depressivos o são. Não conseguimos falar com os outros, andamos sozinhos, fugimos dos convívios: olhamos para as coisas. Gosto disso. Gosto de olhar para as coisas e para as pessoas. Tenho o olho treinado. Noto o detalhe, o gesto banal, a beleza dos objectos mais comuns, sei lá, é uma espécie de vício. Sempre fui assim. Gosto de escrever sobre essas coisas. Gosto do que é comum, banal. Gosto, digo-o sem paternalismo, das pessoas comuns e gosto de dar-lhes protagonismo nos textos que escrevo. Gosto dos subúrbios. Da orla da cidade. Da aldeia. Dos indigentes, dos párias, dos escravos, que vivem nos passeios em Bombaim. As elites, os ricos, os intelectuais, a gente que vive no centro de Lisboa e lê muito e vai ao teatro e ouve Bach e Mahler, como objecto de escrita, interessam-me pouco. Talvez seja um preconceito meu, é com certeza, mas uma pessoa também há de ter direito aos seus preconceitos.
Não lhe agrada, portanto, a literatura inchada de referentes literários, culturais, num enfiado culturalista por vezes sem mais consequências que o virtuosismo com que se faz e põe à prova a competência do leitor?
Costumo alardear aos quatro ventos que não gosto de livros em que o escritor está sempre a atirar à cara do leitor a sua erudição. Disse isso há pouco ao Luís Miguel Rainha a propósito do último livro de contos que ele publicou. Que chatice, disse-lhe, a cada página, uma referência a um pintor, um filósofo ou um escritor. Ele riu-se e contestou. Tento não cair nessa tentação, quero uma escrita simples, que possa ser lida por qualquer pessoa, culta ou não, não gosto de escritores que têm uma escrita erudita, os grandes escritores não precisam disso. E, porém, se pensar um pouco, percebo que também faço isso. Pobre de mim. Por exemplo, este livro tem um texto, Aninhas e os axalotes, um dos meus preferidos, que começa com uma frase copiada, inspirada, no primeiro verso de um poema da Adélia Prado, e que faz referência a um conto do Jorge Luis Borges. Sou muito boa a apontar nos outros os meus próprios defeitos.
Se há palavra que poderia figurar no centro deste livro, essa palavra é corpo, e curiosamente, o corpo em risco, em ferida, em queda, envelhecido, quero dizer, nas suas fragilidades. Ora, o tempo que atravessamos, vive obcecado com a perfeição do corpo…
Hoje toda a gente é, ou pretende ser, exteriormente perfeita, toda a gente quer ter o corpo perfeito, homens e mulheres. Conheço pessoas, sobretudo mulheres de quarenta/cinquenta anos, que passam os tempos livres no ginásio para terem um corpo xpto. Depois, glúteos rijos, peso ideal, passeiam-se cá com uma segurança. Há uma exaltação da forma e do artifício. É muito difícil escapar dessa obsessão pelo corpo perfeito. Já não há princípios, ideias, ideais, religião. O culto do corpo perfeito é o que nos resta. Escrevo sobre as fragilidades do corpo porque isso me interessa, porque o corpo também é isso, as imperfeições, o apodrecimento, o feio, o sujo, o cheiro intenso de um sovaco ou umas pernas de mulher cheias de pelos. E, no entanto, também gostava de ter um corpo diferente. Engordei 10 quilos na pandemia e detesto. Tenho de os perder rapidamente. Quero que olhem para mim e digam “Olha ali vai a Ana, inteligente, escreve tão bem, é bonita e sensual, tem cinquenta anos, mas um corpo de trinta.”
Este é um livro muito habitado e não lhe faltam homens mas sente-se que não lhe interessam muito os sentimentos deles. verdade?
Verdade. Os homens interessam-me muito, afinal também são gente, mas como personagens não me interessam nada. São sempre acessórios, secundários, são uma muleta das mulheres. Não sou capaz de me colocar na pele e na cabeça de um homem. Não sou, ponto. Talvez, o problema seja meu. Mas, lembrando-me de escritoras de admiro até à devoção, a Virgínia Wollf, a Maria Judite de Carvalho, parece-me que também lhes aconteceu o mesmo. Uma pessoa escreve sobre o que sente e sabe.
À semelhança do primeiro livro, neste Babilónia pratica uma espécie de miscelânea de géneros: o conto, o diário intimo, a digressão, o apontamento. Os géneros ditos menores continuam a merecer a sua estima literária? Ou não se trata de uma escolha?
Gosto de ler romances. Leio quase só romances. Alguns contos. Gostava, como escritora, de escrever um romance. Tentei aliás escrever um romance, mas, ao que parece, era uma grande porcaria. A Quetzal, a minha anterior editora, não o quis publicar. Mostrei-o a algumas pessoas e quase todas torceram o nariz, como se o romance exalasse um fedor pestilento. O Hugo Xavier, pelo contrário, gostou do que leu. Talvez o venha a publicar um dia com ele. Isto para dizer o seguinte: este livro, à semelhança do outro, é uma miscelânea de géneros, ditos menores, por uma razão simples, porque só sei escrever assim. Não sei escrever romances. Tenho pena. Talvez venha a frequentar um curso literário onde isso se ensina. Parece que são muito bons.
Talvez prevaleça o diário íntimo… Não teme que os leitores, sempre desejosos de espreitar pelo buraco da fechadura, a possam ver como uma espécie de curiosidade literária?
Não quero saber se sou ou não uma curiosidade literária. Espreitem pelo buraco da fechadura à vontade. Há uma canção do Caetano Veloso, cantada pela Gal Costa, a mulher mais bonita do mundo, que tem um verso que diz “De perto ninguém é normal”. Acho que é um verso bem certeiro: de perto ninguém é normal. Espreitem pois pelo buraco da fechadura, exclamem, sentenciosos, “as coisas sobre as quais ela escreve!”. Depois sintam o choque do reconhecimento e percebam que, escrevendo sobre mim, escrevo sobre qualquer pessoa, qualquer mulher. Presunção à parte, nesse sentido, a minha escrita é universal. Centra-se em mim, é uma escrita egotista, mas permite a identificação, a abordagem de problemas que são comuns a muitas mulheres: a solidão, o peso da maternidade, a frustração sexual.
Sabe ou imagina quem são os seus leitores? No seu meio profissional, acompanham o seu trabalho literário?
Tenho a percepção, talvez errada, de que as mulheres, mais do que os homens, reveem-se no que escrevo. Aquilo que escrevo tem o carimbo da escrita feminina, essa categoria menor da literatura, as mulheres a escreverem lá sobre as coisas delas. Aliás, quando o outro livro saiu, aconteceu uma coisa engraçada. Encontrei um vizinho, muito dado a literatices e coisas assim, que me disse “Ana, apesar de escrito por uma mulher, de falar sobre coisas de mulher, gostei bastante do seu livro”. Tive vontade de o mandar à merda mas, em prol da boa vizinhança, fiquei calada. Também há quem deteste o que escrevo. Quando o primeiro livro saiu, no instituto publico onde trabalho, correu um e.mail anónimo com as partes mais picantes do livro. Pedaços de textos onde se falava de sexo, pornografia e masturbação. Como se o sexo não fizesse parte da vida, não fosse bom, como se ainda fosse um pecado.
E como é que reagiu?
Fiquei furiosa quando soube. Depois pensei melhor no assunto e não quis saber. Na verdade, preocupo-me apenas com três leitores, os mais importantes, os meus filhos. Tenho medo não gostem dessa outra mãe que ganha corpo na escrita. A minha filha, a minha tão doce Madalena, é mulher, percebe a minha loucura, gosta do que escrevo. O mais velho nem por isso. Prefere não saber. Quer a mãe de todos os dias, a que cuida, cozinha, trata da casa, que vai ao cinema, que lê, que fuma na varanda e a quem ele crava cigarros, não a mãe que se liberta no que escreve. O mais pequeno ainda não tem consciência do tipo de textos que escrevo, gosta só de dizer aos amigos que a mãe é famosa (coitadinho!), escreveu um livro e dá entrevistas.
Em Babilónia acompanhamos Aninhas, uma figura biograficamente identificável que se revela em confissões de sinceridade, no mínimo, suspeita. Onde é que termina o fingimento da vida e começa a verdade da ficção?
Que fique claro: tudo o que escrevo é verdade. Não há fingimento da vida. Quando escrevo sobre frigidez é porque sou frígida (actualmente menos, graças a deus, nosso senhor, mas ainda assim com dificuldade em sentir desejo e atingir prazer). Quando escrevo sobre nocturnas bebedeiras é porque, quando o dia acaba e os meus filhos se deitam, despejo uma garrafa de vinho para aguentar a noite. Quando escrevo sobre depressão é porque sou depressiva desde os vinte anos. Só sou capaz de escrever sobre o que sei, sobre o que sinto. Depois outra coisa: escrever sobre mim, escarafunchar feridas e chagas, obriga-me a olhar ao espelho. Preciso disso, o meu psiquiatra diz que me faz bem. A ficção está na composição, na forma, no modo em como conto as coisas. Mas, neste livro, ao contrário do primeiro, há uma tentativa, em alguns textos, de me livrar de mim própria e inventar histórias sobre outras mulheres. Curiosamente, parece-me que esses textos, esses pequenos contos, são piores do que aqueles que são biográficos.
Quem é afinal a Aninhas? Uma espécie de figura vária deslocando-se em metamorfose?
A Aninhas sou eu: aqui, em Goa, na aldeia do Alentejo onde passei os verões da minha infância. É a princesa indiana, a iguana que salta para o colo de um juiz e o faz ter um orgasmo, a esposa falecida de um homem que procura uma prostituta, a mulher que come o amante (come mesmo, tipo canibal) enquanto ouve a Rhiana e a Beyoncé. A Aninhas é tudo e é nada.
Os textos que compõem o livro usam muitas vezes de uma espécie de estratégia sorrateira, através da qual conseguem alcançar espessura e profundidade. É deliberado?
Não, não é. Os meus textos são trabalhados, reescrevo muito, releio uma e outra vez, corto aqui, acrescento acolá. Leio em voz alto tudo o que escrevo porque me interessa a musicalidade da frase, do texto. Procuro música no texto, não sei explicar. Faço-o porque são textos curtos. Às vezes, é nesse trabalho de apuramento, de composição, que o texto ganha espessura.
O título do livro faz pensar num soneto de Camões, “Cá nesta Babilónia” Também aqui “o mal se afina e o bem se dana?”
Não conheço esse soneto de Camões. A bem dizer, nem nenhum outro soneto de Camões. Dele só conheço os poemas “Endechas a Bárbara Escrava” e “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” e só porque o José Afonso e o José Mário Branco os cantaram. A minha Babilónia não merece a referência a um verso de Camões. Se tanto, merece, a referência ao Livro do Apocalipse, da Bíblia, onde a cidade, também chamada de “grande prostituta” é simbolicamente descrita como uma mulher vestida de vermelho, adornada de ouro e pérolas, que, montada numa besta, também escarlate, leva na mão um cálice repleto das abominações, impurezas, pecados do mundo. Essa mulher podia chamar-se Aninhas. Babilónia, “grande prostituta”, cidade-mulher de decadência e vício. O título foi escolhido um pouco por acaso. Foi-me sugerido por um amigo, o Rodrigo Magalhães, e eu gostei. Achei que tinha muita pinta. Com o passar do tempo o título foi fazendo cada vez mais sentido para mim.
“Diferente me concebo e só do avesso / o formato mulher se me acomoda”? Assumiria estes versos, esta “minibiografia” de Luiza Neto Jorge:
Também não conheço a poesia da Luiza Neto Jorge. Não sou capaz de assumir uns versos que não conheço e, a bem dizer, não compreendo totalmente. Conheço pouca ou nenhuma poesia. A poesia chega-me pelas canções dos cantores que escuto, os de sempre, o Sérgio Godinho, o José Mário Branco, o José Afonso, o Chico Buarque, ou pela voz da Ana Luísa Amaral naquele programa da Antena 2 com o Luís Caetano. Gosto tanto, mas tanto, da voz da Ana Luísa Amaral, dizendo poemas e explicando-os enquanto eu pico allhos e cebolas para fazer o jantar (bendito Spotify!). Gosto da poesia dita, mas não consigo lê-la. Um poema lido é para mim um aborrecimento, um poema escutado por acaso, lido ou cantado por alguém, é capaz de me comover até às lágrimas. Se é para assumir versos assumo os versos iniciais do poema “Terceira Via” da Adélia Prado que conheço bem: Jonathan me traiu com uma mulher/ que não sofreu por ele/ um terço do que eu sofri/ uma mulher turista espairecendo na europas. Que maravilha. Quando for grande quero escrever assim.