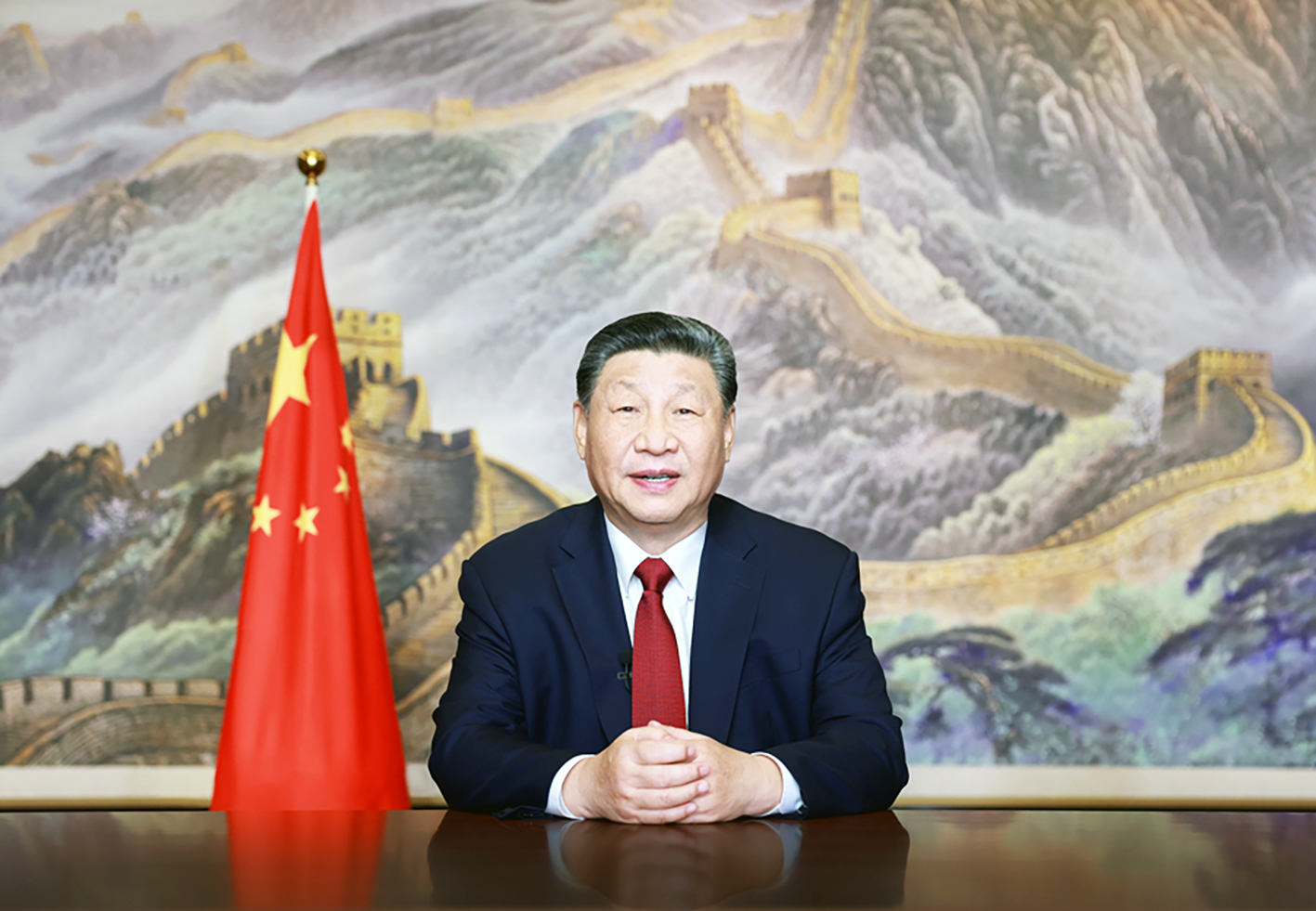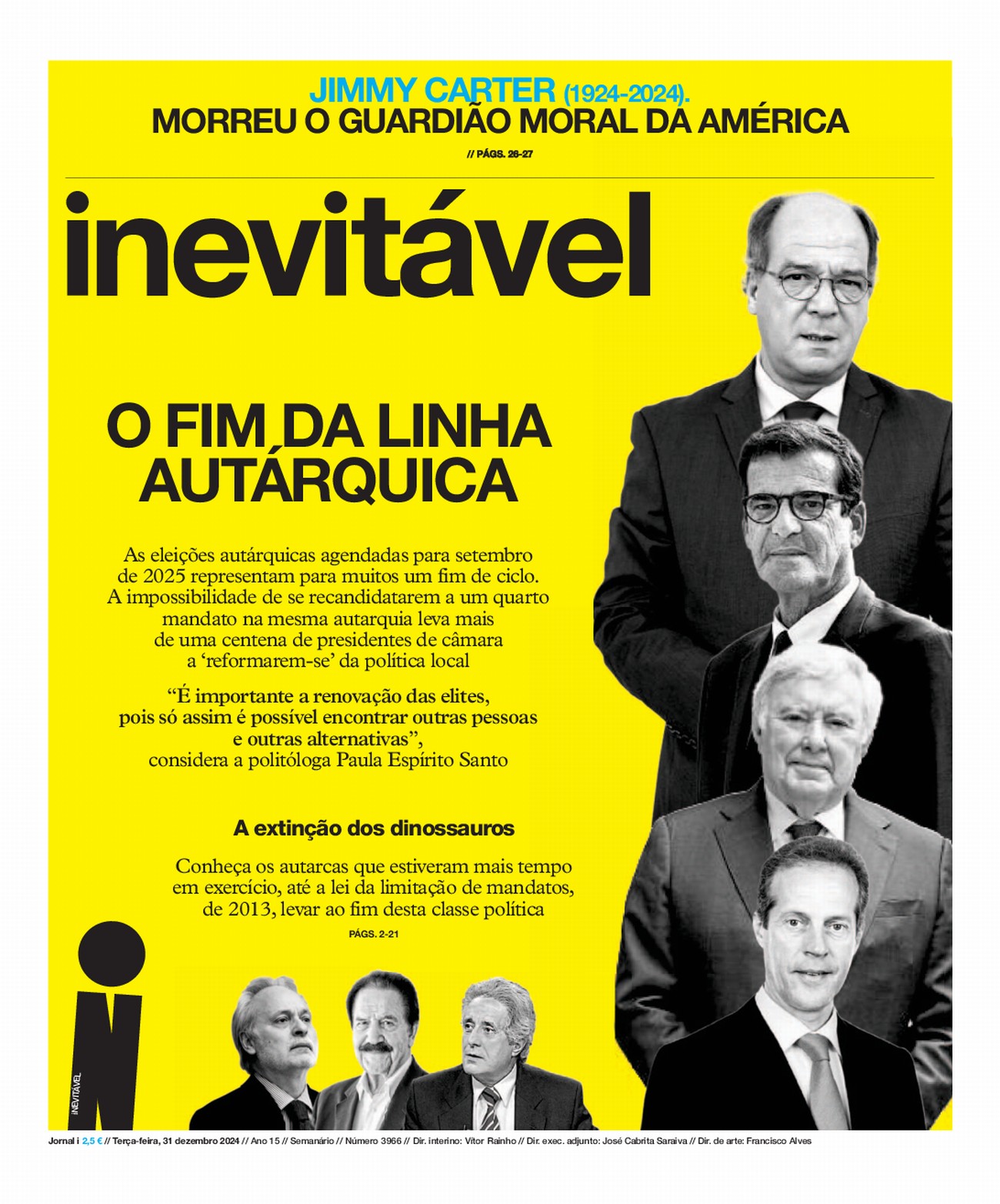Acolheu-nos em sua casa, recebendo-nos na ampla divisão que se revela à entrada, com a luz coada, uma mesa austera a um canto e, por trás, uma cadeira de bispo. Sobre a mesa, numa travessa elegante havia pêssegos abertos, aos pedaços, e presunto. Havia ainda línguas de veado e chá fresco.
Era suposto ter sido uma entrevista, mas houve parêntesis longuíssimos, numa conversa que se prolongou durante várias horas. Era noite quando acabou e foi preciso comer os pêssegos e o presunto para calar o estômago.
A única entrevista presencial que fiz no decurso da pandemia calhou ser com uma poeta de 90 anos que não deixou que as imposições de distanciamento social a impedissem de levar até ao fim algum dos seus tantos gestos de calorosa espontaneidade. No fim, ao despedirmo-nos, seria estranho que não nos abraçássemos. E é curioso que isso nos leve a pensar como um gesto afectivo pode provocar a morte.
Elegante, pequena, muito viva, cercando com o olhar, sem querer perder nada, Eduarda Chiote lembra uma criança a quem o tempo mastigou com algum cuidado. Ninguém lhe daria os tais 90 anos.
Seis anos depois do último livro de poemas, “Fiat Lux”, acaba de publicar “A Felicidade das Pedras”, um livro em que admira a infância, se espanta com ela, fala-nos de “crianças impensadamente solitárias”.
Entregou-me uma carta antes de se deixar fotografar, como as crianças se deixam fotografar, num misto de curiosidade e alheamento, porque alguém lhes diz que é preciso, lhes diz onde e como devem posicionar-se…
“Não se pode matar o azar matando um gato como não se pode matar o tempo dando um rito no relógio, nem se pode excluir um deus pelas suas imperfeições desnecessárias”, diz a carta já perto do fim. E ainda acrescentava que é quando a vida rompe com as nossas expectativas, que nos oferece margem, nos dá espaço para criar novas formas de agir. Foi um preâmbulo à nossa conversa, que não foi bem uma entrevista, mas uma coisa em forma de assim:
Este livro não foi iniciativa sua. O que levou ao seu aparecimento.
Não sou pessoa de fazer grande coisa por si mesma como autora. Não se trata de um gosto pelo anonimato, não vejo alguma qualidade nesta postura de não querer estar em evidência, é simplesmente uma questão de feitio. Creio que o José Carlos Marques esteve na Afrontamento (ele foi um dos fundadores dessa editora), e deram-lhe o “Órgãos Epistolares”. Ele leu, gostou e escreveu-me perguntando se tinha alguns poemas que lhe pudesse mandar. Eu tinha aí um monte de poemas, e disse-lhe: “Olhe, escolha os que quiser. Os que não quiser, ponha de lado. Esteja à vontade.”
Assim aparece “Fiat Lux”…
Foi impressionante… que ele tenha gostado tanto. O “Fiat Lux” não me parece um livro fácil. Parece-me que qualquer outra editora não teria interesse nos poemas, reconhecendo que não é o tipo de escrita a que as pessoas adiram. Talvez seja demasiado reflexiva. Ele deixou-me uma nota a dizer que iria fazer uma excepção, publicando o ciclo completo na revista (DiVersos). Fiquei-lhe muito grata. É raro encontrar pessoas com uma atenção que busca os outros, e que se interessa pelo que fazem. Depois, dei-me conta de que ele, por sua iniciativa, tinha já traduzido uns 70 poetas das mais diversas nacionalidades. É um elenco bastante eclético aquele que conhecemos através da revista dele. Mas depois, qual não é o meu espanto quando ele, já depois de ter publicado o ciclo na revista, um dia vem ter comigo para me oferecer o livro que tinha, entretanto, sido editado pela Afrontamento. Eu nem sabia que o estavam a fazer. Foi feito por iniciativa dele.
Havia então a possibilidade de o livro não ter sido publicado?
Acho que uma pessoa que trata assim um escritor deve ser reconhecida. Há muito poucos editores assim. Devo-lhe a edição do livro e devo-lhe a tão atenta leitura que fez dele. Aliás, eu devo aos outros tudo o que fiz como poeta. Devo o que escrevo às coisas que leio, e depois devo a publicação a estes gestos de grande generosidade. De vez em quando surgem-me estes sinais que podem até ficar na sombra durante muito tempo, leituras extraordinárias. E depois disto, o José Carlos Marques perguntou-me se tinha alguma outra coisa que se pudesse publicar, e eu falei-lhe de um pequeno livro que queria dedicar a um casal de gémeos.
Quem são?
São ainda muito pequenos, fizeram agora cinco anos. São filhos do Nuno Félix da Costa (fotógrafo e poeta). Não imagina a beleza daqueles miúdos, a tranquilidade deles. Eles pareciam anjos. O miúdo, loiro com uns olhos radiantes, próprios das criaturas assombrosas. Um pouco mais rude, ele, mas extremamente sensível, afinal. “Eu comi sopa de lápis de cor”, disse ele uma vez. Ouvimos estas coisas e depois o que se diz, de forma quase grotesca, é que os miúdos as ouviram de alguém e as repetem. Não ouviu de ninguém. A miúda voltou-se certo dia para a mãe e disse-lhe: “Inverno é quando faz frio, mas hoje faz frio e não é Inverno. As coisas não são o que parecem.” Aquela cabeça está organizada e tem um pensamento já capaz de ir desafiando os conceitos. Era preciso arranjar um outro conceito para Inverno, porque aquele não servia. A miúda tinha toda a razão.
É um fascínio recente este pelas crianças?
Sempre gostei de me ocupar de crianças. É como debruçar-se num universo que acabou de nascer. Está lá tudo dentro deles, um cosmos que pode eclodir, pode entrar por um buraco negro, pode espatifar-se como pode originar as coisas mais belas. A minha relação com a infância vem de muito longe.
Hoje para quem escreve?
Quando o Arnaldo Saraiva estava ainda na Califórnia, e eu transitava entre o Porto e Ovar, onde fui directora de um centro de psicotecnia durante bastantes anos, e a propósito de qualquer circunstância na minha vida que estava a ser penosa, escrevi ao Arnaldo Saraiva, e ele respondeu: “Refúgio em vez de câmara mortuária” (este veio a ser o título de um dos seus livros, publicado em 1979). Sempre tive o mau hábito de escrever muito aos amigos, ignorando o tempo e as horas. Talvez se me interessasse mais o tempo já não estivesse cá, com estes 90 anos. Esta duração, este desafio de uma quase eternidade, vem de eu ligar muito pouco ao tempo. Como lhe ligo muito pouco ele quer-se vingar de mim.
Sente que o viver muito se torna um martírio?
Sim e não. Sim. E não. As duas coisas. Verifiquei que as pessoas que vivem muito, num estilo conflituante, a vida torna-se desagradável, acabam devoradas por ressentimentos, acabam ficando muito magoadas. São talvez aqueles que põem demasiadas expectativas nisto. São essas lições que falham porque quando a vida as deu, aquele que a vivia não estava atento. A vida ensina a limar arestas, a pedir só o que nos faz falta, e até talvez um pouco menos que isso. Nesse sentido, devo à vida uma grande aprendizagem. Não digo que tive escolha, porque a liberdade para mim é um mito, um fantasma da imaginação. Mal sabemos que estranha biologia nos empurra neste ou naquele sentido, mas a longevidade não é uma escolha. Nós temos cá dentro os anjos e os demónios; somos à vez monstruosos e muito simpáticos, infelizes e felizes. Mas a grande oportunidade que temos é a de aprender a amar sozinhos, sem manipular o outro, sem o sobrecarregar… sem nos vitimizarmos.
E, com a sua idade, vive bem?
Isto chega a ser uma grande chatice, a debilidade que nos cerca. E depois implica uma adopção de comportamentos em que nos vemos obrigados a representar uma farsa. Assumir uma normatividade nos quais não nos encaixamos. São coisas falsificadas, e falsificáveis. Tem-se uma noção de velho e de velhice que deixa muitos de nós perdidos na forma como os outros nos encaram. Está tudo muito patologizado. Ninguém consegue ver para lá de certas categorias. Temos noções de saúde que dão cabo da vida que nos resta. Há aspectos mórbidos na forma como se espera que uma pessoa desista da própria vida. Tudo isto serve para tornar a experiência do fim algo de humilhante e muito difícil de gerir.
O que mais lhe desagrada?
Não gosto dessa forma de atenção e cuidado que nos rebaixa. Acho que não se deve ofender assim uma pessoa, usando a bondade como desculpa. Essa coisa de ajudar a velhinha a atravessar a estrada, e quase dar-lhe o braço contra a sua vontade, obrigar-nos a todo esse teatro de nos mostrarmos muito disponíveis quando lhes apetece… Tudo isso teve o seu tempo, mas não se justifica mais. É um abuso. Viver hoje com uma idade avançada é ter a noção de que há processos protectores que são discriminatórios e atingem-nos de uma tal maneira que impedem que façamos a nossa escolha. Qualquer um, em nome do nosso bem, da nossa protecção, se arroga do direito de escolher por nós. Basta pensar na questão do confinamento. Querem proteger os idosos, mas esquecem que o idoso, nem que seja através de um vidro, precisa de ver um neto, um filho, algum familiar. Dizer adeus. Agora, quando a velhice é algo em que se vê enrodilhado, em que se é condenado a um isolamento social forçado, ou até a um contexto de ruído, junto da família, tudo isso significa que se perdeu algo pior do que a autonomia.
E os últimos meses?
Esta obstinação no confinamento e nesta ociosidade em que nos privam de tanto, inclusivamente de nos movimentarmos… E é preciso que o façamos, de outro modo as pernas, os músculos já de si afectados, atrofiam. Precisamos de um mínimo de contacto, de poder conversar, estar com o outro para manter o cérebro activo, estimulado. Chega a ser brutal este modelo. Ver chegar o fim desta forma. O sermos para a morte devia, quanto a mim, ser a nossa questão essencial. Sermos ensinados a morrer com dignidade, com tranquilidade.
Perante esta pandemia, acredita que o mais fácil é tratar os velhinhos como se fossem peças de porcelana num terramoto, em que, ao resguardá-los, se impõe um proteccionismo que os parte por dentro?
É um proteccionismo absolutamente fascizante. É uma hipocrisia social de todo o tamanho. Porque havia outras formas de se abordar o problema, havia alternativas.
Refere-se ao confinamento?
Sim. É preciso ter em conta que uma grande fatia da população está envelhecida. Estão-se a fazer uma série de asneiras na forma como se encara a velhice. Porque não estão nos lares apenas as pessoas que já não têm condições de cuidar de si. Para muitos foi uma escolha para não sobrecarregarem a família. E se há muitos que estão em condições físicas deploráveis continuam lúcidos. Realmente parece que os lares foram focos preferenciais do vírus, que dizimou muitas das pessoas ali acolhidas. Mas o pior é ficar-se afastado do núcleo familiar, como se essas pessoas pudessem simplesmente ser isoladas, privando-as, até na hora da morte de um mínimo afecto.
É uma terrível hora para se morrer?
Quantos morreram sem poder sequer dizer adeus à sua família? Consegue imaginar o que é isso, também para um filho, que foi obrigado, tantas vezes em circunstâncias complicadas e com a culpa que isso acarreta, a pôr o pai ou a mãe num lar, e imagine o que é para essa pessoa não poder ir visitá-lo, nem no fim. Não se permitiu às famílias que fizessem o luto. Não se permitiu sequer que fossem vê-los. Mas o que é isto? Pode imaginar-se as consequências disto? Não se pode simplesmente tomar as pessoas como um número, e dizer, depois, que morreram tantos, encerrando o assunto. Isto não é forma de se tratar as pessoas.
Lembra-nos aquele poema de Ingeborg Bachmann em que ela fala de um tempo aprazado… É suposto adiar-se o luto e até os sentimentos?
Sim, está a haver um esvaziamento do quadro das noções que nos identificam na nossa humanidade. E o pior é que nessa impossibilidade de sofrer, nesse impedimento, há um sofrimento enorme. Chega-se ao ponto de se sentir tanto as coisas que só resta entre nós o desentendimento. Não se consegue dizer o que se sente ao outro, pois está-se assoberbado pelos sentimentos. Não há um movimento, fica-se perdido nesse afecto que não se sabe exprimir. É uma coisa incomensurável e que pode dar cabo de nós a qualquer momento. Esse esvaziamento é feito de abandonos insensíveis…
Vamos sair afectivamente ainda mais debilitados desta crise?
Quando uma pessoa diz: eu não sinto nada. Não é verdade. A pessoa está é soterrada. E para nós, que trabalhamos com isso, tentando livrar o espaço, encontrar uma entrada por entre escombros, atravessar essas camadas… Embora hoje sejamos manipulados, cercados por esse vazio, este mundo da técnica ainda não é de tal ordem que consiga suprimir inteiramente a sensação de que algo está errado. Continuamos a sentir que há um problema, que há algo de errado connosco.
Mas está a falar da escrita, que é como ter momentos muito breves em que se desperta a meio de um sonho?
Sim, estou. E quando falo nessas formas de invisibilidade, o que percebemos é que o mundo que temos diante de nós, em que tudo parece ser visível, acessível, esse mundo da visibilidade é, afinal, muito estreito. É muito limitado, muito filtrado. É-o através da nossa perspectiva, da nossa sensibilidade, das nossas posições éticas. Mas a verdade é que, de cada que nos pomos a questionar o que se passa connosco, damos sinal de que há algo que ficou soterrado. “Porque é que eu não sinto?” Se não sentisse, nem punha essa pergunta.
Acha que isto nos está a mudar?
Sim, estamos diferentes. Os próprios circuitos cerebrais estão a alterar-se face às novas experiências. Os emocionais também estão diferentes. Mas, do meu ponto de vista, o que temos é de aguardar, de não ter tanta pressa, perceber que modificações vão ficar connosco e quais são aquelas que não trazem nada de novo, que só alteram as coisas na aparência. O importante é saber distinguir umas das outras. Posso explicar-me melhor?
Pode, claro.
Na nossa evolução, no aperfeiçoamento da técnica, muitas vezes, quando deixamos de usar uma pedra lascada para atacar e ferir uma presa, quando passamos a usar uma lança, esse instrumento muda, a arma aperfeiçoa-se, mas a função não. É a mesma. Mesmo que seja uma pistola, e que já não haja propriamente uma luta, porque quem atira está afastado de qualquer perigo, mas nesta situação a única coisa que mudou foi a técnica. Hoje, quando largamos uma bomba, mesmo à distância, a partir de uma sala noutro continente, essa distância torna-se virtual. Mas a intencionalidade é a mesma, e o sentimento acaba por dar connosco, mesmo que leve mais tempo, a culpa e o remorso tocam-nos.
E o que lhe parece que está a mudar com esta progressiva virtualização da experiência?
Hoje, quase nos sentimos culpados de não saber amar. E depois? Amamos como podemos. Não se pode desvalorizar isso. Conceitos como o de apego e de família podem estar errados, mas aqueles que se lhes opõem também estão. Com o processe de socialização chegou-se à organização familiar, patriarcal ou não, mais ou menos definida… Depois criou-se uma ilusão a partir disso. Mas é evidente que existem laços afectivos que são cruciais. E uma criança não se desenvolve sem eles. Nós somos criaturas de uma fragilidade que nos define.
Enquanto espécie?
Pense-se que, depois dos nove meses no útero, quanto tempo não levamos para aprender a andar e até adquirir algum grau de autonomia. Por outro lado, é perigoso a idealização dos papéis. O da mulher, da mãe que é perfeita, que tem de estar sempre dedicada aos filhos… Este conceito de família, construído a partir de uma santificação e, no seu reverso, de um sacrifício das mulheres, está profundamente errado. Mas depois vem o outro modelo, que é virar o erro do avesso, e criar outro igualmente inaceitável, que é lutar contra a família, pôr em causa tudo. Os modelos têm uma certa função, mas são grosseiros, e, se generalizados, mostram-se sufocantes. Mas voltando atrás, devemos perguntar-nos se não havia outro modelo para se lidar com esta pandemia. Parece-me que sim, que havia outra forma menos grosseira de lidar com o problema.
Há aquele conto da tradição sufi, “Nasrudin e a Peste”. Conhece?
Não.
“Peste, onde vais?”, perguntou-lhe Nasrudin quando se cruzou com ela, que se dirigia então para Bagdade. “Olha, vou matar dez mil pessoas.” E ele: “Mas porquê?” “Então, porque é a minha função, não tenho outra!” Mais tarde, voltaram a cruzar-se e Nasrudin estava furioso: “Mentiste. Disseste que matarias dez mil pessoas, mataste 100 mil!” E a peste respondeu-lhe: “Não menti não. Sabes porquê? Porque os outros morreram de medo. Foi o alarme.”
E o que lhe diz?
Com isto não estou a tirar gravidade ao que está acontecer. Estou a dizer-lhe que podíamos ter negociado de uma forma mais consciente, mais equilibrada a situação. Começar por entender que ameaça, de facto, se colocou perante nós. Já pensou na quantidade de obras que começam com uma situação infecciosa e viral? Já passámos por isto antes. Não acha que não se poderia ter encontrado uma maneira que fosse mais sensata, menos contagiosa do ponto de vista do medo, para se lidar com isto?
O que podia estar a ser feito de forma diferente?
Não ceder a esta paranoia em que se obriga as pessoas a encararem-se umas às outras como agentes infeciosos… Não somos já objecto de desejo ou de afecto, passámos a ser objecto de contágio. Somos um perigo mútuo. Não havia outra forma de sensibilizar e de educar as pessoas sem ser debaixo deste capacete estatístico? Parece-me que estamos a viver numa realidade digna de um filme de Hollywood, num disparate em que as pessoas se rendem a uma ideia de calamidade que parece um desses cenários que conhecemos dos filmes, e nem sequer dos melhores. É má ficção futurista. É um desses ambientes de invasão dos marcianos, de colonização pelas máquinas… Essas tretas.
É uma distopia na distância mais curta entre duas pessoas?
Hoje, toda a gente sabe o que vai acontecer ao amor. Toca-se com o cotovelo, e chega. Esta coisa das máscaras pode até ser das melhores coisas para diminuir a naturalidade, mas, para o sentido orgásmico do prazer, para esse lado vital que me dizem estar tão presente na minha poesia… (E eu por vezes até digo: o sexo antes da vida!) Desse ponto de vista, as máscaras não ajudam muito. Se calhar, depois disto, também se irá tomar como natural, para prevenir outro tipo de problemas, que, na altura de se querer ter um filho o melhor seja recorrer a um banco de esperma. Aí, tenho acesso ao cadastro dos homens e posso escolher o que mais me convém. As emoções ficam reduzidas ao mínimo. A excitação visual desaparece… Todo este mundo que está a precipitar-se sobre nós tem algo de fantasioso, mas é uma fantasia pobre, derrotada, assustada.
Tendo nascido em 1930, depois de ter atravessado quase um século, como funciona a sua memória? Dá por si a passar mais tempo em que época, que coisas gosta mais de recordar? Especialmente, num momento como este, de que não gosta nada, que outro tempo lhe parece mais convidativo?
A minha memória é muito selectiva, muito circunstancial. Por vezes, é um acidente que despoleta uma recordação, alguma coisa que se fixou em mim com um prego emocional, mas que pode até não ter grande importância. Não tenho os arquivos organizados segundo uma sucessão de acontecimentos. Não tenho continuidade. Se dou por mim a relatar algum período da minha vida não sei se estou a ser fiel ou se a ficção tomou já conta. O que tenho são flashes, momentos desgarrados, acontecimentos que foram marcantes para mim. Normalmente, momentos de grande perplexidade. São episódios um nadinha íntimos, quase intocáveis. Mas posso contar-lhe um.
Por favor.
Quando tinha uns 15 ou 16 anos, na escola havia um médico escolar. Estava a brincar e deu-me uma dor enorme, e eu fui ao gabinete e mostrei-lhe onde me doía. Ele não me ligou meia. Disse que não era nada porque a coisa estava a passar. Fiquei muito ofendida com a desconsideração dele, tendo sido uma dor fortíssima. Lembro-me de ter pensado: “Quem é esta gente? Uma pessoa queixa-se de uma dor e eles riem-se. Será preciso que a dor fique connosco para ser real? Preciso de ficar de cama? Que ideia é que eles têm da dor?” E jurei para mim mesma: “Nem que eu morra, não me volto a pôr nas mãos desta gente.” Nessa noite a dor voltou, e não me deu hipóteses de me armar em orgulhosa. Senti necessidade de ter uma coisa fria na barriga, e sei que me desloquei, com a barriga colada à parede, tentando chegar até aos meus pais. Às tantas caí. Tive uma peritonite arrasadora, que me deixou de cama, e logo depois uma flebite na perna esquerda, rara numa pessoa da minha idade. Isto foi no tempo da penicilina, lembra-se?
Não (risos).
Não, claro, vocês não se lembram. Vinha a preço de ouro, de fora. Estive muitos meses de cama, e quando regressei ao liceu tinha de ir de carro.
Isto passa-se em Bragança… E a sua família era abastada?
Razoável. Vivia com os meus avós, numa casa com 16 divisões, quatro andares, com bastantes empregadas. Sim, não creio que tenha sido necessário um grande sacrifício para mandar vir a penicilina.
Estive paralisada durante muitos meses. Cheguei a ouvir comentar-se na rua: “Morreu a filha do senhor Major.” Era eu. Eu não tinha morrido, mas devia parecer que era isso o que ia acontecer. Só tinha vista para um telhado e lembro-me da alegria que sentia ao ver a pouca vida que me entrava pela janela.
Como é que ocupava o seu tempo?
A ler. O meu pai era um homem conservador, mas, apesar de tudo, vendo-me naquela situação tentou que a doença não me fosse tão penosa. Assim, pagou a um homem cheio de habilitações e vocação artística e que, tendo sido obrigado a assentar praça (como então se dizia), tivera de deixar para trás as suas ambições artísticas. Esse indivíduo, que era pintor, tendo-se visto castigado pela vida, transmitiu-me a sua paixão pela pintura. Foi uma forma de passar algumas horas distraída, e esse senhor, de quem só recordo o cabelo aos caracóis e a baixa estatura, foi importante para mim. Mas o episódio de que me recordo bem veio na sequência de eu ter conseguido largar a cama e começar a passar algum tempo na varanda. Levavam-me as refeições à varanda, e eu passava ali boa parte do dia. Era uma varanda com grades de ferro, e eu deslocava-me agarrada às grades. Lembro-me da primeira vez que consegui dar uns passos sem ajuda e sem apoio, e da alegria que eu senti. Era como se aprendesse a andar pela primeira vez e, ao mesmo tempo, sentisse que o mundo voltara a ser meu. Mas devo ter dado três passos tão inábeis que, quando olhei para a minha família, que estava a observar, dei-me conta de que eles estavam a chorar. Na altura, não entendi o que se passava.
Mas choravam de aflição, convencidos de que não recuperaria a mobilidade?
Com certeza. Quando me viram dar três passos e cair, devem ter ficado convencidos de que eu não voltaria a andar. Eu conquistara os meus primeiros três passos, e estava radiante, já eles, viram outra coisa. Está a ver este desfasamento… Se eu fosse um ficcionista, se me desse para abordagens artificiosas, poderia retirar muita coisa deste desencontro, da minha alegria para as lágrimas deles. Esta é a natureza dos afectos. E são estas pequenas memórias que ficam connosco e que nos vão ensinando ao longo da vida sobre o afecto.
Fora isto, não tenho uma grande memória. Mais facilmente sou capaz de me recordar de uma história que li ou ouvi, até de um sonho, já que os meus sonhos normalmente têm uma história… Mas a minha própria vida, não.
Aquilo de que me lembro é de que era muito marrona.
Era uma forma de agradar os seus pais?
Não, não. Sempre gostei de me embrenhar nas coisas. Ainda hoje. Gosto de ler sobre tudo. E acontece que não fixo nada. Tenho a sensação às vezes de que não aprendo nada.
Não retém nada?
Não, e não me importa. Sou de uma ignorância radical. Memorizo os nomes das pessoas, dos autores, sei que andei por lá, mas a fazer o quê não me lembro. E não me importo.
É um conhecimento que não tem a ver com procurar servir-se do que descobre mas que simplesmente busca passar pelas coisas, e apreendê-las brevemente e seguir caminho…?
Não sei explicar. Tenho entusiasmos, mas acabo sempre por abandonar as coisas. Posso passar sete anos de volta de uma obra, minha ou de outro autor. E um dia deixa de me interessar. Lembro-me de ter andado durante anos e anos a ler “O Monte dos Vendavais”, fascinada com o Heathcliff… Interessava a circularidade, a construção do romance, mas interessava-me particularmente aquele personagem. Não conseguia entender bem o livro ou o meu fascínio por ele. Não sei quanto tempo andei com esse livro, mas era uma obsessão, e procurava tudo o que encontrasse sobre a obra. Nada era o bastante… Deixe-me contar-lhe outra coisa a propósito disto. Conheceu o César Monteiro?
Não.
Uma víbora. Eu amava o César. A empresa onde estive produziu o filme “Recordações da Casa Amarela”, e eu fui fazer o levantamento, ou seja, dar algumas pistas para que os jornais pudessem escrever sobre o filme. Mas já conhecia o César de antes, de há muito. Um dia fomos tomar um café, e eu tinha acabado de me divorciar. E ele era mau, era um velhaco amoroso. E disse-me: “Bem feita.” E eu fiquei parva e quis saber porquê? “Porque tu tiveste, durante anos, um amante.” “Eu?”, “Sim, tu. E eu sou testemunha.” “Mas quem?”, perguntei-lhe eu na minha inocência, pondo até a hipótese de ter-me esquecido de algum romance que houvesse tido. “O Heathcliff!” Ele tinha chegado a dar-me coisas sobre o romance, e eu andei anos imersa naquela obra. Escrevi páginas e páginas, fiz o meu monte dos vendavais dessa obsessão. E um dia, simplesmente, perdi o interesse.
E essas páginas ficaram por aí?
Sei lá onde ficaram. Isto acontece-me muito. Mas acontece-me na vida… Sempre fui mais uma mulher de espaços do que de qualquer outra coisa. Entro num espaço e logo sei se ali irei conseguir escrever. O Porto, a cidade, sempre foi a minha grande paixão. Tive uma ligação fortíssima com o Porto, visceral, orgânica. Levantava-me de madrugada, conhecia os caniços todos, a cor para cada temperatura. Não precisava de estar lá com ninguém. A cidade foi minha amante. Tinha um quarto num hotel onde ficava sempre que lá ia e que tinha vista para as traseiras, onde vivia uma velha maluca, cheia de gatos, e vinha estender as fraldas, e eu ficava a olhar aquilo como se pudesse viver no meio daquilo. Lembro-me de ficar longamente a ver como escorria água por uma parede de latão. Ficava diante daquilo como de um quadro. Foi a essa mulher que escrevi poemas de amor canino, sobre as crianças que vivem cem anos. Era a cidade em que nos reuníamos, nós, os escritores. Já não sei se por iniciativa do Arnaldo Saraiva.
E quem eram esses escritores?
A Isabel de Sá, o Arnaldo…
O Manuel António Pina?
Sim, também. O Mário Claúdio, a Helga Moreira… Encontrávamo-nos num café, jantávamos juntos, saíamos. Era o fim do mundo. Quem me dera voltar a esse tempo.
E como começou a escrever?
Escrevia para os jornais. Ao longo da minha vida profissional, que me ocupava muito tempo, não foi sobrando tanto para me dedicar à escrita. Escrevia reportagens à minha maneira sobre temas que me interessavam. O trabalho de pesquisa que faziam certas pessoas, fosse na área da arqueologia ou outras. Eram publicadas no “Jornal de Notícias”. Eram coisas sem grande importância. Na altura, pensava: Quando sair daqui, e isto não me ocupar tanto tempo, a minha vida profissional, ou vou ter filhos ou vou escrever. Gostava muito de coisas científicas. E no meu primeiro livro – “Esquemas” (1975) – deixei-me levar por esse gosto. Foi uma coisa bastante ingénua, e que nada tinha que ver com a poesia experimental. Era muito amiga da Maria Alberta Menéres, do Eugénio de Melo e Castro e da Ana Hatherly, mas não estava nessa onda. Isto numa altura em que todas andávamos de chancas ou descalços, e em que a grande palavra de ordem era “Porra!”.
E que impacto teve o livro?
Quando aparece, pareceu extraordinariamente elitista… Falava de Freud e Lacan… Era um livro de poemas mas de alguém que não lê poesia. Foi mais apreciado pelos tipos que gostam de computadores. Eu não sabia muito bem em que me estava a meter. Aquilo parece um delírio psicanalítico. Lembro-me que me divertia com aquilo: “Sapato, não-sei-quê, carga de sapato, angústia de buraco numa meia, fenómeno emergente o dedo precedente.” Era uma coisa virada para o humor, e de uma síntese brutal. A palavra brotava como bloco, só que vinha avisada de muita coisa. Lá dentro bulia uma enorme densidade.
E foi tomado como pretensioso?
Sim, houve quem o acusasse disso. Mas depois eu disse para mim: Caraças, se for para fazer como eles, isso também eu faço como faz qualquer um. E depois disto fui convidada pela Limiar (editora do Porto) para integrar um volume da “Jovem poesia portuguesa”, com a Wanda Ramos e o João Camilo. Nesse livro tenho um grande poema que assenta nas malhas todas, que está perfeito nos seus alicerces. Eu sabia o que estava a fazer. Quis mostrar-lhes que se quisesse podia fazer as coisas com uma grande perfeição formal. Esse poema, chamado “Estilhaços”, caiu no goto das pessoas. Já era um poema mais reflexivo, nele já dizia: “Difícil não é aceitar os sentimentos que se esgotam. Difícil é assumi-los quando mais não se renovam.” Aquilo já não podia ser mau. O anterior, sim, podia ser posto em causa. O que ouvi sobre esse foi: “Mas o que é isto?” E a verdade é que nem eu própria estava interessada em definir o que era. E no “Estilhaços” fi-lo virando-me para aquele rigor obstinado porque estava magoada, como a criança que deita a correr e que depois fica triste por ver que os outros a recusam. Isto apesar de o Pedro Tamen ter dito que era uma obra de uma grande maturidade. O segundo já foi uma escrita mais distanciada.
Essa geração do Porto, com algumas excepções, desde logo Eugénio de Andrade e Sophia, quando comparada com a de Lisboa, o Grupo do Café Gelo, por exemplo, sobretudo se considerarmos as mulheres – Wanda Ramos, Isabel de Sá, Helga Moreira e também a Eduarda – são figuras que parecem ter caído para trás do móvel. São autoras cujas obras estão até indisponíveis… Porque é que pensa que isso aconteceu?
Creio que nenhuma de nós estava muito interessada nisso, na vida literária. Estávamos mais interessadas em sermos amigos e viver. O convívio era muito importante para nós. Não éramos provincianos, talvez fôssemos provinciais. Queríamos perder o tempo. A Isabel de Sá, por exemplo, quando publicou “Esquizo Frenia” (1979), ninguém ligou. E trata-se de uma coisa absolutamente excepcional. Ninguém ligou. O que me parece é que houve sempre uma certa superficialidade na análise daquilo que foi sendo publicado. O nosso cânone é feito mais de insistências do que de leituras excepcionais. A Isabel de Sá escrevia algo como isto: “Fui à rua buscar a morte que andava desaustinada pelas paredes como cão raivoso. Ofereci-lhe o braço, trouxe-a comigo, fi-la minha amante. Num leito de linho nos deitámos e em segredo me falou dias seguidos sobre a sua infância, a solidão debaixo da terra, o amor pela natureza.”
Parece escrito para esta hora.
Isto é lindíssimo, é de uma ousadia e de um atrevimento…! Agora pense: Quem é que vai à rua buscar o coronavírus, lhe oferece o braço e diz ‘vem comigo’? Quem é que tem esta atitude e diz: Agora faço-te meu amante? Face uma coisa destas, pergunta-se: Quem és tu? “Fui à rua buscar a morte…” Já pensou nisto? Ninguém falou do tédio como ela, ninguém entre nós falou do spleen como ela falou. Ninguém falou das mulheres metidas nos rios quando eles mais correm. Aquilo é poesia autêntica. Será por terem feito parte de um grupo homossexual?
Grupo homossexual?
Sim, terá sido isso? Pode não ser isso. Mas lembro-me dos tantos projectos que por ali se fizeram, das revistas que se fundaram…
Pode dar-me algum exemplo?
A revista “Serpente” era lindíssima. Uma antologia erótica que a Isabel fez e que era também lindíssima. Eu colaborei nessa antologia com um poema brutal sobre a doença de couro, uma doença em que se fica sem os órgãos sexuais. Falo do amor com uma vaca… As parafilias… Quem é que fala nisso? Creio que nessa altura, havia mais arrojo do que há hoje. Havia menos conservadorismo. Se calhar isso paga-se caro.
Quando olha para uma figura como Sophia, que encarnou o ideal de uma mulher culta, bela, em que a pureza estava ligada a um esplendor clássico, e que associava a um certo recato uma ideia de aristocracia… Como era ser poeta mulher quando a Sophia era a figura dominante?
Quem éramos nós face à Sophia, não é? Nós não estávamos no pedestal, no máximo políamos as estátuas, as pratas. Ali, está-se no pedestal, no Olimpo, é tudo de uma grande elegância, mas, por outro lado, não se via dela um impulso de ir buscar a morte à rua e fazer dela a sua amante, e também não se escrevia do amor com uma vaca… não se dizia: “Resvalo por fodas de alcatifa…” E eu dizia-o, dando uso ao vernáculo. “Não era ainda uma pomba política polígama mas era algo que se deslocava por entre oralíssimos cristais e fodas de alcatifa…”
Quando cheguei ao “Fiat Lux” (2014), primeiro não consegui entrar. Foi-me recomendado, até de forma entusiástica, mas cheguei lá e pareceu-me fechado. Depois foi a Andreia (C. Faria) que insistiu uma e outra vez, e imerso no ambiente da pandemia, aí sim, houve naquela linguagem que fala de dentro de uma ameaça, de um cerco feito pela doença, algo que se deslindou.
É muito difícil sempre entrar numa leitura pertinente. Ela oferece-nos sempre alguma resistência. É por minha insistência que acabo por lá chegar e por ficar capturada pelo texto, mas precisamente pela resistência que ele me oferece. Tenho que fazer várias incursões. A primeira é só para o ouvir dizer: “Não quero que me leias.” A segunda já é uma luta. Sou eu a fazer de batedor, a ir saber que território é aquele. Não é fácil, nem deve ser. E a verdade é que o processo é tão cativante que me leva até a prescindir das pessoas. Porque aquilo depois torna-se uma companhia.
Nunca buscou afirmar-se no plano mais mundano da vida literária, ao ponto de estar a publicar aos 90 anos numa editoria humílima, como é esta de José Carlos Marques, as edições Sempre-em-Pé. Uma editora pobre, praticamente ignorada. Identifica-se com esta humildade?
Acho que sou o inverso da projecção narcísica. O Eugénio de Andrade perguntou-me certa vez se eu não gostava de ser vista. E eu disse-lhe que não. Disse-lhe que a mim chegava-me ser olhada por um bocadinho. Falámos da dificuldade que as pessoas têm em viver bem com a sua insignificância. Pois, eu sou adepta da insignificância. Quer o queiramos quer não, todos somos insignificantes. E mesmo quem tanto foge a isso, no máximo colhe três dias lá, em que tem projecção, mas depois, mais do que isso, só uma vida inteira de solidão. Três dias debaixo dos holofotes e depois uma vida inteira sem testemunhas. E se a escrita me preenche, para quê procurar outra coisa? De resto, penso que uma editora dessas maiores não teria nenhum interesse em mim. Eu não tenho ambição. Nunca tive.
E como encara essa preocupação pela posteridade de tantos poetas portugueses, seja Eugénio, Sophia ou Herberto Helder?
Nalgumas pessoas consigo apreciar esse lado. Tenho uma grande admiração por esses autores. Mas, quanto a mim, coloco distâncias. Eu sou um poeta menor. Isso não me envergonha. Ler Lucrécio é fascinante. Ler Homero, ler Aristófanes… Quando vejo obras dessas, quando depois olho para as pequeninas coisas que eu faço, já agradeço que uma pequena editora se lembre de mim. Fico muito grata. Quanto ao resto, não tenho espírito competitivo. Não sou capaz de sentir alegria com essas coisas.
E as relações que foi mantendo por causa da escrita, eram motivo de alegria?
Não era alegria. Eram relações que povoavam uma solidão imensa. Sou uma pessoa muito solitária. Cheguei a esta idade cheia de complicações, problemas físicos. Mas basta-me às vezes sentar-me à secretária, seja para escrever ou, mais frequentemente, a ler um livro de outra pessoa, e isso dá-me saúde. Dá-me o equilíbrio de que preciso. Não diria que me dá paz, mas arranca-me ao tumulto dessas coisas que são tão desgastantes e que não levam a nada. Todas essas sarnas que se vai acumulando, isto arranca-me a elas.
Uma coisa que aconteceu à geração de que faço parte é que de súbito ficámos sem tecto. Morreram as grandes figuras, as grandes presenças que admirávamos, em poucos anos a paisagem ficou desolada. Há uma grande orfandade… Mesmo os poetas que estão ainda vivos ou se calaram, viraram costas…
Por exemplo?
Joaquim Manuel Magalhães, João Miguel Fernandes Jorge, António Franco Alexandre, e depois há uma série deles de quem raramente vamos tendo notícias. Com a excepção do Helder Macedo, do António Barahona, do Alberto Pimenta, que ainda vão fazendo os possíveis por manter um laço com as gerações mais novas… Neste contexto, o que é que a Eduarda gostaria de transmitir aos leitores e aos poetas mais novos?
Vou lhe dizer o que penso, mas isto resulta apenas da minha experiência. Não tenho conselhos para andar por aí a dá-los seja a quem for. O que acho é que, contando que a poesia não se transforme num hábito de juntar palavras bonitas, fazer versinhos à lua, se a poesia for realmente um desafio, um exercício que nos arraste até aos nossos melhores esforços, de irmos ao mais fundo do fundo… Então, não interessa o resultado. O que importa é que a pessoa não desista desse processo criativo. Esse é o grande motor da nossa saúde mental.
A poesia foi o seu refúgio?
Há um canto em nós que, tal como pode ser arrastado para a religião, pode ser uma forma de buscar amplitude, de buscar um conhecimento que não se confunde com essas noções livrescas, nem tem nada que ver com empanturrar-se ou andar com essas coisas pesadas, tudo isso surge antes com uma certa leveza. E há nisso uma capacidade de atracção, uma gratificação que não se encontra em mais lado nenhum. Nada vos pode dar tanta satisfação como entrar-se neste mundo. É um mundo realmente, e que encanto que nele a palavra tenha um impacto tão grande, e seja sempre possível ir mais longe.
E agora, o que se segue?
Eu tenho 90 anos. Muitas vezes disse a mim mesma: “Desisto. Não tenho nada para dizer.” E então penso: “Não sejas batoteira. Então, desiste mesmo. Se desistes, desiste mesmo. Afinal, de que parte de ti queres desistir?” Dizer a uma pessoa que desista disto ou daquilo porque não tem importância nenhuma, acho isso um crime. Essas coisas pequenas que aprendemos a valorizar, dão-nos a vida. Por isso, digo a todos os poetas: Não desistam.