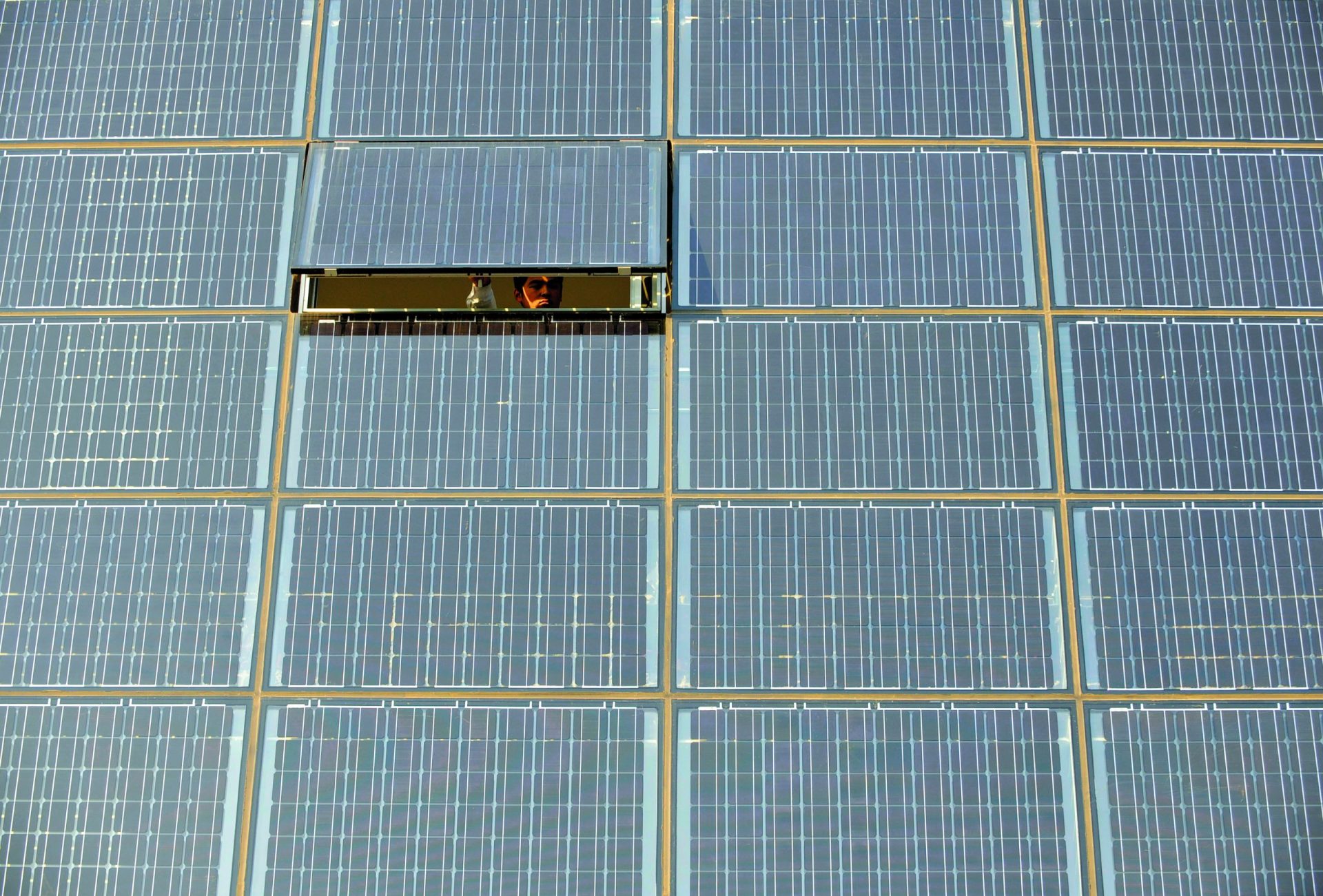Nasceu em Vilnius no tempo em que isso significava nascer na URSS, e aí estudou cinema. O primeiro filme, com a história de um padre que, a partir da sua igreja, na atual Lituânia mais remota, resistia à opressão do regime soviético, pôde filmá-lo porque era um filme de curso ainda – e porque o começou num tempo em que se anunciava já uma mudança. Ao Porto/Post/Doc, a decorrer até ao próximo domingo entre o Teatro Rivoli e o Passos Manuel, no Porto, Audrius Stonys chegou com uma retrospetiva que recuar às suas primeiras curtas-metragens (rodadas no tempo em que a marca de película ucraniana a que tinham acesso os empurrava para o preto-e-branco), um precioso retrato desses tempos de mudança. Mas também com uma seleção feita por si de filmes de realizadores lituanos do período soviético. De Robertas Verba e Edmundas Zubavicius a um outro nome nascido no seu país mas que descobriu o cinema na América: Jonas Mekas.
Nasceu em 1966, no tempo em que a Lituânia estava sob o domínio soviético, e ao Porto/Post/Doc, a acompanhar os seus filmes, traz também vários filmes lituanos desse tempo, bem como do Jonas Mekas.
A nova geração não se recorda desses mestres e foi um período absolutamente belo para o cinema. Pensei que a missão deste programa seria não só o acesso a bons filmes, mas também poder ter uma impressão deste período maravilhoso, não apenas de um realizador mas de toda uma geração de cineastas. É interessante perceber que o Mekas estava [nos EUA] a fazer filmes ao mesmo tempo que estes realizadores lituanos, mas o Mekas é um continente em si próprio. Não podemos compará-lo a ninguém. O Mekas é o Mekas. Conheci-o, foi meu professor em Nova Iorque, e foi uma das pessoas mais importantes na minha vida criativa. E por isso quis trazê-lo.
Foi estudar para Nova Iorque por causa dele?
Fomos convidados pelo Mekas. Éramos dez jovens realizadores, acabados de terminar a escola, e ele convidou-nos. Conhecíamos o nome, mas não tínhamos acesso aos filmes dele durante o período soviético. Conhecíamo-lo sobretudo como poeta, um belo poeta.
Ao contrário dos filmes, os livros chegavam à Lituânia, não eram proibidos?
Podíamos ler os livros, mas não podíamos ver os filmes. Não sei porquê, não me pergunte, há uma série de coisas estranhas inexplicáveis nesse período, mas os livros eram publicados [na Lituânia]. Era um grande poeta.
Mas a poesia está nos filmes dele também.
De alguma forma, complementam-se, os poemas e os filmes dele. Mas, para nós, em Nova Iorque, foi uma descoberta. Descobrimos um mundo totalmente novo através do Mekas – e não só assistindo aos seus filmes, que adoro e que deixaram uma grande marca na minha vida, mas também os filmes que nos mostrava. Filmes avant-garde americanos: da Maya Deren, do Andy Warhol… Foi um choque cultural para nós descobrirmos todos estes grandes nomes.
Dizia que redescobriu este período ao fazer esse último filme.
Esses nomes foram meus professores, aprendi deles, a assistir aos filmes destes grandes realizadores. Muitos deles não estão já entre nós, mas achei tão bom poder recordá-los. E sei que muitos filmes estão a envelhecer, isto é um facto. Até os grandes clássicos envelhecem às vezes. Eisenstein, por exemplo: O Couraçado de Potemkin é um filme brilhante, muito importante para a História do Cinema, mas já não é um filme que nos toque a alma. Há uma História e este é um filme importante na História, mas não há uma comunicação direta.
Estamos a falar de um tempo histórico muito específico, o tempo da ocupação soviética. O Audrius terminou a escola de cinema e começou a fazer filmes na transição desse período para um novo, na viragem para a década de 1990.
Estudei no tempo soviético, mas a minha produção artística começou com a transição.
O tempo em que estudou foi já, de qualquer forma, o tempo da perestroika.
Sim, mas continuávamos na União Soviética. Julgo que isso se sentiu mais na Rússia. Para nós, o importante era o movimento pela nossa independência. Tivemos a nossa independência em 1990 e foi por essa altura que fiz o meu primeiro filme, portanto comecei a filmar exatamente na altura do colapso da União Soviética.
Na verdade, o seu primeiro filme, Open The Doors to Him Who Comes, é de 1989.
Foi no tempo exato, porque o nosso movimento começou em 1988, a altura em que comecei a filmá-lo, e quando o estreei já éramos independentes. Declarámos a independência em 1990. Foi exatamente na altura em que passámos a ter toda a liberdade para fazer filmes. A censura desapareceu, todo o sistema anterior desapareceu, deixámos de precisar da aprovação de Moscovo para ter os nossos filmes aprovados, podíamos fazer o que quiséssemos. Foi um tempo de liberdade total.
Um excelente exemplo disso é a curta-metragem The Baltic Way, de 1990, que regista o protesto pacífico em que, em agosto de 1989, milhões de pessoas formaram um cordão humano de 600 quilómetros contra o pacto de Ribbentop-Molotov que percorreu os três países bálticos. Como é que este filme aconteceu? Pegaram numa câmara e foram filmar?
Exato, o Baltic Way. Não havia câmaras, estavam todas a ser usadas. Sabíamos que era algo de muito importante o que estava a acontecer, tínhamos de filmar aquilo. Era um milagre, coisas dessas acontecem uma vez numa vida. E nem era pelos números, nem era por esta corrente de pessoas ao longo de 600 quilómetros, era pelo sentimento de uma verdadeira irmandade. Nunca mais voltei a assistir a nada assim, a esse sentimento de que alguém que não conhecemos mesmo é nosso irmão. Era isso que sentíamos. Levantávamos uma bandeira e toda a gente celebrava, foi um momento mágico daqueles que não se repetem.
Mas não havia câmaras.
Não, estavam todas ocupadas. Todas, até as câmaras antigas que as pessoas tinham guardadas em caves. Todas. Tínhamos um câmara a trabalhar connosco e andámos atrás dele – e foi complicado porque os telemóveis ainda não tinham sido inventados – a pedir “filma isto”, “filma aquilo” e, no final, em poucas semanas, montámos este filme. Fizeram-se muitos filmes sobre este acontecimento e o nosso era o mais triste. As pessoas ficaram chocadas, perguntaram porquê. Foi tão alegre, três nações a celebrarem a sua liberdade… Nessa altura nem sabíamos porquê. Mas hoje, todos esses filmes que foram feitos com músicas alegres, patéticas, parecem um pouco naïves e o Baltic Way continua a a ser mostrado, a falar às audiências. Em cada alegria há uma parte de tristeza.
Essa tristeza, encontramo-la em vários dos seus filmes, mesmo quando a mensagem é uma mensagem de esperança. Juntamente com a natureza e com uma evocação da espiritualidade, por vezes de forma direta através da religião, como é o caso daquele primeiro filme de 1989, por exemplo, um filme sobre a resistência ao regime a partir de uma igreja.
O Open The Door to Him Who Comes, foi na verdade o meu filme de curso, comecei a fazê-lo ainda no período soviético. Nessa altura, um filme sobre um padre era algo de inimaginável, porque era o Estado que financiava os filmes. Ao mesmo tempo, já se sentia o início de uma mudança. Era o meu sonho fazer um filme sobre este padre. Ele vivia no campo, na Lituânia mais remota, não havia estradas, não havia sinais, e acolhia as pessoas na sua casa. Perguntava pelo nome mas nunca pelo apelido. Não trancava nenhuma porta, só guardava os objetos mais valiosos da. Era um território de confiança absoluta, um lugar muito espiritual, muito cheio de… bondade. E isso sentia-se. Tinha esta oportunidade de fazer um filme no final do curso e aproveitei-a. Mas só tinha uma hora de película, seis latas, lembro-me bem. Rodámos e não havia nem um minuto mais. Filmávamos três minutos por dia e, no fim do dia, tínhamos uma reunião em que dizíamos: “Estamos a gastar muito, temos de ter mais cuidado”. A concentração era absoluta.
O que isso quer dizer é que tiveram realmente tempo para pensar no que estavam a fazer.
Sim, e ele não percebia nada do que estávamos ali a fazer porque não nos via a filmar.
Continua a ser essa a forma ideal para filmar um documentário para si?
Sim. Hoje há quem filme 300, 400 horas, esse nível de concentração perdeu-se. Há realizadores que têm esta ilusão de que, filmando muito, no final encontrarão alguma coisa. Podemos filmar quilómetros de película e não ter um filme. E é um pesadelo: quando vamos a meio do material, já nos esquecemos do que estava no início. O que faço é tentar manter esse nível de concentração. Para o meu último filme, Bridges of Time, um filme de uma hora, rodámos 12 horas.
Voltando ao tema da religião, é sempre interessante para nós, europeus ocidentais, pensarmos que, nos países que viveram sob o domínio soviético, a Igreja teve na luta pela democracia um papel absolutamente inverso ao que teve em Portugal, por exemplo, em que compactuava com um regime totalitário: em vez de fonte de opressão, é resistência.
É realmente interessante. Para nós, a Igreja é liberdade, porque foi a única – a única – instituição que não colaborou com o regime. E foram presos, torturados, mortos. Nesse tempo, a Igreja era o único lugar onde nos sentíamos livres. Por isso é que os respeitávamos tanto. E, sendo este um tempo diferente, continuamos a respeitar, porque muitas dessas pessoas continuam vivas.