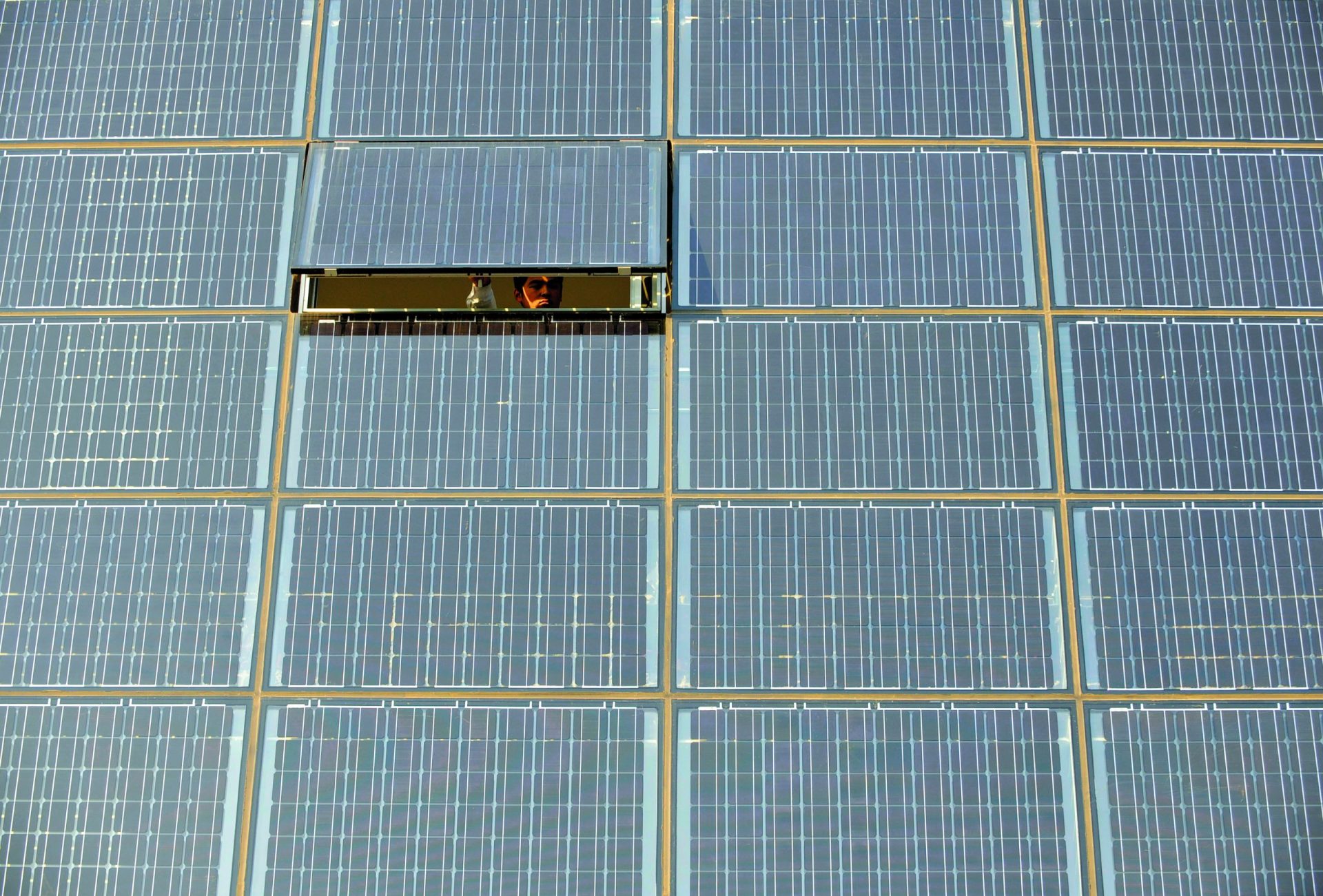Falta de autonomia, responsabilização das administrações hospitalares e racionalidade económica na relação das Finanças com o setor, que se traduz em mais despesa “sem resultados práticos” e num sentimento de frustração. Hospitais ainda muito fechados sobre si próprios e um sistema pouco preparado para lidar com o envelhecimento, com saúde e serviços sociais a precisarem de dar a mão. À porta de uma nova legislatura, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares traça preocupações para o novo ciclo e defende que é vital um plano estratégico que dê um rumo à saúde, para evitar um cenário de maior degradação dos serviços públicos, mas também de investimentos arbitrários. “Se não forem tomadas medidas estruturais, o sistema vai colapsar”, avisa Alexandre Lourenço.
Que marcas deixaram os quatro anos da legislatura no SNS?
Essencialmente, uma continuação do desinvestimento que se tinha iniciado em 2009. Um parque hospitalar mais envelhecido, com mais limitações e, além disso, uma maior conflitualidade dos profissionais e uma insuficiência de recursos humanos. Penso que são as grandes marcas, apesar de ter havido boas medidas, por exemplo ao nível da promoção de estilos de vida saudável e os impostos sobre o açúcar.
O Governo sublinhou a recuperação do investimento.
Penso que temos de ser sérios neste tipo de análise e, efetivamente, em percentagem do PIB existe menos financiamento público para o SNS do que existia há cinco anos. Neste momento está pouco acima dos 4%.
Foi conhecido o relatório e contas do SNS em 2018, que revelou um buraco financeiro de 848 milhões de euros, um agravamento de 500 milhões face a 2017. Como viu o resultado?
Confesso alguma surpresa com o valor, não esperava que fosse tão elevado. É o pior resultado de sempre no SNS e confirma o que temos vindo a dizer: a atual estratégia orçamental do SNS, com restrições de tesouraria e adiamento administrativo da despesa, não está a funcionar.
Pensando em 2015, quando foi anunciado o virar da página de austeridade, que perspetiva havia?
A perspetiva era que as limitações colocadas durante o período de ajustamento fossem levantadas. No final do Governo anterior tinha havido alguns sinais disso, com a possibilidade de os hospitais fazerem substituições dos profissionais de baixa, portanto, retomarem autonomia na gestão. Infelizmente, isso não aconteceu. As limitações acabaram por ser superiores e mesmo em termos orçamentais, apesar de não haver cativações no setor, existiu sempre uma suborçamentacão ab initio.
Até que ponto é que isso aumenta a despesa?
Na prática, termos uma tesouraria com restrições, conjugada com a lei dos compromissos, que não permite fazer compras se não houver cabimento para pagamento em três meses, leva a uma certa paralisia das instituições. Por outro lado, acaba por levar a um aumento artificial da despesa porque os pagamentos em atraso continuam a ter de existir e os fornecedores fazem repercutir os atrasos nos preços dos bens e serviços que fornecem. Portanto, no limite, temos um modelo em que acabamos a gastar mais sem resultados práticos, o que torna muito difícil resolver os problemas no dia-a-dia, e isso leva à conflitualidade e à frustração dos profissionais.
E o estado de espírito dos administradores, qual é?
Acompanha o dos profissionais. Existe um sentimento um pouco de impotência. E se houve alguma esperança de que os hospitais entrariam em programas de autonomia, infelizmente, só dois hospitais é que têm esse modelo implementado neste momento.
Eram para ser 11…
Sim, e até foi dito que seria alargado a todos, mas só foram assinados instrumentos com dois e, entretanto, saiu um despacho adicional que limita ainda mais. Em vez de se aprovar um plano de atividades e orçamento e, a partir daí, o conselho de administração responsabilizar-se pela execução, continua a haver restrições nas decisões, o que para nós não faz sentido. Ainda para mais quando esses instrumentos e planos foram objeto de discussão contínua com a ACSS e a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM).
Há um travão nas Finanças?
O que me parece é que o secretário de Estado acaba por desautorizar um órgão técnico, que é a UTAM. Em relação ao Ministério da Saúde, já sabíamos que isso acontecia. Mas, agora, na própria estrutura do Ministério das Finanças é notória a falta de confiança nos órgãos técnicos. E a verdade é que a administração pública vive de órgãos técnicos e, se esses órgãos não são fortalecidos em termos de respeitabilidade e até de capacitação de recursos humanos, a administração cai.
Fala-se da falta de profissionais de saúde, mas também faltam esses quadros nos hospitais?
Há uma total incapacidade de recrutar juristas, economistas, contabilistas, o que acaba por limitar a capacidade de trabalho dos conselhos de administração. Hoje temos hospitais com mais de 5 mil funcionários que têm um ou dois juristas nos recursos humanos, e já não falo de técnicos de recursos humanos ou de psicólogos especialistas em organizações, o que nas grandes empresas e na gestão moderna já é considerado algo básico. Para tudo o que é compras, logísticas, recursos humanos, não há quadros suficientes para a complexidade de gerir um serviço de saúde.
Isso é usado como argumento das Finanças para centralizar decisões?
Não se pode criticar o que se passa nos hospitais sem dotar as instituições de recursos humanos. Estamos a falar de hospitais que têm orçamentos superiores a 100 milhões de euros. Não é possível gerir isto centralizando no Ministério das Finanças. É confundir um hospital com uma repartição das Finanças. E se até as repartições de Finanças têm de ter algum grau de autonomia, nos hospitais, simplesmente, não funciona. Leva a um adiamento na resolução dos problemas, a uma frustração imensa e a uma descapitalização dos melhores recursos dos hospitais para ambientes e condições de trabalho mais adequadas.
No verão estiveram reunidos com os grupos parlamentares. Quais são as expetativas para a legislatura?
A expetativa, creio que já nem é expetativa…Tenho muitos colegas que começam a falar de um ponto de não retorno. A maioria dos administradores hospitalares, penso que continuam acreditar que é possível fazer mais e melhor, mas a expetativa é que o Governo venha a dar prioridade a estes problemas e que haja um aumento do investimento.
O Governo traçou um retrato menos negativo do que aquele que está a fazer. Se o diagnóstico não é coincidente, o remédio não poderá ficar aquém do necessário?
Penso que os responsáveis políticos têm a mesma perceção. Porventura, não podem falar assim na praça pública, mas creio que todos percebem o que está a acontecer nos serviços públicos de saúde. Naturalmente, pode ter havido outras prioridades, e isso é legítimo, mas o setor de saúde não foi uma prioridade e não foram resolvidos muitos problemas, foram até agravados. Não são uma responsabilidade só dos últimos quatro anos, mas acabaram por se agudizar. Num setor como a saúde, altamente complexo e tecnológico, se não forem tomadas medidas estruturais, o sistema vai colapsar.
Pela procura, pela deterioração dos equipamentos?
Há mais procura, os doentes são diferentes, mais velhos, com mais doenças, há muitos desafios tecnológicos. No mês passado tivemos o congresso europeu de administradores hospitalares e fomos visitar seis hospitais novos na Bélgica. Os hospitais que, no passado, eram iguais aos nossos, hoje têm um avanço de 15 anos, houve uma transformação.
O que é diferente?
Não têm filas de espera como as que temos hoje em qualquer serviço de consulta externa. Há uma gestão de circuitos, coisas simples, como a pessoa que faz a limpeza das enfermarias saber qual é o quarto que tem limpar, maximizando o potencial para serem admitidos novos doentes. Tem um iPad para saber os quartos que tem de limpar.
Pode ser assim tão simples diminuir os tempos de espera?
Está tudo ligado, tem a ver com circuitos e planeamento. Cada vez que cancelamos uma cirurgia porque falta um assistente operacional ou um enfermeiro, ou adiamos essa cirurgia uma hora ou duas horas porque não há quarto, o que estamos a fazer senão gerar desperdício e contribuir para tempo de espera? A verdade é que os hospitais nem têm meios suficientes para fazer pequenas transformações. A nossa recomendação inicial para o Orçamento de 2020 não é que se aumente ferozmente o investimento no SNS, o que defendemos é que o dinheiro que é injetado ao longo do ano para saldar dívidas a fornecedores, e acaba por gerar desperdício e ser até canalizado para hospitais menos eficientes – no limite, o que tem estado a dizer-se às pessoas é não se chateiem muito que, no final do ano, vem alguém pagar as contas -, seja dado de início às instituições no orçamento previsto para o ano todo, com autonomia para o utilizar e responsabilização pelos resultados. Só isso iria levar a uma redução de custos na área de bens e serviços na casa dos 10%.
Falou das prioridades políticas. O regresso às 35 horas de trabalho no Estado foi uma delas, que acabou por resultar em mais horas extra no SNS, falta de pessoal. Foi mal gerido?
Houve um momento inicial de passagem dos contratos em funções públicas para 35 horas. Aí houve uma certa acomodação. Depois, em maio de 2018, antes de as 35 horas serem aplicadas aos contratos individuais de trabalho, fizemos uma carta aos ministros das Finanças e da Saúde a alertar para vários problemas e um deles, o mais urgente, era este. Era evidente que não seria de um dia para o outro que se iriam contratar as pessoas. Até porque um assistente operacional, para ser autónomo, tem de ter um período de formação, não chega de repente alguém com uma formação indiferenciada e sabe logo como dar banhos, apoiar na alimentação. Portanto, este trabalho devia ter sido feito antes de julho de 2008 e não foi. De um dia para o outro, os hospitais tiveram uma quebra dramática dos profissionais disponíveis e só não foi mais grave porque, no período de verão, os hospitais reduzem a atividade programada. Entretanto foram contratadas pessoas, mas o choque foi tremendo. No meio disto, a única medida que aliviou a situação foi quando o Governo permitiu que os hospitais pudessem substituir mais rapidamente profissionais de licença, sem ter de pedir autorização.
Que, no fundo, era o que já existia no final do Governo anterior.
Sim. Imagine uma enfermaria com 20 enfermeiros: é normal que uns cinco estejam, por exemplo, em licença parental. Se estas pessoas não são substituídas, há uma pressão sobre os que ficam e mesmo entre os colegas, o que pode pôr até em causa a natalidade. Hoje, os hospitais estão melhor do que estiveram em 2018 e no início de 2019, mas continuamos a ter falta de profissionais devido à passagem das 40 a 35 horas, além dos que seriam necessários para reforçar a atividade.
É sustentável este nível de horas extra, com um recorde de 13 milhões de horas em 2018?
É uma dependência excessiva. São mais de 200 milhões de euros e, pior, aqui está mais uma área de desperdício. São horas que equivalem ao trabalho de 7500 profissionais. Quando se recorre a horas extraordinárias gasta-se mais do que se se contratasse as pessoas; as horas extra têm um custo superior à hora normal.
Algo que as Finanças sabem, não?
A lógica de ação das Finanças é a da restrição de tesouraria, e não de racionalidade económica. É uma mesquinhez de tesouraria, pelo menos no setor hospitalar.
Para manter o rigor nas contas, responder a Bruxelas?
Em momento algum se pretende pôr isso em causa. É evidente que todos os países desenvolvidos sabem que é preciso alocar mais recursos à saúde, mas já nem vamos por aí, estamos pedir o básico: dotem os hospitais dos orçamentos iniciais em linha com os planos de atividades e orçamento e afastem as administrações que não tenham resultados. Não estamos a dizer “não cumpram objetivos financeiros”. O que estamos a propor é que vai ajudar o país a cumprir esses compromissos. Esta política é que não é sustentável e, aí, entramos no cenário do não retorno.
Onde vê esse ponto de não retorno?
Uma degradação tal na resposta que a classe média desacredite o serviço público de saúde e subscreva seguros de forma maioritária. A partir do momento em que isto acontecer, a classe média que paga os impostos que sustentam o serviço público colocará o SNS em causa. Quando os próprios profissionais das instituições públicas que têm ADSE começam a ir mais ao privado para ter melhores tempos de resposta…
Mas isso não foi sempre assim?
Está acontecer mais, a própria despesa da ADSE está a aumentar.
António Costa garantiu que o investimento no SNS será a joia da coroa da próxima legislatura. Há um valor que considere adequado?
Não sabemos qual será o valor no OE, mas o que digo é que só deitar dinheiro no sistema não resolverá o problema. Tivemos o caso da ala pediátrica do Joãozinho. Não faz sentido o Ministério das Finanças chamar hospitais um a um e ver investimento, como se equipam blocos operatórios. Tem de haver uma lógica, uma visão estratégica, e os investimentos serem analisados de forma articulada e em rede, o que não acontece há muito tempo.
O dinheiro tem sido canalizado para os pedidos mais mediáticos?
É o risco que se corre, vimos isso até nesta situação recente do medicamento para a bebé Matilde. A pressão mediática começa a suplantar o racional da técnica. Em relação ao dinheiro necessário, o Governo chegou a fazer um levantamento de investimento e equipamentos a precisar de substituição e chegou-se a mais de mil milhões de euros, mas creio que não se pode chegar aos hospitais a perguntar de quanto dinheiro precisam – é preciso essa análise mais ampla, até para que não se coloquem equipamentos sem os profissionais para os operar. E também porque precisamos de repensar o sistema para questões como o envelhecimento, analisar os problemas nas urgências, os cuidados primários. No fundo, é preciso um plano de ação. Não podemos viver numa lógica de investimentos arbitrários em que quem grita mais alto é que tem acesso a financiamento.
Encontrou essa visão nos programas eleitorais, nomeadamente do PS?
Os programas eleitorais são declarações de intenção. Penso que a partir do programa do PS é possível fazer um plano. Mas não basta dizer que somos a favor do SNS ou que queremos reduzir desigualdades. É preciso dizer como isso é feito. Por exemplo, para reduzir desigualdades geográficas é evidente que são precisos mais recursos no interior. Uma das coisas que propusemos nas reuniões com grupos parlamentares foram índices remuneratórios diferenciados para os hospitais periféricos.
Médicos de família numa mesma zona acabam por ter salários diferentes. Os atuais incentivos para zonas carenciadas não criam alguma injustiça?
Isso acontece no mesmo serviço e hospital, o que aumenta a frustração. O índice seria uma medida mais justa. Como já foi sugerido, precisamos de um “plano Marshall” para a saúde e essa deve ser a obrigação do próximo Governo: apresentar um plano de ação estratégico com medidas concretas e, desejavelmente, que o sufrague na AR.
Defendeu que o plano podia ser agenda para a década, interpartidária. Esse consenso será possível depois de não ter havido grandes avanços num pacto para a saúde e das diferenças na discussão da nova Lei de Bases, que agora terá de ser regulamentada?
Penso que se deve tentar consensos. A aprovação de um plano deste tipo, mesmo que fosse só para a legislatura, seria de uma utilidade extrema. A discussão da lei de bases foi feita e, a partir do momento em que fica limitado o recurso ao privado, há uma maior responsabilização do Governo e dos partidos para garantir meios suficientes ao SNS. Não pode dizer que não se quer PPP e depois, por exemplo no Centro Hospitalar do Algarve, porque não há recursos, subcontrata-se o serviço ao hospital particular. Quem fez esta lei de bases tem a obrigação de pôr o sistema a funcionar.
Defende que o plano de ação devia estar concluído até ao final do ano. Não é excesso de otimismo?
Penso que em 60 dias é possível fazer um plano razoável e orçamentado. Quem não o conseguir fazer em 60 dias dificilmente tem capacidade para gerir uma área tão complexa.
Vê essa capacidade em Marta Temido, apontada como um dos nomes de continuidade no Governo?
É uma pessoa tecnicamente muito bem preparada que herdou uma situação de elevada conflitualidade. Dependerá do primeiro-ministro considerar se é a pessoa adequada ou não, mas esta matéria não é tanto uma componente de conhecimento técnico ou só do titular da Saúde. É preciso garantir consenso, congregar as forças todas que existem, voltar a motivar os profissionais para o SNS e dar confiança aos portugueses, e isso implicará o empenho pessoal do primeiro-ministro. Na década de 90, o candidato a primeiro-ministro Tony Blair dizia, no último dia de campanha, que tinham um dia para salvar o serviço nacional de saúde inglês. O que se exige ao primeiro-ministro é esse compromisso claro.
A exclusividade foi um dos temas empurrados para a nova legislatura. Que discussão antevê?
Não faz sentido discutir exclusividade numa lógica de salário. Já existiu e foi abandonada no Governo de Ana Jorge. Tínhamos pessoas com 35 horas de trabalho que trabalhavam mais do que as que tinham exclusividade. Faz sentido um modelo baseado em desempenho.
Isso não implicará mexer no modelo de carreiras médicas, que os partidos à esquerda e sindicatos defendem que é preciso recuperar? Vai ser um dos temas quentes?
O modelo das carreiras é um modelo técnico de progressão também de acordo com senioridade e provas dadas. Esta componente do desempenho está alinhada com isso, seria fazer essa atualização. Há sindicatos que querem fazer essa discussão, outros que a recusam, mas a obrigação de um Governo é implementar as medidas e, na nossa perspetiva, este modelo baseado em horas cria injustiças e está a levar as melhores pessoas a saírem para o privado. Imagine-se num caso hipotético que alguém de 35 anos tem ao lado alguém de 60 a ganhar o dobro e a trabalhar metade, ou alguém da mesma idade que trabalha metade e ganha o mesmo: qual é o sentimento desta pessoa? Só pode ser de frustração. A nossa expetativa é que seja possível algum consenso.
Escreveu recentemente um editorial numa revista internacional em que questiona se os serviços de saúde estarão em negação sobre o envelhecimento e as barreiras aos mais velhos. Cá, continuamos a estar?
Claramente. Quem entra num hospital hoje e vê a sinalética percebe de imediato que aquele edifício não está preparado para acolher idosos. Ou quando se chama as pessoas dia sim dia não para fazer análises ou exames sem ter em conta o percurso do doente, ou quando temos internamentos de dez dias em que cada dia a mais diminui a autonomia. Ou quando vemos que 5% das camas dos hospitais estão ocupadas com internamentos por motivos sociais, por falta de apoio na comunidade, lares e cuidados continuados, com as altas adiadas.
A rede de cuidados continuados devia ter chegado às 14 mil camas, ficou nas casa dos 9 mil. É um exemplo de investimento insuficiente?
E de desperdício. O nosso barómetro de internamentos sociais permite concluir que o desperdício de ter 5% das camas ocupadas com casos sociais permitiria duplicar a rede de cuidados continuados. Há muitas questões em que é preciso maior ligação entre saúde e aspetos sociais. Não podemos ter sistematicamente pessoas idosas com pensões baixas nas farmácias a não ter dinheiro para comprar medicamentos para as suas doenças crónicas. Tem de haver politicas mais ativas, por exemplo a majoração da comparticipação de medicamentos destas pessoas, se calhar em vez de aumentar a reforma de todos em 20 euros. E é preciso repensar os hospitais, hoje demasiado fechados sobre si.
Por onde se começa?
O hospital não pode ser esta megaestrutura que temos de grandes centros hospitalares, mas um hospital em que as especialidades vão ao encontro da população nos cuidados primários. É preciso arranjar formas de envolver profissionais, doentes e a comunidade na governação estratégica, e também para isso é preciso mais autonomia. E a responsabilidade não pode terminar quando dá alta e não se sabe para que casa é que a pessoa vai, se tem dinheiro para comprar medicamentos, até porque o mais certo é as pessoas voltarem a cair no serviço de urgência e a entrar num ciclo de internamentos, com pior resposta e mais despesa. Há outras questões tremendas do ponto de vista social, por exemplo as demências, praticamente sem resposta. São problemas de que falamos há anos e nos quais estamos a ficar para trás também por falta de uma visão a longo prazo. Andamos a gerir a saúde um bocadinho aos supetões e já levamos um atraso grande.