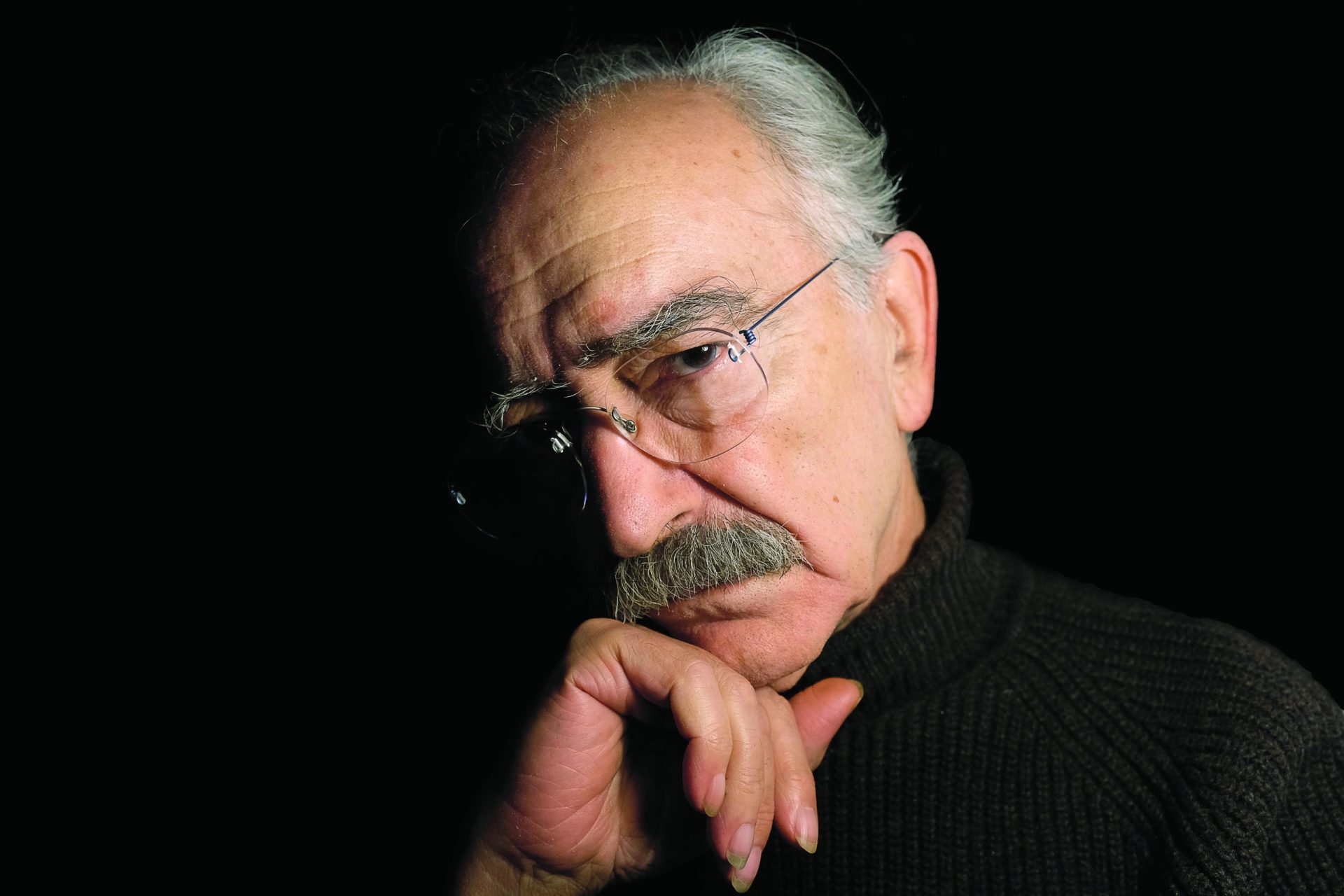Gosta de conversar mas nem tanto de falar sobre o seu trabalho. Porquê?
Não, eu gosto. Tem é de ser uma coisa séria. Não gosto nada do espavento social e mantenho uma certa reserva. Em relação à televisão, apenas. Mas sim, gosto de falar dos meus assuntos. As oportunidades também não são muitas.
Mas há um interesse grande pela sua obra.
Há, mas nunca foi aquele tipo de popularidade comercial. Nunca me habituei à ligeireza da coisa. A falar por falar. Também não sou procurado para isso. Os meios de comunicação têm um certo cuidado (sorri) e devem ter percebido que sou mais subversivo agora do que em tempos idos.
Porque os tempos mudaram?
O tempo é muito diferente. Houve um esvaziamento do discurso ideológico, programático e portanto político. E um agarrar com mais força dos valores por trás desse discurso. Este ano, devido às iniciativas da editora [50 anos de carreira celebrados com a edição da caixa “Inéditos 1967 -1999” e da antologia selecionada “Canções Escolhidas”], e por ter dirigido o disco da Katia Guerreiro, estou um pouco mais na baila. Estou mais presente nos meios de comunicação e apercebo-me de que estou sempre a dizer as mesmas coisas.
O que tem para dizer não é importante?
Para mim é, e acho que para toda a gente também. O que há é um esvaziamento muito grande. As pessoas não têm muito assunto e há, por que não dizê-lo, uma lavagem ao cérebro. Só é possível na base de um fenómeno que nos tem atingido desde os anos 70 – e não estou a falar só de Portugal – que é uma terrível desculturação. Uma perda de contacto com as coisas boas e importantes que a humanidade produziu ao longo do tempo. Há uma deseducação da linguagem e do gosto. Estamos todos um pouco macdonaldizados.
É isso que precede o tempo de Trump, Bolsonaro e do Brexit?
Isso tudo foi preparado. E teve um reflexo importantíssimo na cultura com essa tal desculturação. Já não é só nos alunos que se sente, é nos professores, nos Ministros da Educação e por aí fora. Não tenho qualquer intenção de lhe dar uma entrevista política embora seja impossível separar as coisas. A reorganização em novos termos do capitalismo mundial fez com que a parte educativa se restringisse à preparação da mão-de-obra rápida. É um capitalismo que, através disso, se revela imprevidente e estúpido. Creio que, por experiências do passado, uma força de trabalho culta, mais produtiva será. Em todas as formas de trabalho. O Marx falava da usurpação da mais-valia, ou seja do valor acrescentado produzido pelo trabalho à mercadoria, ao capital e às matérias-primas. O problema no século XIX estava identificado assim. Mas depois houve novas noções. Essa mais-valia passou a distinguir-se entre a absoluta – a exploração à bruta por exemplo dos mineiros, que metia crianças nas minas, e dos jornaleiros da agricultura, um capitalismo pouco desenvolvido – mas depois há um outro tipo que é a mais-valia relativa, que o capital consegue através dos ganhos de produtividade. Típica do desenvolvimento do século XX com a tecnologia e as inovações todas. Essa mais-valia relativa é que faz o capital ganhar muito mais dinheiro à custa do trabalho alheio. Nesta revisão mundial do capitalismo a partir dos anos 70, há um retrocesso. À medida que a globalização foi acontecendo, há um aumento do lucro à custa da mão de obra e não da produtividade. É um retrocesso para a mais-valia absoluta. O neo-liberalismo é isso. Isso teve um impacto grande na cultura e nas artes. Esse neo-liberalismo preparado pela escola de Chicago e posto em prática pela primeira vez no tempo do Reagan tem a sua corresponde na cultura, na filosofia e nas artes, a que podemos chamar de pós-modernismo.
Há poucos anos, esteve a estudar Linguística na Faculdade de Letras. Que ambiente estudantil foi encontrar?
(interrompendo) Sabe porque é que não acabei o curso? Tem a ver com isso tudo. Aí, diretamente com o processo de Bolonha. Fui para a Faculdade com 60 e muitos anos. Era avô daquela gente toda mas tínhamos aspetos do trabalho muito interessantes. A malta vinha do secundário muito mal preparada. Em relação à língua portuguesa, a ignorância era terrível. A culpa não é só dos rapazes e raparigas, tem de ser dos professores e do sistema de ensino. Tinha facilidade com aquilo tudo e, como havia dificuldades, cooperávamos bastante. Um grupo de rapazes, raparigas e um velho, uma turma, trocavam experiências, conhecimentos e problemas. Na véspera dos testes, em geral, circulava um papel em que os sabiam mais ajudavam os que sabiam menos. Entre nós, sem professores. A média geral da turma, só nesse ano, subiu três valores em vinte. No segundo ou terceiro ano do curso, entra o processo de Bolonha e o que é que acontece? Vem transformar a faculdade num supermercado de cadeiras. Os alunos entram, uma grande parte deles não tem qualquer objetivo na vida em relação aquilo. Só uma minoria é que gosta mesmo e uma minoria ainda mais minoritária é que tem intenção de continuar e fazer investigação. O que é preciso é que empinem. Continuei a ir as aulas e a não conhecer ninguém. Estava no supermercado. O espírito de cooperação desapareceu. Não acabei o curso, não tive pachorra. Continuei a ler livros, aliás há poucos anos ofereci ao departamento toda a minha biblioteca de Linguística porque faz lá mais falta. Na educação, isso é uma manifestação do neo-liberalismo. O que é preciso é preparar a nova geração de mão-de-obra sem grandes preocupações com a dimensão humanística. No secundário, já houve propostas para retirar a Filosofia. Para quê?! O que é que interessa que os jovens aprendam a pensar?
Encontrou alguma semelhança com os movimentos estudantis dos anos 60?
Não. Nem tinha espaço, com aquelas pessoas, para ter conversas políticas. No aspeto sociopolítico, era um grande vazio. Mesmo no período anterior ao processo de Bolonha. Basta um exemplo: a geração a que pertenci esteve na Universidade em tais condições que foi preciso acabar com as praxes. O movimento estudantil começou a crescer muito a partir daí – já tinha começado a crescer desde a eleição do [Humberto] Delgado em 58 – mas 62 é o ano da primeira grande crise em que sou preso com 19 anos. As praxes começaram ser mal vistas, começou a haver muito espírito crítico. Em 61, quando começa a guerra colonial, mais espírito há. “Mas que é isto? Para quê esta guerra?”. As duas perguntas, feitas em público, davam prisão. Até que foi o próprio Conselho de Veteranos, o organismo mais elevado e poderoso de praxes em Coimbra, que fez um decreto a acabar com as praxes. Querem vida coletiva? Vão para a Académica. Para o jornal, para as secções, para os grupos de teatro, para o futebol. Houve muita malta de esquerda, como eu, que jogou na Académica. O Zeca Afonso foi extremo direito na Académica. Não chegou foi à primeira equipa. Não havia cá a ideias das praxes justificadas por integração, como uma coisa reacionária, uma manifestação de poder irracional. Alguns dos jovens com quem privei no curso davam uma importância enorme às praxes. Precisavam disso. Agora, veja o retrocesso que isso representa. Não se entra em conflito com o poder mas faz-se aos outros o que me fazem a mim. É irracional e o resultado do vazio de ideias, espírito crítico e cultural.
Não encontra uma centelha de esperança no que se vai fazendo na música ou no teatro, por exemplo?
São ciclos. Acho que são ciclos. O “estraganço” do pós-modernismo nos anos 70, que para nós não contou muito por causa da agitação do 25 de Abril, e dos anos 80 foi tal, por exemplo na música, que houve uma geração a perder cerca de 30 por cento do espetro auditivo, graças às discotecas, aos rádios dos carros e aos auscultadores. Penso que há estudos académicos sobre isso. Na música, a variedade e o gosto que havia, a liberdade em encontrar soluções para as canções, perdeu-se. Tive a sorte de ter alguns estudos musicais. Houve uma operação de esvaziamento do gosto musical nos anos 80. Foi um inferno por isso é que o meu álbum dos anos 80 se chama “A Noite”.
É por isso que grava cada vez menos a partir daí?
Sempre gravei pouco.
Nos anos 70 tem uma profusão maior de discos.
No arranque. Gravei em 71 e 73. Depois, há um período em que participo no GAC (Grupo de Ação Cultural). Em 77, há um caso especial que é “A Mãe”, que é feito com canções escritas para uma peça de teatro. Quando saímos da Comuna em 79, fiz o “Ser Solidário”. Um duplo álbum mais o “FMI”, cujo projeto foi recusado por todas as multinacionais e me obrigou a ir para palco fazer o espetáculo e editar o disco com apoio do público.
Um crowdfunding como agora se chama.
Pois. Havia uma diferença. Aquilo esteve um mês em cena no Teatro Aberto, sempre esgotado, só com uma folga por semana. À entrada, o espetador recebia uma carta minha manuscrita, tirada a fotocópia, a explicar que o que ele ia ver era o disco que queria fazer e não me deixavam. E a dizer: “Se você confiar, deixe os 500 paus e depois recebe o disco em casa”. E receberam com o extra do máxi do “FMI”. No fim deste processo, aparecem o Zé da Ponte e o Guilherme Inês a fundar a Edisom, e que me dizem: “Oh Zé Mário, nós editamos isso”. O disco estava pronto desde 80 mas só saiu em 82. Depois “A Noite”em 85, o “Correspondências” em 91, o “Ao Vivo” em 97 e o “Resistir é Vencer” em 2004. São espaçados mas sempre foram. Fosse porque houve períodos em que estive mais envolvido na política, fosse o período com o GAC, fosse porque há uma atitude autobiográfica. “O que é que eu tenho para dizer? Não é assim tão importante”. Depois, há momentos em que tenho que dizer aquilo. A coisa enche, amadurece e tenho que ir para estúdio. É o inverso do que me está a acontecer agora,
Um agora longo.
É. Uma falta de assunto. Uma coisa é conversar, outra é ter um discurso universalizável. O mundo está mesmo muito diferente. Deixámos de ter um projeto, aquela coisa ideológica do futuro. É uma situação muito nova com perigos terríveis mas isto não é pessimismo. Significa é que há um retrocesso que interpreto como um elan para um dia destes se dar um salto qualquer. Nunca fui político, fui para a política por ser um criador artístico para quem a liberdade é fundamental na criação. O ato criativo é um ato de liberdade. A folha está em branco e o microfone está à espera de ouvir alguma coisa. A ausência de canção é a página em branco. Então, eu ponho lá o que quiser. Ora, isto implica ser livre. Estar descondicionado. O Courbet tem aquele quadro espantoso que se chama “A Origem do Mundo” com uma mulher deitada, de pernas abertas e o sexo em grande plano. Há uma carta dele ao Ministro da Cultura francês da época que lhe deu a Legião de Honra, a condecoração mais alta. Na carta, ele diz que não quer receber de uma maneira muito simples e educada, separando a sua relação do poder. E diz também: o Estado tem uma função importantíssima na cultura que é não fazer nada (gargalhada). Desde muito jovem, é esta liberdade que preciso. Estar em contradição com os poderes. A liberdade leva-nos a ser políticos mas não sou político. Estive quase sempre ligado a organizações políticas mas sempre à procura disto.
O primeiro impulso é musical ou político?
A música é o terreno onde isto acontece. É a paixão desde puto. Desse encontro com a paixão pela poesia, saem as canções. Numa primeira fase, houve o sentir que estas canções ajudavam ao movimento social. Eram instrumentais, uma espécie de encomenda social.
Tinha consciência que as canções estavam a mudar o país?
Sim, sim. Não parávamos. Havia grupos políticos exilados mas, enquanto cantor, assim que comecei a fazer canções em 65/66 – estava em Paris desde 63 -, andei por todo o lado. E eram canções explicitamente contra o regime, de protesto, pela liberdade. Em 71, quando sai o meu primeiro álbum, o impacto foi forte. E depois o segundo, a par de outros discos importantíssimos do Zeca Afonso, do Adriano, do Manuel Freire, do Fanhais e em paralelo com o Sérgio Godinho. Era preciso mudar este país. Isto era horrível. Tinha que ouvir às escondidas o povo a cantar. A doutrina cultural do que era a música portuguesa eram três ou quatro clichés: o fado e da música rural, o vira, a chula e o fandango. Tudo o que saísse daí não interessava. Nem o cante alentejano porque o Alentejo era suspeito…
Havendo uma clausura tão grande, como é que chegou a mestres como Jacques Brel ou Leo Ferré?
Isso até chegava. Tive uma grande vantagem. O primeiro emprego remunerado, aos 17 anos, foi na rádio. Fazia parte das funções escolher a música durante as três horas da minha emissão. Estava era sujeito ao que havia na discoteca mas passei muita música razoável. Conheci muita coisa da música do mundo inteiro. À sexta-feira, tínhamos um problema que eram os discos pedidos. O programa era às 21h30 e às 21h00 começava a tocar o telefone. Em geral, os pedidos eram muito foleiros. Tinha um gravador perto do telefone e o que é que fazia? Ligava, combinava com eles qual era a música e fingia que eram eles a ligar. Os programas passaram a ser extraordinários. Todo o mundo admiradíssimo (ri-se). Isto eram truques que tínhamos de inventar. Às seis da tarde, tínhamos um noticiário do SNI, a agência de propaganda do regime, que já vinha escrito com notícias tendenciosas e falsas. Não podia recusar-me a ler aquilo. A minha defesa foi começar a ler sem pontuação. Resultado: as pessoas ligavam a perguntar o que é que se passava com o locutor que não percebiam nada. Era mesmo para não perceberem. Até que o patrão me disse: “Zé Mário, isso é um bocado demais. Já ligaram do SNI a dizer que você não pode exagerar. Veja lá, tenha cuidado”.
Chega a ser preso.
Por ser membro do Partido Comunista. Pouco tempo antes, era dirigente da Acção Católica. Em seis meses, saltei de uma igreja para a outra. Era o único sítio em que se podia fazer alguma coisa. Em 58, percebi que a Igreja estava feita com o regime. De resto, nunca perdi uma certa visão do Cristianismo. Não é uma fé no cristianismo, é a imagem história do Jesus da Nazaré. Quem quisesse fazer alguma coisa, era no PC clandestino. Era a única forma. Fizemos uma coisa completamente proibida: formar associações de estudantes nos liceus. As associações eram toleradas nas faculdades, mas não no ensino secundário. Foi uma prisão estranha. Tínhamos uma visão heroica da prisão, bem verdadeira em muitos casos. Os tipos do partido davam-nos um folheto que dizia “se fores preso camarada” a explicar como é que se resistia à tortura. Era estudante em Coimbra mas sou preso no Porto a 28 de abril – acho que era o dia de anos do Salazar. Normalmente, prendiam malta marcada antes do 1.º de Maio para evitar grandes manifestações. Levaram-me para Coimbra, pernoitei na PIDE de Coimbra e no dia seguinte levaram-me para Lisboa para a sala do Aljube. Vieram mais dois que estavam no Norte. Entro na sala e vejo as 21 pessoas que eram a estrutura do PC em Coimbra. Olhámos uns para os outros e pensámos: eles sabem tudo. Percebemos que tínhamos sido denunciados. E tínhamos, pelo funcionário clandestino do PC, responsável por aquela região. Depois soubemos que tinha dado 300 nomes de todo o país. Foi uma prisão em que a PIDE sabia mais sobre mim do que eu próprio. Sabiam tudo o que eu sabia e o que se dizia de mim em relatórios e informações.
É obrigado a exilar-se?
Acontece quase tudo ao mesmo tempo. É um período incrível para a geração que cresceu nesse ambiente mas que foi também um momento histórico de outras coisas. Da Revolução Cubana, do Concílio Vaticano II – um abrir de portas da Igreja Católica com João XXIII -, do 20.º Congresso do PC na União Soviética, ou seja, da denúncia do Estaline, de libertação das mulheres nos países mais avançados do mundo. Foi um período de fortes influências libertárias. Em 61, quando o “Botas” decide fazer uma guerra colonial em vez de negociar, começam a faltar quadros ao exército, e eles têm de ir buscar estudantes e dar-lhes uma formação rápida para os tornar rapidamente alferes e tenentes. Percebemos que mais ou mais tarde íamos ser chamados. Combater contra os negros? O que é que temos a ver com isso? Se pudéssemos, íamos era para o lado deles combater contra a ditadura. O PC, e não só, dizia à malta para ir para a guerra porque achava que era lá que se fazia o trabalho político. Como se provou historicamente, havia comunistas a torturar e a matar gente à balda – na frente de guerra quem atira primeiro é quem sobrevive. Não há cá espaço para trabalho político. O Manuel Alegre ainda foi. Tentou mas não conseguiu nada. Eu tive que fugir para França. Aproveitei os dias de validade de um passaporte legal, porque já tinha ido ao estrangeiro. Pirei-me no feriado do 10 de Junho. Oito dias depois, a minha mãe recebeu o postal a convocar-me para a tropa.
Onde e quando aparece o José Afonso?
Já ouvíamos o Zeca. No Aljube, os amigos que passavam cantarolavam as canções do Zeca para dar sinal. O Zeca já tinha singles e EP. O Adriano também era conhecido. Não havia quase mais nada. O sinal de abertura para coisas novas na canção urbana era o Zeca. A influência dele foi determinante. Eu ainda não fazia canções. Nos primeiros tempos em Paris, estava organizado em grupos políticos. Depois, as pessoas em quem eu, músico, confiava para fazer coisas na política, são presas. E os movimentos esfarelaram-se. E eu recolhi. Isso coincidiu com um primo da minha mulher, de passagem por Paris, deixar uma viola. Mal encordoada, com rachas no tampo. Tocava piano, flautas didáticas, percussões mas nunca tinha pegado naquele instrumento. Comecei a brincar. Nunca tive aulas mas como tinha educação musical de ouvido, foi mais fácil.
Esteve na fundação do Bloco de Esquerda. Como vê a Geringonça?
É giro. Devolve às pessoas uma parte do dinheiro roubado. É bom, é melhor que o “Lamechas”. Para a vidinha é melhor.
Não está convencido.
Não. Saí do Bloco por isso. Quando o partido começou a ficar demasiado parecido com o PS. Discurso muito bem educadinho, muito lavadinho. Lavar as mãos antes de ir para a mesa. É uma espécie de higiene para limpar a revolta.
Burguês?
Com certeza. Não vemos malta do povão, da ferrugem. É preciso procurar muito bem um operário do Bloco. Simpatizo com algumas pessoas. Quando não tenho mais ninguém em quem votar, voto neles, mas isso é a espuma da onda. Sabe uma coisa? Isto correu-nos um bocado mal mas apesar de tudo, sabemos relativamente bem o que não queremos. Ainda não sabemos é o que queremos, uma visão do que isto devia ser. Tive o privilégio de viver dois acontecimentos: o Maio de 68 em Paris e o 25 de Abril em Portugal. Foram festas políticas incríveis. Tudo era possível.
Trabahou com a Katia Guerreiro, fadista que apoiou Cavaco Silva. Consegue relacionar-se com pessoas de outras ideologias?
Com certeza. No início foi reticente, mas não tinha a ver com o alinhamento político ou com as amizades. Não via em que é que a podia ajudar. Ela espantosamente insistiu. E é incrível porque é uma das pessoas mais bonitas que conheci na vida. Ganhei uma amiga.