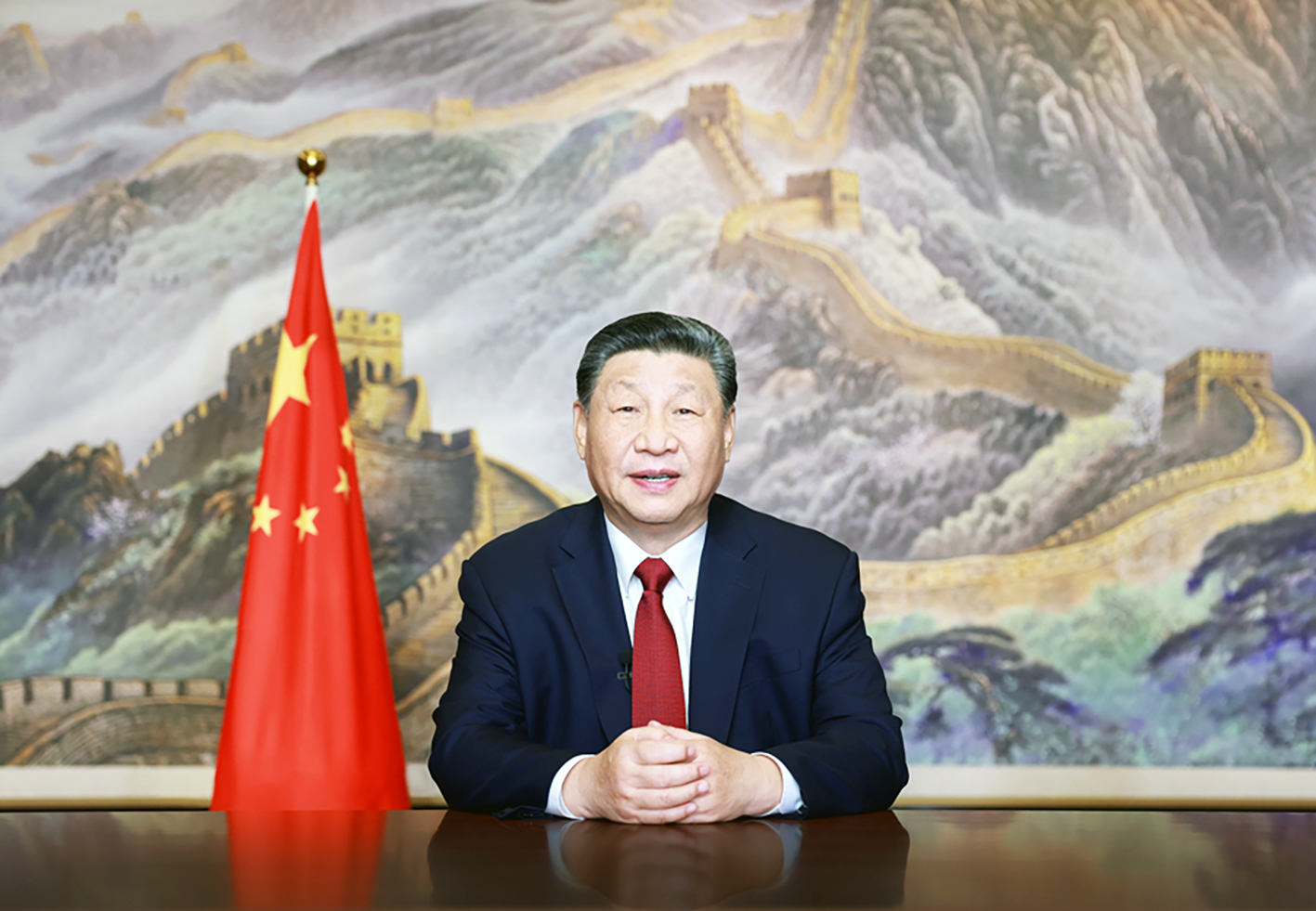Bernardo Santareno, hoje uma dessas referências sem corpo que o ouvido apanha um pouco ao acaso e a memória guarda sem vontade, é o pseudónimo literário de António Martinho do Rosário, médico psiquiatra de profissão, a auxiliar o escritor no tratamento dramático de conflitos agudos, não raro resolvidos numa liturgia trágica de sangue, angústia e desespero, onde ressoa o modelo grego, adaptado à sociedade portuguesa. No nome literário reunia, aos trinta anos e num livre arbítrio pelo qual sempre se bateu, o desejo de ascese, dirigido ao cidadão comum que só aparentemente era, e o de ficar ligado à sua terra natal: Santarém.
Com esse nome começou por assinar três livros de poesia em edição de autor: A Morte na Raiz (1954), Romances do Mar (1955) e Os Olhos da Víbora (1957), a anunciarem algumas das temáticas e das tensões preferenciais da sua obra dramática. Muito embora o lirismo não seja uma faceta a desprezar na sua obra, foi, no entanto, como homem de teatro que Bernardo Santareno se impôs. A «narrativa dramática» O Judeu (1966), que transparentemente punha em causa o fascismo e apelava para a necessidade de o subverter, constitui um marco no panorama do teatro português contemporâneo, saudado à época como uma revolução.
Português, Escritor, Quarenta e Cinco Anos de Idade. Assim se autobiografava, num despojamento de si próprio, em Março de 1974, volvendo dessa altura da vida o olhar ao caminho andado. Tinha então 54 anos e um público sentido sobretudo com a imaginação, devido à acção vigorosa da censura: vigiando conteúdos e formas, proibindo, amputando, examinando previamente os espectáculos teatrais, consumindo a energia criadora, demovendo de criar.
Neste drama, de clara textura biográfica, inverte Santareno o tom predominante do teatro épico de matriz brechteana a que habituara o público (sobretudo o público leitor de teatro) e aproxima-se da descrença, indivisivelmente individual e geracional. A personagem «Escritor», sempre insubmissa, vinha a palco, não para recolher os aplausos a que teria direito como primeira figura da dramaturgia do século XX portuguesa e intelectual empenhado com larga intervenção política, mas para anunciar a tragédia da desistência – do teatro e da vida, corporizando o sentimento de angústia e de desespero que se apossara dos nossos dramaturgos: «assim temos vivido em Portugal. Tenho quarenta e cinco anos de idade e… estou farto, cansado, já não acredito em nada. Estou desesperado, a vida dói-me horrivelmente. Perdi tudo […]. Esperança, progresso, luta, futuro, beleza, camaradagem, povo, juventude … São papéis rasgados para mim.»
Não seria esta a sua última peça, mas, por assim dizer, a derradeira – a 14ª estação de uma via sacra que a crítica habitualmente reparte por dois ciclos criativos: o primeiro, de estrutura dramática tradicional, com um forte apelo genuinamente popular, inicia com A Promessa, publicada em 1957 juntamente com O Bailarino e A Excomungada, a confirmarem ambas uma arte voltada para a exploração das forças irracionais, e prossegue com O Lugre (que recolhe a sua experiência como médico embarcado na frota bacalhoeira), O Crime da Aldeia Velha (1959), António Marinheiro, Édipo de Alfama (1960), Os Anjos e o Sangue, O Duelo, O Pecado de João Agonia (todas de 1961), Anunciação (1962). Menos extenso é o segundo ciclo, começado com O Judeu, depois de uma pausa em que contacta com novas sintaxes teatrais. Prossegue com O Inferno (1967), A Traição do Padre Martinho (1969) e o drama-meditação final Português, Escritor, 45 Anos de Idade (1974), onde sentimos detonar a explosão da sua própria vida.
Após o 25 de Abril de 1974 escreve ainda uma série de peças curtas reunidas sob o título Os Marginais e a Revolução (1979) e continua a sua intervenção em entrevistas, prefácios, artigos de teorização de reconhecido mérito, dispersos por publicações periódicas. O autor de António Marinheiro morre em 1980, longe do porto a que apontou. O foco tombava então sobre o trágico vazio deixado. Obscuridade súbita no teatro e na cena cultural portuguesa. Ainda o fascismo e as suas mil maneiras de matar.
O Punho, localizado no terreno conflitivo da Reforma Agrária e que vem a sair em 1980, logo após a sua morte, adquire assim o significado de testamento espiritual.
Reunida em quatro volumes, a sua obra está editada pela Editorial Caminho. Aguarda (re)leituras e adaptações.