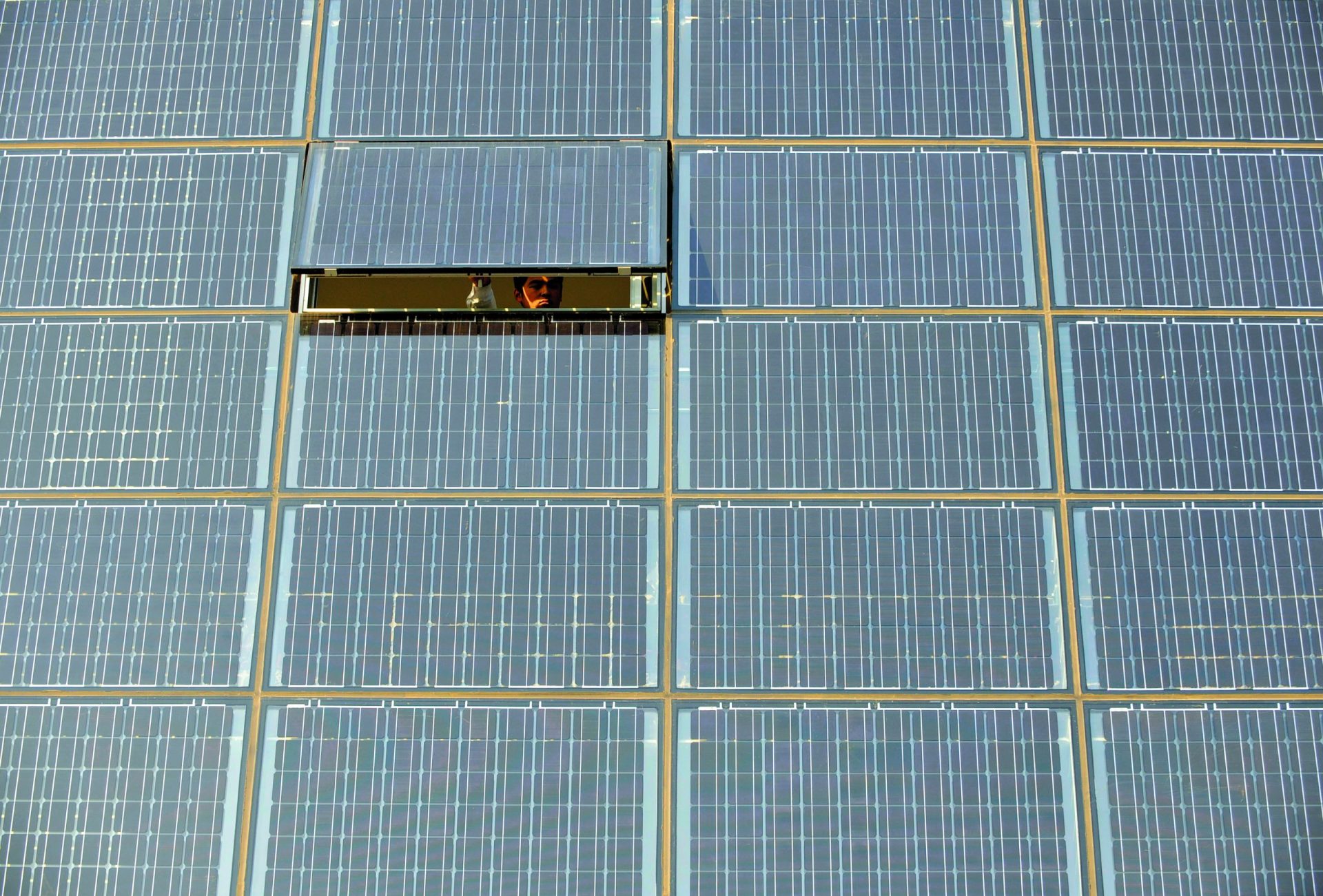BOCHUM_– Alemanha! Coração da Europa que bate como um metrónomo. Quem me lê sabe que gosto de deitar mão ao divino Eça e às suas inimitáveis personagens. Pois o ponto de exclamação, aí na Alemanha, é de homenagem ao imperial dr. Topsius, o homem que acompanhou o sacana do Raposão à Terra Santa para trazer, de olho na fortuna da velha, uma relíquia para a hedionda Titi. Da Alemanha à Alemanha com dezoito anos pelo meio. Em 2006, eu desempenhava as funções de assessor de imprensa da Seleção Nacional que veio aqui para disputar a fase final do Campeonato do Mundo. Dois anos antes tínhamos perdido na Luz, num maldito 4 de Julho, a final do Europeu feliz organizado em Portugal. A dor nunca passou. Ainda hoje dói, de fininho como provocada por uma lâmina afiada. E tantos foram os que mereciam esse título. Quando nos apurámos para o Alemanha 2006, havia em todos uma sensação de resposta. Tínhamos perdido o Euro-2004, íamos à conquista do Mundial. Sem medo de o assumir. Queríamos e estávamos convencidos de que Portugal tinha equipa para ser campeão do mundo.
«Faltam oito dias para começarmos o Mundial. Já sinto um friozinho na barriga», dizia Luiz Felipe Scolari. O campeão do mundo era ele. Tinha conquistado a edição anterior com o Brasil. Era o que mais tinha a perder. Todos os outros só tinham a ganhar. No dia 4 de Junho aterrámos em Munster/Onabrück, esse aeroporto a meias que fica, por assim dizer, numa esquina da Renânia do Norte Vestefália, à mesma distância da fronteira com a Baixa Saxónia do que da fronteira com a Holanda. Vínhamos do Luxemburgo, país dos Grão-Duques. Fomos a Metz, em França, fazer um jogo de preparação contra o Luxemburgo, e voltámos para embarcar no pequeno Fokker que só transportava a seleção nacional e um pequeno grupo de jornalistas que viera connosco de Lisboa. Centenas e centenas de pessoas aglomeradas para verem passar o autocarro da equipa que dizia em cada lado da fuselagem: «Uma bandeira a cada janela/Uma nação dentro do campo». Centenas e centenas de pessoas vestidas de vermelho e de verde ao longo da estrada que nos conduziu a Marienfeld. Eu lembro-me. E, agora, as pessoas voltaram às centenas. Outra seleção, que da do meu tempo só resiste o Cristiano Ronaldo, mas o mesmo sentimento da pátria em chuteiras de que falava Nelson Rodrigues.
Portugueses e alemães misturados.
Ranchos folclóricos e campinos.
Marienfeld então e Marienfeld hoje. Dezoito anos pelo meio.
Marienfeld é uma povoação minúscula. Uma espécie de irmã gémea de Greffen, ambas pertencendo ao círculo urbano de Harsewinkel. Por seu lado, Harsewinkel é uma das 13 cidadezinhas que compõem o concelho de Gütersloh. Finalmente, o concelho de Gütersloh faz parte de um grupo de sete concelhos que, juntamente com a cidade de Bielefeld, formam a região de Ostwestfalen-Lippe.
Foi aí que Portugal viveu. É aí que Portugal vive.
A história às vezes repete-se. A nossa vida é que não.
Se há coisa que gosto da Alemanha é a sonoridade da sua geografia. Ouçam: Baden-Württemberg; Baixa-Saxónia; Brandeburg; Mecklemburg-Pomerânia; Turíngia; Renânia-Platinado; Schleswig-Holstein. Remete-nos para a Idade Média, para o Império Carolíngio, para o Sacro Imprério Romano-Germânico. Cada cidade com o seu peso, com os seus heróis. Um país com regiões assim deve ser visitado demoradamente.
Uma bolha
Em 2006 eu vivia numa bolha. Vivíamos todos. Os momentos de liberdade, fora da concentração da equipa, eram poucos. Havia um Mundial para ganhar, lembram-se. Havia tanto trabalho pela frente.
Em 2024 trabalho fora da bolha. Calcorro, de comboio e de «trams» os caminhos de Leipzig, de Weimar, de Bochum e Gelsenkirchem e de Dortmund. Não tarda pegarei na mala e caminharei para Frankfurt.
No meu tempo da escola os nomes aportuguesavam-se. Frankfurt era Francoforte, Mainz era Mogúncia, Leipzig era Lípsia, Dusseldorf era Dusseldórfia.
Agora há nomes que se repetem.
Em Gelsenkirchen jogámos o último jogo do grupo com o México e vencemos por 2-1. Mais tarde, os quartos-de-final frente à Inglaterra. 0-0 e grandes penalidades. Depois o Ricardo defendeu três. Minutos antes, no banco, enquanto esperávamos por esse momento sempre nervoso, o Figo dizia para o nosso guarda-redes com a maior das calmas: «Ricardo, tu pelo menos dois defendes, não é?»
Agora jogámos em Gelsenkirchen com a Geórgia.
E vamos para Frankfurt jogar os oitavos de final.
Em Frankfurt, há dezoito anos, batemos o Irão por 2-0.
Há duas Frankfurt na Alemanha. A Frankfurt-am-Main e, para leste, a Frankfurt-an-der-Oder.
Mas, enfim, a gente esqueceu uma e ficou só esta Frankfurt.
Chamam-lhe Bankfurt, Krankfurt, Mainhattan. O centro financeiro da Alemanha.
Um Mundial não se faz de romantismos. Um Europeu também não. Mas eu escrevo o que vejo e, em seguida, ponho-lhe o romantismo em cima. Neste caso as saudades.
O meu pai era vivo e eu não sofria todos os dias e a toda a hora como hoje a dor da sua falta.
Veio de Lisboa com os seus irmãos, o meu tio Henrique, e o seu irmão de infância, o Manuel Alegre, meu ti’ Manel. Só faltou o Paulo Sucena, quarto mosqueteiro, perdido na capital pascácia nos labirintos da política sindical. O meu mano Francisco Febrero, por extenso Xitó, tratou de tudo. Uma noite que não perco mesmo que a memória se embacie. La Note – um restaurante italiano. O nome não podia vir mais a propósito. Eu e o Gaspar e o Paraíso fugidos por umas horas do hotel Arabella Sheraton onde a seleção ficou instalada. Também o meu querido José Vidal, que também já se encantou, como dizia o Guimarães Rosa, e o Abel Polainas e o Rui Laires.
Ofereci aos mais velhos uma camisola de cada capitão para cada um: Figo, Pauleta, Costinha. Três mosqueteiros da Águeda que chegou a ser o mundo. E uma sensação de perda infinita, neste exato momento em que o tempo já passou.
Ganhámos ao Irão. Jogámos às três da tarde.
Irão: a terra dos arianos.
Mais de 6000 anos antes de Cristo, um povo daquilo que depois se convencionou chamar-se língua indo-europeia abandonou a sua região no Cáucaso e espalhou-se pela Europa e deu origem a gregos, romanos e celtas. Os que se instalaram na Pérsia receberam o nome de arianos. Canalhamente, a ideologia nazi transformou os arianos numa raça de gente alta, loura e de olhos claros. Mas a verdade é que os arianos descendem dos dravidianos, originários do Tâmil, no sudeste da Índia, e só ganharam algumas dessas características quando se misturaram com os povos nórdicos da Europa. Por isso, quando Hitler e Rosenberg adotaram a filosofia de Ratzel, um zoólogo que aplicou aos seres humanos o princípio do Kampf um Raum, a luta pelo espaço, na qual os mais fortes (arianos) aniquilavam os mais fracos (judeus), laboraram na mistificação de uma raça pura que de pura só tinha o estereótipo.
Ah! Logo Hitler, um austríaco pequenito, de cabelo escuro e bigodinho grotesco. E Rosenberg, filho de uma mulher judia. De que são capazes as fraudes quando têm um púlpito para falar e milhões de descrentes ansiando por uma crença qualquer…
A Alemanha vive alegremente o seu Europeu. Carros partem pelas ruas buzinando a cada vitória da sua equipa. Ou mesmo depois do empate com a Suíça, tão sofrido, valha-lhes Deus, que garantiu o primeiro lugar do Grupo A. Um Europeu não é um Mundial, fica a milhões de anos luz de ser um Mundial porque não tem o gigantismo que confere a estes a presença de outros grandes países do planeta onde se vive o futebol com a força de um coração fora do peito. Mas, dentro das fronteira desta velha Europa que, com todas as sedições, parece querer voltar aos mapas do início do século passado, nos entendemos e vivemos rivalidades muito particulares que se repetem de quatro em quatro anos. Em 2006, só uma quanto a mim (foi consensual entre todos nós na altura) injusta derrota com a França na meia-final nos impediu de chegar a Berlim. Quando ligava para casa, recebia geralmente a pergunta: «Quando voltas?» e Eu, teimoso: «Ficaremos na Alemanha até ao último dia!» Falhei por 24 horas e tivemos de nos submeter a um maldito jogo para o 3º e 4º lugares, em Estugarda, que teve o sabor do fel. Ninguém estava com disposição para lutar pelo mal menor. Queríamos todos a Taça Jules Rimet e, desiludidos, fizemos parte da bacoca festa alemã que festejou o terceiro posto como se fosse o primeiro. As lembranças ninguém nos tira. Não foi cumprido o sonho, mas só trinta anos tínhamos estado lá tão perto…