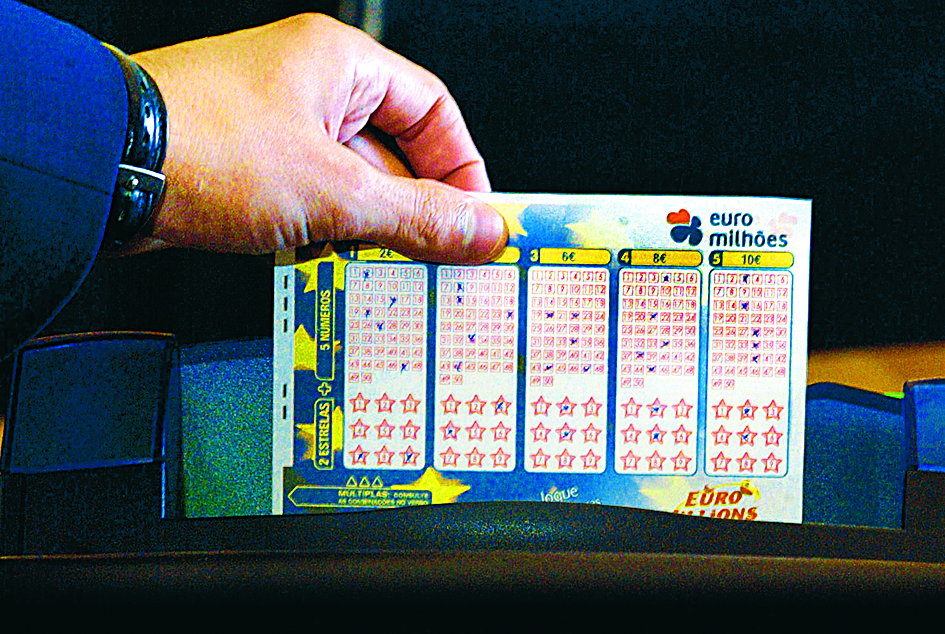Do que se recorda da sua infância?
Nasci em Campo de Ourique, na Maternidade Magalhães Coutinho, na Rua Saraiva Carvalho, e fui batizado na Basílica da Estrela. Mas fomos todos [mãe e irmão mais novo dois anos] para as Caldas da Rainha quando o meu pai, que era polícia, foi transferido para lá. Só voltaria para Lisboa quando entrei na faculdade. A adolescência foi marcada pelo sonho que tinha de ser futebolista e, como para poder jogar tinha de ter boas notas, assim o fiz. Fui dos melhores alunos da escola desde a primária até à faculdade. Mas tudo mudou aos 11/12 anos com a chegada de Félix Mourinho ao Caldas. Foi ele o dinamizador da criação dos iniciados do clube. Fui ao ‘casting’ levado pelo meu pai, éramos umas largas dezenas de miúdos, e o pai do Mourinho escolheu-me para a primeira equipa do clube. O José Mourinho foi meu colega de equipa, ele acompanhava o pai para todo o lado. Depois joguei nos juvenis e nos juniores. Só quando entrei na faculdade é que deixei de jogar federado.
Mas antes de entrar na faculdade começou a colaborar com uma rádio e jornais locais.
A partir dos 16 anos comecei a escrever textos e a enviá-los para os jornais locais. Mais tarde dá-se o surgimento das rádios locais e passei a colaborar com uma rádio de Óbidos e depois com a das Caldas – juntamente com outros colegas fundámos a Rádio Litoral Oeste, que ainda existe, e a Rádio Margem das Caldas, que acabou. Quando colaborava com esta última concorri a um anúncio para a TSF e foi aí que entrei.
Antes não tinha ganho dinheiro noutras atividades?
Sim, principalmente no verão. Trabalhei nas vindimas, na apanha de peras, vendi livros, fiz inquéritos. Aos 18 anos já ganhava algum, pouco é certo, com os artigos nos jornais locais. Esse dinheiro permitia-me fazer viagens e outras coisas que gostava. No quarto ano da faculdade concorri à TSF e ao semanário O Jornal. Comecei a trabalhar no grupo e fui para o Se7e e ao mesmo tempo fiz o curso da TSF que foi de nove meses, antes de a rádio abrir ao público. Decidi então abandonar o curso de Filosofia. Era impossível fazer tudo.
Como foi a transição de uma cidade pequena como as Caldas para os microfones de uma rádio que viria a mudar o panorama radiofónico?
Nós não tínhamos bem essa noção, até pelo contrário. Acreditávamos que era preciso fazer uma rádio completamente diferente das duas que existiam: a Renascença e a Antena 1. Queríamos trabalhar 24 horas, se fosse preciso, mas pretendíamos que quem nos ouvisse percebesse que era uma coisa completamente diferente e dessem valor a isso. Se calhar até éramos um pouco arrogantes nesse convencimento. A rádio era liderada por Emídio Rangel e tinha uma vasta equipa que acreditava nele e no projeto.
Mas passado uns tempos começou a colaborar com o Expresso.
Sim, abandonei o Se7e, mas mantive-me no quadro da TSF, acumulando com a colaboração no Expresso. Depois quando surgiu o Público deixei a rádio. Gostava de projetos novos. Dois anos depois fui para a SIC com o Emídio Rangel.
Foi um período curioso, para não dizer agitado.
Sim, havia dias que nem dormia. Houve um período em que colaborava com a RTP e entrava nos estúdios do Lumiar às 8 da manhã. Por volta da hora do almoço ia para o Expresso e quando saía do jornal arrancava para a TSF onde ficava quase até às duas. Quando passei para o Público, entrava na TSF às quatro da manhã e saía às 10 da manhã. Entrava no Público às 11 e só saía quando o jornal fechava. Claro que depois íamos jantar e muitas vezes íamos beber uns copos. Praticamente não dormia. Tentava dormir uma hora entre trabalhos, foram muitas as vezes que dormi nas carpetes da TSF. Depois quando nasceu a SIC a história repetiu-se, já que quando se inicia um projeto a nossa existência passa muito pelo projeto, o espírito é diferente, há uma grande envolvência emocional com um projeto que nasce. Entregávamo-nos totalmente. Ninguém era obrigado a ficar tanto tempo, nós é que acabávamos por fazer daquilo o nosso modo de vida. Foi talvez o período mais fecundo da comunicação social. Nasceram as televisões e as rádios privadas e alguns jornais inovadores, como foi o caso do Público.
Não passou pela fase de deslumbramento?
Nunca houve deslumbramento porque sempre achei que o nosso trabalho de jornalista não é aparecer, nem de ter um momento de glória, o nosso dever é ir à procura de coisas que as pessoas não sabem, temos a obrigação de perceber o que tentam esconder da população, nós temos de desvendar e mostrar às pessoas o que não conhecem. Tanto que não havia deslumbramento que cheguei a embarcar em projetos onde até perdi dinheiro, mas entrei porque acreditava neles.
Como encararam os seus pais o facto de não ter acabado o curso?
Nunca aceitaram. Para eles o que era verdadeiramente importante era eu ter acabado o curso. Mas quando me começaram a ouvir na rádio e a ver os textos, compreenderam a minha decisão.
Mas tenho a ideia de que quando o entrevistam e o tratam por dr. que não o desmente…
Não é verdade, desminto sempre. Não sou dr., faltam-me duas cadeiras, curiosamente uma delas era dada pelo professor Carrilho e outra pelo próprio Emídio Rangel, que era produção radiofónica…
A sua carreira foi uma agitação permanente. Depois da SIC acompanhou Rangel para a RTP como diretor-adjunto para a informação. Mas passados uns tempos voltou à TSF, 2003 a 2007, também para a direção. Regressando em 2008 à RTP, desta vez para a direção de programas… É muito diferente trabalhar na televisão?
A televisão é um meio que atinge mais pessoas. Na imprensa e na rádio não temos a dimensão da televisão. É uma escala completamente diferente. E hoje em dia temos condições de entrar em direto com uma pen ligada a uma câmara, os drones dão-nos perspetivas que há 10 anos eram impossíveis; não temos de ir ao satélite. Para se ter uma ideia, antigamente quem cobria a Volta a Portugal em bicicleta tinha de fazer a reportagem na estrada, depois ia fazer a montagem junto à meta, e a seguir, já com as peças todas montadas, tínhamos de subir ao emissor mais próximo, como eram o caso da Fóia, Mendro ou Montejunto. Nalguns casos precisávamos de fazer esse percurso num jipe pois a estrada era inalcançável a carros normais. Depois atirávamos as imagens pelo emissor que as fazia chegar ao de Monsanto. Hoje em dia coma internet podemos enviar imagens de qualquer parte do mundo com custos muito mais baixos. Antigamente se alugássemos, por exemplo, o satélite das 19 às 19h10 e o perdêssemos seria uma loucura para entrar outra vez em direto. Podíamos nem conseguir alugar ou se o fizéssemos seria ao dobro do preço. Estamos a falar de milhares de euros a preços de hoje.
Voltando às ‘tricas’ da televisão, como foi chegar à RTP em 2001 e ver o ordenado afixado na parede?
Não foi afixado na parede, foi afixado na primeira página de O Independente e no 24 Horas ou Correio da Manhã. O meu, o do José Alberto Carvalho, o da Alberta Marques Fernandes. Nunca tive dúvidas que isso ia acontecer. Os ordenados da RTP circulavam livremente e quando íamos buscar o recibo sabia-se o ordenado de toda a gente. Na altura ganhava, bruto, 905 contos, o mesmo que auferia na SIC. Nunca tive vergonha do ordenado que ganhava. Quem trabalha 16 ou 18 horas por dia deve ser bem pago. A minha família é que foi muito penalizada, pois passei muitas noites a trabalhar e fins-de-semana agarrado ao telefone.
Mas paga muito bem aos seus colaboradores?
Não podemos comparar a escala da televisão com a da imprensa ou da rádio. Não se pode comparar um meio que fatura 100 milhões de euros com um que fatura 100 mil. Temos de ter consciência dos limites de cada meio. Na área da televisão, as receitas comerciais e as receitas provocadas pelo trabalho de algumas pessoas é muito relevante, tem de ser compensado. Em alguns dos casos, o trabalho é muito exigente, e a exposição também. É preciso uma exigência muito grande e o ordenado tem de ser compatível com essa exigência.
Não sofreu pressões políticas, apesar de estar na programação?
Não, de maneira alguma. Tínhamos uma administração liderada por Guilherme Costa com quem tive sempre uma relação muito aberta e muito positiva, e nunca tive qualquer reparo ao quadro estratégico da grelha que apresentava. Acho até que foi o período mais estimulante que tive na televisão porque aquilo que eu achava que era importante fazer, acontecia.
Mas também havia muito dinheiro…
Não, nessa altura começou a crise e começámos a ter dificuldades. Percebemos as limitações e sabíamos que os orçamentos iam diminuir de ano para ano. No ano de 2011, quando saí, já a crise estava bem instalada.
Parece tudo muito politicamente correto. No seu percurso não houve momentos que o marcaram?
Olhando para trás, os grandes momentos dão-se quando fui da SIC para a SIC Notícias. Repare que ninguém acreditava num projeto de informação 24 horas por dia. Achavam que não fazia sentido haver uma espécie de CNN em Portugal. Hoje há seis ou sete canais de informação, mas na altura ninguém acreditava nisso.
Foi muito complicado convencer os jornalistas da SIC fazerem peças para a SIC Notícias?
Tiveram de se adaptar à entrada de 50 ou 60 jornalistas, foi um momento conturbado. Havia a questão de se guardar ou não as notícias para o principal telejornal da estação. Discutíamos o dia inteiro perspetivas diferentes de como é que devíamos fazer o trabalho para os dois canais. Foi uma aprendizagem para toda a gente. Mas a verdade é que a SIC se adaptou rapidamente e depois os outros canais seguiram o mesmo caminho. Esses processos é que são revitalizadores. E é o que falta hoje em Portugal.
Não acha que a CMTV veio mexer agora com o mercado?
A CMTV veio trazer uma rapidez de resposta diferente da de outros canais, até porque os meios são muito mais modernos. Se hoje fizéssemos um canal de certeza que já seria mais moderno do que o da CMTV, já que os meios hoje são mais modernos do que os de há dois anos. A rapidez é diferente.
Mas a CMTV é capaz de interromper a emissão normal para colocar no ar o último acontecimento. As outras televisões são mais pesadas ou não?
O que se passa é que a CMTV tem meios tecnológicos que lhes permitem entrar mais rápido em direto Além disso, tem uma grelha mais flexível. Se os outros canais convidam, às duas da tarde, quatro ou cinco pessoas para debaterem o Estado da nação a partir das 21 horas, claro que têm mais dificuldades em alterarem essa grelha. Também têm menos colaboradores e compromissos, logo podem mudar com mais facilidade. Parece-me que os outros canais se institucionalizaram e têm menos capacidade de reação. Em muitos casos é preciso dizer que vamos desfazer tudo o que estava montado, vamos ligar às pessoas que estavam convidadas para lhes dizer que o programa foi cancelado. A CMTV, como é mais nova, tem outra dinâmica, outra velocidade que os outros canais não conseguem.
Mas não seria normal os outros canais mudarem?
Sim, claro. O perfil dos conteúdos nos outros canais está muito estagnado. Vejo a carga de futebol nas grelhas e acho inexplicável. Não se percebe como os canais de informação de segunda a sexta têm todos os mesmos conteúdos, as mesmas pessoas, e ao fim de semana e a história não é diferente. Isso fazia-se há 20 anos e era inovador, hoje não. A cobertura de um jogo de futebol é feita como há 20 anos. Não faz sentido. Não há inovação. O tipo de abordagem é pouco criativo, o que se torna pouco estimulante para as redações. É do género: ‘Tu vais para a porta do hotel e fazes um direto quando a equipa sair’, quando o autocarro chega ao estádio faz-se outro direto. No final vai ouvir-se os adeptos no exterior do estádio e depois faz-se a cobertura da conferência de imprensa. Não há diferenciação entre os canais e não se percebe bem porquê. Temos agora seis ou sete canais a darem todos a mesma coisa. É uma mesmice. Até parece que não há ninguém que pense de maneira diferente. Acho estranho estas horas todas para o futebol… Até o próprio telespetador acha aborrecida essa informação. É tudo muito previsível.
Há falta de imaginação na televisão?
Muita, na televisão, na rádio e também na imprensa. Diz-se que hoje em dia as pessoas lêem menos, mas não é verdade. As pessoas lêem é outras coisas. O jornalismo hoje em dia tem muitas cumplicidades, não se percebe porque há pessoas ligadas a determinados eventos perniciosos que estão à solta em Portugal. É que passámos por um período de crise em que as pessoas foram obrigadas a fazer um esforço tremendo com reduções de ordenados, trabalhos precários, e depois assistimos a bancos que foram à falência porque emprestaram milhares de milhões não se sabe bem a quem e com que garantias, quem emprestou o dinheiro, e ninguém vê essas caras. A verdade é que a imprensa não deu o devido relevo a essas coisas. Parece um passador de milhares de milhões de euros como se isso fosse uma coisa normal. Uma ponte Vasco da Gama custou dois mil milhões de euros. Nós hoje falamos de sete mil milhões, quatro mil milhões… O público que nos vê, ouve ou lê, tem essa consciência. E quem tem de fazer sacrifícios para voltarmos a ter alguma estabilidade não vê esse sacrifício em quem gastou milhares de milhões. É certo que há uns casos em julgamento, mas é muito pouco. Continuamos sem saber para onde foram esses milhares de milhões. É uma ofensa mesmo no campo moral e de Justiça. Acho que a imprensa não dedica tempo e espaço a esses casos, até porque alguns grupos de comunicação social vivem em cumplicidade com essas pessoas. O leitor não é burro e penaliza. Os jornalistas se querem ter credibilidade têm de perceber se estão a trabalhar para o público ou para super potências económicas ou para os lóbis políticos. Isto é válido para todos os meios.
Mas acha que os jornalistas trabalham para esses lóbis?
Em muitos casos, sim. Nalguns casos de forma inconsciente, noutros de forma consciente, acabam por cobrir esse jogo. Por exemplo, os jornalistas de economia andaram a dormir muitos anos. Isso é óbvio. Se o que se passou em Portugal, com a dimensão que teve, em que um conjunto de bancos foram ao tapete e os jornalistas não viram é porque estavam distraídos com outras coisas. Podia-se dizer que apanharam uma situação, e falharam outras. Mas não é verdade. Não apanharam nenhuma.
E por que acha que não apanharam?
Porque estavam distraídos com outras coisas ou estavam a trabalhar noutras áreas, a dar espaço a outros projetos que não tiveram viabilidade. Era importante que fizessem um reset e se perguntassem onde é que andaram durante esse tempo todo.
Não acha estranho que se tenha falado em jornalistas envolvidos nos Papéis do Panamá e que nunca tenha surgido um nome sequer…
Não posso dizer que há jornalistas envolvidos nos Papéis do Panamá. Mas se alguém tem a lista e não a publica é grave. Esse paquiderme [Papéis do Panamá] foi-se diluindo e ninguém sabe no que deu. A verdade é que aquilo começou com uma grande dimensão e foi perdendo gás. Se foi porque alguém quis tirar dimensão à coisa ou porque ela não tinha, não sei. Às vezes o lado obscuro das coisas é que elas não têm lado obscuro algum. A verdade é que o impacto dos Papéis do Panamá se foi diluindo nos meses seguintes. Mas há uma realidade. Há milhares de milhões de euros que foram aplicados em projetos que levaram vários bancos à falência e nós continuamos sem saber que projetos foram esses. Quem é que foi pedir o dinheiro, quem é que emprestou, quem sabia os riscos que corria? Quais são as caras dessas pessoas? Serão as mesmas que irão pedir milhares de milhões a outros bancos? Essas questões são muito relevantes para o público.
Acha que na Operação Marquês estará uma parte significativa desses casos?
Vamos ver, uma parte está a ser investigada, mas isso é um caso policial. Os jornalistas não são polícias, têm é de fazer outro trabalho. Têm de explicar às pessoas quem é que ficou com milhares de milhões ou onde é que foram aplicados. Devem ser 20 ou 30 pessoas que beneficiaram desse dinheiro e precisamos de saber quem são e o que fizeram. Vamos imaginar que aplicaram 30 milhões numa rotunda, os jornalistas têm de conseguir dizer quem é que pediu a rotunda, quem é que a fez, quem é que disse que ia dar lucro, quem deu o dinheiro, etc. Continuamos sem resposta. E as pessoas que estão com ordenados reduzidos, com empregos precários, que vivem em cidades caríssimas, querem saber a resposta para essas perguntas. A comunicação social ao não responder a essas perguntas perde leitores, espetadores ou ouvintes. O leitor quer é perceber a realidade, seja ela nua e crua. Acho que era fundamental que todos os grandes projetos que foram contemplados com milhares de milhões que desapareceram fossem esclarecidos. É que vemos alguns desses contemplados a pavonearem-se calmamente ostentando uma grande riqueza.
Acha normal o atual administrador de conteúdos da RTP ter uma empresa que fornece serviços à estação do Estado?
Não sei se as coisas são assim, mas não me lembro é de nenhum produtor de televisão ser administrador da RTP. Acho que os administradores da RTP, agora são três, não deviam estar ligados aos conteúdos. A administração da RTP não devia ser ocupada por produtores de televisão. Aos olhos de outros produtores e da população não faz sentido. A administração da RTP deve ser ocupada por pessoas com perfil cultural, com uma visão de Portugal no mundo, que tenha uma perspetiva do que deve ser a RTP daqui a cinco anos. Quando saí da RTP em cada três portugueses havia um a ver um canal da RTP. Hoje em dia é de um para dez. A RTP perdeu muita relevância ao longo dos últimos anos, desde que Miguel Relvas e Passos Coelho tiveram a ideia de privatizar um dos canais.
Mas porquê?
Porque acabou por não acontecer e a RTP tentou fazer uma adaptação tentando meter num canal a programação dos dois. Isso obrigou a um recomeçar e nunca mais se acertou o passo. A verdade é que a RTP perdeu relevância na sociedade portuguesa e são cada vezes menos os que falam dela, o que não acontecia há 10 anos. A RTP corre o risco de perder toda e qualquer relevância.
Teve cargos de direcção em todas as televisões. Diretor de programas da RTP, na SIC também…
Fui subdirector da SIC e director da SIC-Notícias, fui director da TSF.
Como é que foi passar para a TVI, que era conhecida como a casa do Big Brother?
Eu já tinha passado pela SIC e RTP. A TVI era a única televisão onde eu não tinha trabalhado. Na RTP tinha-se começado a desenhar a ideia de vender um canal. Senti na altura que se fechava ali um ciclo. Tinha um convite da TVI, aceitei. Eu já vinha da área da programação, fiquei a conhecer uma outra empresa com uma dinâmica diferente. É a televisão líder em Portugal há muitos anos, com uma grande competência no trabalho que faz, com profissionais muito focados. O nosso trabalho altera-se não pelas empresas onde trabalhamos mas pela conjuntura. Quando eu passo para a TVI é quando o mercado publicitário começa a cair vertiginosamente em Portugal, depois de 2011-2012. Começamos a ter quebras nas receitas muito significativas. O nosso quadro de funcionamento altera-se. Em vez de nos focarmos nos conteúdos, passamos a ter que nos focar na gestão e isso é um processo muito diferente. No fundo, passávamos metade do dia a pensar na gestão e depois dedicávamos algum tempo à parte dos conteúdos. E foi essa experiência que acabou por se tornar cansativa para mim. Há uma altura em que já não faz nenhum sentido passar mais tempo a pensar em temas de gestão de recursos, de custos, de orçamento, do que no que se vai fazer no programa A ou no programa B. Isso é que mudou a minha perspectiva e fez com que na altura saísse e fosse depois trabalhar noutros projectos. Mas acho que, dos projectos onde trabalhei, a TVI é a televisão mais preparada, mais adaptada ao público português, com maior agilidade no mercado de televisão em Portugal.
Como é que passa do mundo da informação pura e dura para a televisão do Big Brother? Nem quero entrar pelo mais nobre ou menos nobre…
Às vezes fazemos coisas mais nobres em sítios considerados menos nobres e coisas menos nobres em sítios considerados mais nobres.
Mas como se adapta a essa situação? Via o Big Brother?
Via. Eu estava na SIC quando aparece o Big Brother, que é um dos momentos de viragem da televisão em Portugal, como é público. Quando entro na TVI entro na plena montagem de um dos Big Brothers. E foi um projecto muito interessante de conhecer por dentro. É um formato com capacidade de antena muito forte.
Em miúdo alguma vez foi à Feira Popular?
Sim, algumas vezes.
Lembra-se daquelas pessoas que vendiam panelas e cobertores?
Sim (risos).
E com esse discurso não se sente um pouco isso?
Não, não, não. Estive ligado a dois Big Brothers, enquanto estive na TVI. O Big Brother era um grande programa de entretenimento. Os jornalistas quando olham para a televisão têm a tendência a achar que a televisão é informação. A televisão tem uma hora de informação ao almoço e outra hora ao jantar. O resto é entretenimento puro. Nós achamos que as pessoas passam os dias a ver televisão mas a verdade é que nem metade dos portugueses estão a ver televisão à noite. Há sempre metade, ou mais de metade, que está a fazer outras coisas. A análise que se faz da televisão do lado de fora é muito pouco ligada à realidade dos factos. Hoje em dia a televisão é apenas um dos múltiplos momentos de entretenimento.
As suas filhas viam os Big Brothers?
Quando lhes apetecia.
Incentivava-as a ver?
Incentivar, não. Mas não desincentivava. Viram alguns, uma vez por outra. As minhas filhas vêem pouca televisão, como a maioria das pessoas mais novas faz hoje em dia. Olham para a televisão como um objecto que serve para jogar, para ver vídeos, o Youtube, e depois de vez em quando ver um programa. Lembro-me do primeiro Big Brother onde estive, que foi muitíssimo divertido. Não teve nenhuma parte agreste. Eu trouxe o The Voice para Portugal, trouxe o Masterchef para Portugal quando estava na RTP. Passaram seis ou sete anos e continuam a ser dois formatos fantásticos, com grande impacto no público. São formatos de entretenimento e as pessoas olham essencialmente para a televisão como entretenimento. Agora às vezes há abusos, até situações que fogem ao controlo. E essas devem ser evitadas.
Foi uma espécie de jogador invisível que ocupou os cargos mais importantes da comunicação social em Portugal. E depois abandonou a TVI por razões de saúde. Foi uma depressão por causa de ter que despedir pessoas? Por causa das audiências estarem a baixar? O que é que foi?
Não chegou a ser uma depressão. Eu na altura estava muito cansado. Fiquei para aí três noites seguidas sem conseguir dormir. Estávamos numa fase de orçamentação. O trabalho, como eu já disse, era já muito mais virado para as contas, a poupança, o custo, e já muito desviado das questões de conteúdos, que foi o que me fez mudar para a TVI. Entre o momento em que entrei na TVI e o momento em que saí passaram-se também muitas coisas. A conjuntura mudou bastante.
Foi muito pressionado na altura? Politicamente?
Politicamente nada. A pressão era relacionada, como continua a ser, com as economias que é preciso fazer, do permanente corte de custos de produção, da performance que é preciso ter em termos de resultados do lado da gestão…
Lembro-me de uma antiga directora da Impresa que se despediu a seguir a ter despedido 200 pessoas do Grupo Impresa e nunca mais foi a mesma pessoa. Foi isso que o deitou abaixo?
Não, até porque eu nunca tive que despedir pessoas. Tivemos que reduzir alguns salários mais altos, entre os quais os nossos próprios salários…
Na altura ganhava 30 mil euros, era o que se dizia…
Não ganhava nem metade disso. Eu nunca tive de despedir uma pessoa diretamente. Uma coisa é acabar com um programa, e isso fiz várias vezes, o que implica, quando se está a trabalhar com produtores externos, um grande problema do outro lado.
Mas qual foi o problema de saúde que, segundo as notícias da época, o levaram a abandonar a TVI?
Andei a acumular cansaço e depois não conseguia dormir pura e simplesmente. Depois concluí que o trabalho iria ser sempre o mesmo – e que o foco estava a deixar de ser os conteúdos e cada vez mais a gestão de custos. Quando já estava em condições de voltar achei que não devia voltar. Ia voltar para fazer a mesma coisa, para ter o mesmo tipo de cansaço. Parti para outra.
E partiu para Angola…
Tinha dois convites para ir para fora de Portugal. Aproveitei um deles, que era fazer consultoria junto da administração da televisão pública de Angola, que estava numa fase de reorganização. As condições que me deram foram boas. Todos os meses vinha a Portugal 10 dias, o que permitiu manter uma relação directa com a família. Foram quatro anos, uma experiência completamente diferente. As empresas de comunicação em Angola estavam em expansão e o que se pedia era renovação de conteúdos, admissão de pessoas, castings permanentes para novos apresentadores…
Mas uma pessoa com o seu currículo ir para Angola…
Eu sempre tive vontade de ter uma experiência internacional.
E depois há a questão financeira…
Não, não fui ganhar mais em Angola. Até fui ganhar menos. O meu ordenado era em kwanzas e com a oscilação do kwanza passado pouco tempo de lá chegar já estava em perda em relação àquilo que recebia em Portugal. Mas em termos de trabalho era muito mais estimulante. É muito mais estimulante estar num lugar onde sentes que estás a mudar, que estás a fazer coisas novas, do que estar num sítio onde o teu objectivo é chegar no fim do ano à redução de custos X. E o foco permanente da empresa é o ‘atenção que ainda estamos a gastar muito aqui ou acolá’. E essa realidade das empresas hoje em dia em Portugal – e nesta área de media é angustiante porque os grandes grupos de comunicação estão com uma situação económica dificílima, isto só para ser simpático com eles – faz com que quando se está num cargo de direção de topo a vida seja marcada por essa realidade. Mas tinha posto no meu relógio biológico que não ficava mais de quatro anos em Angola. Aliás, acho que quando se está num determinado cargo mais de quatro anos começa-se a fazer as coisas da mesma maneira – e é importante mudar ou de sítio ou de função dentro do mesmo sítio. Agora quando voltei para Portugal e comecei a montar este projecto de fazer uma revista com a componente digital associada, foi com a mesma ideia de estar a fazer uma coisa que é nova, estimulante e que não tem agregada aquela pressão permanente de uma empresa que está altamente endividada.
E como decidiu avançar para a edição portuguesa da Food and Travel?
Há muitos anos que eu gostava de ter uma revista dedicada à comida e às viagens. Qualquer pessoa gosta de boa comida e de viajar. Há muitas revistas deste género nos Estados Unidos, na Europa, e em Portugal não havia. Há mais de 10 anos que acompanho as revistas estrangeiras sobre comida e viagens. Tenho em casa centenas. Eu tinha duas hipóteses: ou fazia uma revista de raiz, aqui em Portugal, o que é muito difícil, ou pegava numa marca e na rede que essa marca já proporcionava. Estive a ver uma revista australiana e a Food and Travel britânica. Mandei de casa um mail ao Gregor, que é o publisher de Londres, a dizer que gostava muito da revista e a perguntar se havia interesse em criar uma Food and Travel em Portugal. Em dois minutos ele respondeu ao meu mail. Tinha muito gosto, já havia Food and Travel na Turquia, na Itália, já tinha havido antes a tentativa de lançar em Portugal mas não se tinha conseguido. Eu meti-me num avião e fui ter com ele a Londres e passámos um dia inteiro a falar. Combinámos o modelo de funcionamento. A Food and Travel Portugal tem uma componente nacional mas há Food and Travel em vários países, até na Arábia Saudita, no Qatar, em Omã, nos Emiratos, e podemos utilizar conteúdos uns dos outros. A Food and Travel Portugal é a 10ª revista do grupo. Na altura eu estava ainda em Angola, disse ao Gregor que a ideia só iria ter concretização em 2017. Quando voltei comecei a trabalhar no projecto. É um projecto que consigo organizar de ponta a ponta com os recursos muito controlados. A equipa é muito curta, funciona em rede, encomendo trabalho a free lancers, não tenho outra hipótese.
A redacção é em sua casa?
Sim, trabalho em casa.
Quem é que pagina?
A paginação é da Carlota que trabalha na casa dela. Funcionamos em rede, cada um no seu ponto, uns em casa, outros têm o posto de trabalho fora de casa. Temos permanentemente propostas de trabalho de free-lancers para seleccionar. No primeiro ano vamos trabalhar nestes moldes. Depois veremos qual será o alcance da publicação. Queremos ter eventos ligados à marca, eventualmente presença na rádio e na televisão, mas isso são projectos para um segundo ano. O primeiro ano é implementar a revista e a componente digital associada.
Não tem saudades da televisão ou da rádio?
Eu nunca tenho saudades das coisas que já fiz. O que me irrita muito é que não se façam coisas que se poderiam fazer. Eu estou de fora, neste momento sou um treinador de bancada. O que me provoca nervoso miudinho é ver que há determinados trabalhos que podiam ser feitos e dar uma ajuda substancial ao momento que o país vive – não apenas este, mas outros anteriores – e o grande recurso que é a televisão, o grande recurso que é a rádio e em muitos casos a imprensa, depois não são devidamente aproveitados…
Esta aposta na Food and Travel tem a ver com o facto de ter estado três dias sem dormir?
Não, não tem a ver. Vindo para Portugal, eu teria que trabalhar em alguma coisa e não tenho convites para ir para lado nenhum.
Isso é um bocado estranho no caso de alguém que tem o seu currículo…
Não acho que seja estranho. Acho que os tempos mudaram.
Mas não acha que ainda é uma mais-valia?
Não sou eu que tenho de achar. Se os outros não acham… Eu não me contrato a mim próprio.
Mas toda a gente sabe que é um profissional competente. Acha que se queimou nos três grupos que existem em Portugal? Quer dizer, falta-lhe um, o Correio da Manhã…
Nunca trabalhei no Correio da Manhã. Acho que não, nunca tive essa perspectiva. Cada um desses grupos fez o seu caminho, está adaptado, tem o seu quadro de funcionamento e não tem necessidade de o alterar. Quando eu digo que me causa nervosismo é quando me ponho a pensar ‘mas por que é que não fizeram isto? Por que é que não fizeram aquilo? Porque é que estão sempre a dizer isto?’. Isso é uma coisa de treinador de bancada. Adapto-me a isso.
Mas tem a secreta esperança de um dia voltar?
Não tenho. Hoje em dia estou de tal maneira envolvido neste projecto… o período que estive fora também me distanciou muito da realidade nacional. Quando estou a ver televisão ou um noticiário de rádio o que me custa é que aquilo não seja às vezes mais ambicioso, que se tenha perdido o fulgor, que não haja vibração, que as coisas sejam feitas todas da mesma maneira. Eu sou do tempo em que o jornalismo era interventivo, embora sempre cumprindo os preceitos deontológicos, e fazia mudar alguma coisa. Quando fazíamos um trabalho mudávamos o rumo das coisas. Hoje em dia acho que o jornalismo muda pouco. Há um caso ou outro, aqui ou ali. O jornalismo vai mais atrás do que à frente. E o jornalismo devia ir à frente. Os jornalistas têm uma obrigação para com o público que os vê, que os ouve e que os lê. É para essas pessoas que trabalhamos. As pessoas que anunciam, os grupos de lóbi que fazem cerco permanente a determinados conteúdos são importantes, obviamente. Vivemos nesse contexto. Mas é preciso responder às pessoas e muitas vezes esse vector é abandonado e o que vemos é os leitores e os espectadores a desinteressarem-se. Se não jogarmos as cartas todas no serviço ao leitor, ao ouvinte, ao espectador, vamos perder a relevância que é o que acontece a muitos meios hoje em dia.
Voltou a ter contactos com o José Mourinho depois de ter jogado com ele?
Ainda nos encontrámos na faculdade. Depois, quando eu estava na SIC ele veio a programas. Ainda falávamos várias vezes. Quando ele estava no Chelsea ainda trocámos vários mails.
Foi uma espécie de bom-vivant e namorou com muitas raparigas conhecidas da nossa praça… Quando é que assentou?
Para aí há 20, 25 anos…
O que é que ser pai de três crianças mudou na sua vida?
Fui pai pela primeira vez depois dos 33. Muda bastante. Passamos a ter um olhar sobre as coisas menos imediatista. Passamos a pouparmo-nos a algumas coisas, a fazer mais contas, a fazer também mais equilibrismos na vida familiar. E sobretudo vivemos aquela coisa fascinante de ver alguém que é muito pequeno e vai crescendo em cada dia, depois entra em jogos e brincadeiras, depois torna-se mais sério na fase adulta. As minhas filhas mais velhas já são adultas.
Se eu lhe chamar José dos Santos você responde?
É o meu nome de tropa. Na tropa fui sempre o aspirante Santos. Eu chamo-me José Manuel Fragoso dos Santos.
Porque é que escolheu José Fragoso para ‘nome artístico’?
Não fui eu que escolhi. Quando fiz um programa de rádio na Faculdade de Letras com um amigo, que também era de Filosofia, fizemos um panfleto que afixámos na Faculdade para promover o programa. Foi ele que fez o panfleto. E pôs José Fragoso. E eu quando vi o nome achei que funcionava.