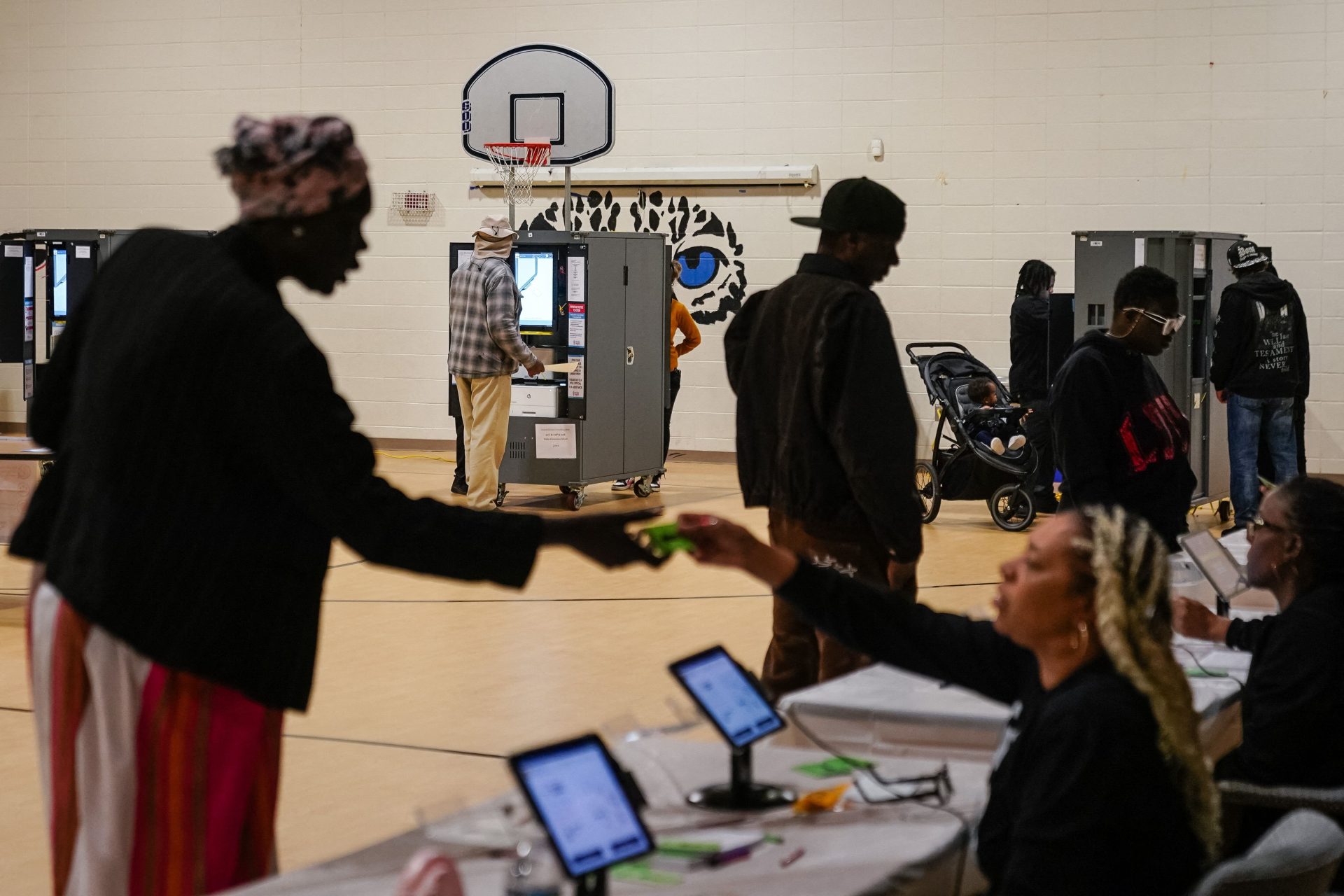Longe de África e da sua ilha natal – Guadalupe, nas Antilhas Francesas –, foi no sul de França que Maryse Condé disse ter encontrado enfim «um certo repouso», isto depois de uma vida em que empreendeu uma viagem incessante, numa espécie de lenta metamorfose que ia absorvendo os conturbados carateres do mundo ao seu redor, e que a levou entre três continentes, entre o empenho no ensino e na escrita, em combates políticos e grandes deceções, entre separações familiares num tempo de luta pela emergência de novas formas e raras formas de vida. Da periferia das letras francófonas, bem longe dos círculos do poder parisino, Condé viria a ocupar um lugar decisivo na redefinição dos novos rumos que a literatura veio a explorar, construindo uma obra cheia de vozes, poderosa e popular, obtendo um reconhecimento maior nos EUA do que em França, onde nunca lhe foi atribuído nenhum dos principais galardões literários. No fim, também a morte foi como um regresso a casa, à medida que se esgota o arrepio que se misturava a essa ideia de um abandono tranquilo à intriga cósmica. «Talvez seja de espantar que eu tremesse perante a ideia da morte. Mas é essa a ambiguidade das minhas semelhantes. Possuímos um corpo mortal e por conseguinte somos a presa de todas as angústias que assaltam os seres comuns. Como eles, receamos o sofrimento. Como eles, a terrível antecâmara que termina a vida terrestre apavora-nos. Por mais que saibamos que essas portas se abrirão à nossa frente para uma outra forma de existência, eterna, sufocamos de angústia. Para reconduzir a paz ao meu coração e ao meu espírito, tive de repetir para comigo as palavras de Man Yaya: – De todos, serás a única a sobreviver!».
Esta passagem surge-nos no primeiro dos seus livros que teve edição no nosso país, em 2022, com a chancela da Maldoror, Eu, Tituba, Bruxa… Negra de Salem, uma obra publicada originalmente em 1986, relatando a história de uma mulher negra, escrava, condenada no célebre julgamento das bruxas de Salem, de 1692. Como em todo o seu trabalho, Condé confia à imaginação a tarefa de restituir os elementos dramáticos a um fio que brilha entre a meada, fazendo um exercício a contrapelo do que é feito pela História, que suprime a consciência e oculta as experiências desses seres esmagados pelo enredo mais superficial. Aprendeu assim a defender-se e aos seus, inspirando-se na lição do poeta brasileiro Oswald de Andrade, que preconizou uma forma de libertação dos cânones e da trama colonialista através de uma sorte de «canibalismo literário», o qual permitia a mescla de tradições e uma articulação entre os elementos de culturas que se empenhavam num tráfico autónomo para sobreviver à ocupação europeia. «Fazemos como os índios», vincava Condé numa entrevista ao El País: «Comemos o que nos parece melhor nos outros e tentamos integrá-lo em nós».
A literatura, as leituras que se fazem a partir deste prisma, depressa assumem aquela urgência de quem se empenha em sobreviver a formas de clausura e repressão, e sendo a mais nova de oito filhos de uma família de ‘super negros’, aquela burguesia negra de Pointe-à-Pitre, em Guadalupe, que, ao emular a cultura branca, ostentava a sua pertença e superioridade. «Os meus pais eram vítimas das conceções e preconceitos coloniais. Queriam provar que os negros podiam ter uma conduta exemplar e dar-se bem na vida». No fundo, e depois do recurso à força, a subjugação depende sempre de um contágio em que se transfere para uma população subjugada o regime da hipocrisia burguesa. Tendo-se sempre identificado como francesa, foi quando Maryse Condé quis prosseguir os seus estudos em França, que percebeu que ali seria sempre encarada como uma cidadã de segunda categoria. Mas esse ostracismo não a impediu de se alimentar do ímpeto revoltoso daquela cultura, e na sua escrita conseguimos escutar os ecos de autores clássicos como Rousseau, mas também dos novos espíritos do lado da subversão, como Genet, e, assim, a par do poeta também antilhano Aimé Césaire, e do senegalês Léopold Sédar Senghor, Condé reclamou essa feroz condição dos filhos bastardos, cuja consciência, na verdade, arranca uma tradição à afetação e torpor dos usos burgueses para revitalizar o seu sentido e alcance. Foi feminista quando estava longe de ser moda, foi mãe solteira e criou quatro filhos antes de iniciar a sua obra literariamente, à beira dos 40, e foi catedrática na Sorbonne, especializando-se na escravatura, na influência do colonialismo na cultura e na história das Antilhas, nas raízes africanas e na condição do negro no mundo.
Em 1958, casou-se com o ator guineense Mamadou Condé, e deu início a um périplo de 12 anos por vários países da África Ocidental — Costa do Marfim, Guiné, Gana, Senegal —, onde deu aulas de francês e trabalhou como tradutora. A sua passagem por estes países aconteceu num período de grande turbulência política, e teve oportunidade de privar com figuras como Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Malcolm X e Ernesto Che Guevara. Foi no Senegal que conheceu Richard Philcox, professor inglês, que viria a ser o seu segundo marido.
Maryse Condé morreu aos 90 anos, vítima de uma doença neurodegenerativa, que ceifou boa parte da sua família, e que há anos vinha afetando as suas capacidades, tendo-a deixado cega e depois surda, e impedindo-a até de segurar objetos na mão. Chamava-lhe «síndrome de Boucolon» (o seu nome de família). Mesmo assim, escreveu até se lhe esgotar o fôlego, ditando os seus textos ao marido, com quem estava casada há 50 anos, e que foi o tradutor para inglês de muitos dos seus livros. A sua obra estende-se por todos os géneros, e aproveita-se da diluição das suas fronteiras, da ficção a partir de relatos históricos, ao ensaio, poemas, contos, romances, e ainda que tenha escrito em francês, reivindicava um idioma particular, o ‘marysecondé’, que não se ficava pela fusão de crioulismos, mas que irradiava esse espírito de insurgência e contraofensiva. O seu nome acabou por integrar repetidamente as listas dos favoritos ao Nobel da Literatura nos últimos anos, e, em 2018, recebeu o Nobel alternativo no ano em que a Academia Sueca foi obrigada a suspender a entrega do galardão na sequência de um escândalo sexual que acabou por salpicar vários dos seus membros. Numa iniciativa que teve o apoio de diversas personalidades da cultura, e com uma votação em que participaram mais de três mil bibliotecários, emergiu um nome que talvez fosse impossível obter aclamação segundo um regime de consenso, que tende a suprimir as vozes verdadeiramente incómodas.