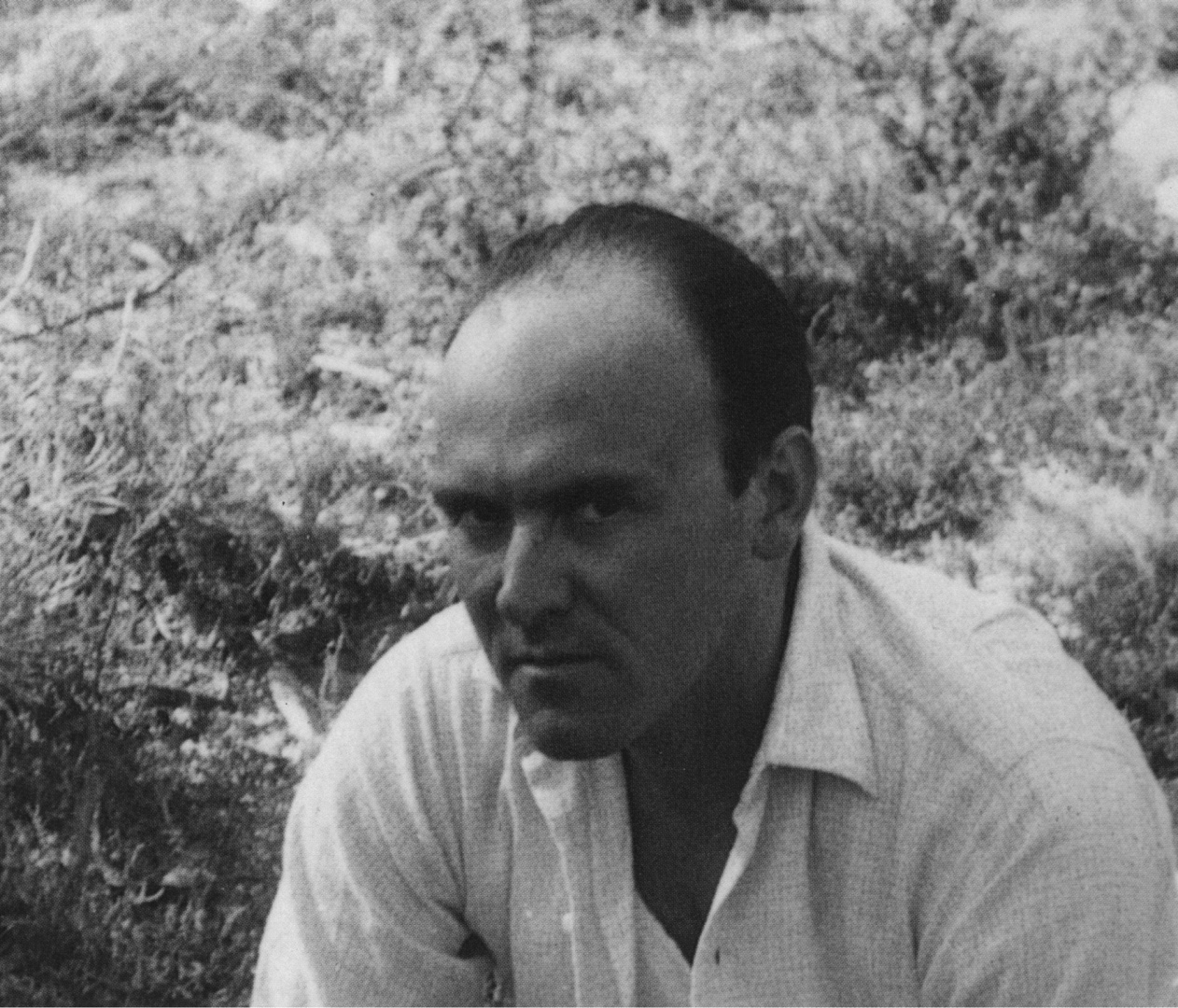Escritor, cronista, (escreveu no Diário Popular e no Expresso) professor, diretor da Imprensa Nacional – Casa da Moeda, nomeado para a direção geral dos assuntos culturais no pós regime salazarista, e convidado para lecionar na Universidade em Oxford pouco tempo antes de morrer, Ruben A. foi um dos maiores impulsionadores da cultura da sua geração. Talvez seja pertinente destacar três frases suas na tomada de posse da direção dos assuntos culturais a 4 de Janeiro de 75 para recordar e testemunhar a sua frontalidade e solidez na divulgação da cultura. Logo de início inaugurou o seu discurso evocando a figura de D. Pedro V “Nós herdámos os erros do passado e os vícios anquilosados.” ,para depois prosseguir convicto que era urgente as pessoas não terem medo da cultura, e por fim citou Torga para reforçar a ideia de que “Custe a quem custar, não conhecer o nosso património é uma imputação grave ao individualismo de cada nação.”
Esta sua vocação para a cultura e o acreditar que era por ela que Portugal chegaria mais longe foi-lhe incutida desde cedo pelos seus laços familiares. Educado numa família protestante de ascendência dinamarquesa pelo lado materno, estudou no Colégio Universal, foi aluno de Casais Monteiro, e foi um dos fundadores do Jornal juvenil Falcão de Prata. Foi dessa maneira que o escritor desde muito jovem demonstrou um espírito muito peculiar e desalinhado com a sua geração. “Viveu Ruben A. no País errado ou viveu fora do seu tempo?” eis a questão de Marcelo Rebelo de Sousa no prefácio que vemos assinado no livro O Mundo À Minha Procura editado em Setembro do presente ano pela Assírio & Alvim.
“Talvez a resposta mais ajustada seja: Sim, Ruben A. viveu no País errado e viveu fora do seu tempo. Porque viveu num Portugal que, em muito não compreendia aquele homem, aquele homem culto, aquele homem radicalmente independente, aquele homem teimosamente distante dos grupos, das capelas, das correntes, dos alinhamentos, dos rótulos, aquele escritor que ao escrever acerca de si, escrevia acerca dos outros, ao contar o seu mundo, descrevia o Portugal da sua época, o tal que não entendia, e, portanto, preferia ignorá-lo, fazer de conta que não existia.” Mas, mesmo tremendamente ignorado e voltado ao ostracismo, Ruben A. nunca deixou de ser um gladiador destemido da cultura e da literatura portuguesa dentro e além-fronteiras.
Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas pela Universidade de Coimbra, iniciou a sua atividade de docente como professor de Francês comercial na Escola Industrial Infante D. Henrique, e mais tarde foi professor e leitor no King’s College em Londres entre 1947-1952, altura em que se deu com T. S. Eliot, Barbara Hepworth e Henry Moore, e em que começou a corresponder-se com Miguel Torga, autor que tanto considerava.
Mas aos olhos de Salazar Ruben A. não servia para representar Portugal lá fora por “não saber escrever português e por atacar os ingleses numa posição oficial em que devia contribuir para aproximar os dois países.» Nessa altura Salazar deu ordem ao Instituto de Alta Cultura para demitir o escritor. O I conversou com a filha de Ruben A. Alexandra Bach Andresen Leitão que nos contou que “Alguém foi enfiar debaixo do nariz de Salazar o segundo volume das Páginas. «Já viu o que o nosso Leitor de Português no King’s College anda a escrever?»”
Ruben A. acabaria depois por regressar a Portugal, mesmo depois de ter obtido em Inglaterra “largos testemunhos de amizade, de admiração, e de louvor, que contrapôs aos que em Portugal o acusavam de dificultar a política de aproximação. Há sobre o assunto um dossier extremamente honroso” (In Memoriam Ruben Andresen Leitão, p.84). Em Portugal regressado de Inglaterra ingressou na Embaixada do Brasil, onde permaneceria cerca de vinte anos. Regressaria então ao país onde fez a tropa, ao país onde “Não se discute, a organização está feita, o capitão tem uma razão que o alferes não percebe, o major tem outra que o capitão não atinge, o coronel sobe na escala com mais razão que já poucos entendem, e o general tem toda a razão.”
Mas sem razão nenhuma foi por Óscar Lopes logo após o lançamento do livro A Torre de Barbela considerado injustamente “um escritor sem território”. Injustamente sim, porque Ruben A. poderá ter sido tudo, menos um escritor sem território, porque o seu território era o mais universal e prolífico de todos, era todo um mundo à sua procura. Ora, esse mundo que o procurava é aquele que podemos ler agora na sua autobiografia compilada num só volume pela Assírio & Alvim.
Esta autobiografia é como o próprio título indica, uma narrativa de cunho pessoal, mas acima de tudo, por detrás dessa individualidade estão salvaguardados muitos outros mundos. São por isso múltiplos, resistentes, contrafeitos e inacomodados os mundos dentro desse que o procurava.
Mas aquele que foi o seu primeiro mundo, foi sem dúvida, o mesmo que o da sua prima Sophia, o mundo encantado (e mais tarde devastado) do Campo Alegre, no seu Porto, com a grande e simétrica casa vermelha construída nos finais do seculo XIX e o magnífico jardim que a ladeava.
Encontramos em Sophia esse jardim mágico e harmonioso a cada passo na sua poesia, basta recuarmos ao seu poema O Nome das Coisas onde Sophia escreveu «Onde o mar aberto/ E o tempo lavado? / Perdi-me tão perto / Do jardim buscado.»; ou Ao Jardim E A Noite «Atravessei o jardim solitário e sem lua, / correndo ao vento pelos caminhos fora, para tentar como outrora /Unir a minha alma à tua, / Ó grande noite solitária e sonhadora. // Entre os canteiros cercados de buxo / Sorri à sombra tremendo de medo. / De joelhos na terra abri o repuxo, / E os meus gestos de bruxedo. (…)»; ou ainda em O Jardim E A Casa ou em Jardim Perdido. Por sua vez, Ruben no primeiro volume de O Mundo À Minha Procura (p.56) escrevia «Não conheci, do Mondego para cima, jardins mais impressionantes que os da Quinta do Campo Alegre, tão bonitos e imponentes que são hoje em dia património da cidade do Porto com o nome genuíno de Jardim Botânico. Pedalava com a força bruta dos sentimentos que há pouco, presos aos balões, cativos do meu nervoso, me haviam deixado num coma pelo menos vinte e quatro horas. Desfilava junto à curva dos rododendros, rododendros vermelhos, amarelos e roxos, rododendros de mil cores, reduzida amostra de maravilha extraordinária dos rododendros de Longleat, propriedade de sonho dos marqueses de Bath, no sueste de Inglaterra. Fazia esquadrias tangentes às cameleiras que em três imensos retângulos formavam nos dentros jardins de rosas, begónias de mil cores, azáleas e tantas outras flores que em nomes se fugiam de mim.»
Mas não era só às cameleiras que Ruben A. fazia esquadrias tangentes, era também a toda a sociedade portuense e aos ingleses que a colonizavam, à sociedade estagnada, burguesa, indigesta, em locomotiva decomposição. (p.45) À “sociedade onde os homens vivem na pedra lascada, caçando de arpão, fazendo lume no friccionar de duas pedras e trazendo a tanga remendada de peles ainda nas caçadas em África.”; (p.142) à sociedade onde “Engenheiros, ministros, diretores, etc., etc., se julgam habilitados a opinar sobre assuntos completamente alheios à sua vida, ao seu gosto, ao seu conhecimento. Cada um neste país tem que exibir uma opinião sobre arte, e como se anda cinquenta anos atrasado, e a incultura artística brada aos céus, o resultado é pavoroso, monstruoso de ofensa ao público e ao contribuinte que, obediente, tem dado dinheiro para se erguerem os maiores mamarrachos de que se pode envergonhar um país.” ; à sociedade que se mantém improvisadamente convencional e supérflua (p.143) “ No mesquinho, somos geniais e custa-nos muito confessar que de determinado assunto não sabemos nada. O mal nacional é que se arranha sempre qualquer coisa e assim vive-se inchado à superfície dos problemas passando gestos radicais, como os que fazia Pacheco nas páginas imortais de Eça. O português ainda não compreendeu que não se inferioriza dizendo que não sabe.”
Pois bem, Ruben A. como ninguém soube mastigar com sarcasmo e rebeldia o português, a língua portuguesa na sua coloquialidade máxima, no seu desregramento fonético, no seu desbravamento gramático. Em muitos momentos, aliás, em grande parte também ele a mastigou com dentes de romântico, dentes incisivamente camilianos. E graças a isso, também como ninguém soube transcrever não só essa sociedade vulnerável, com a sua ignorância e pasmaceira, com os seus costumes, os preconceitos, os roteiros portuenses Foz- Campo Alegre – Cantareira- Lóios- Clérigos – Feitoria Inglesa – Cedofeita – Cordoaria – Leões – Club Portuense que tanto e tão profundamente o marcariam. A par disso soube também com mestria traduzir o “folclore da fonética burguesa” do Porto, as paisagens do verde Minho, as mulheres de chancas e de salto alto, as senhoras de sua Majestade, as Seraninhas, os Sezés, os Pereiras, os Dons Segesmundos de outros tempos, os Doutores Mirinhos.
Mas foi sempre com espírito crítico e uma consciência lucidíssima e perspicaz que Ruben A. soube apontar o dedo à incivilidade cultural que reinava em terras lusas à época (p.48) “Na sociedade Portuguesa há um ciúme indescritível perante a coragem e perante a cultura”. Muito em parte devido a esta sua postura nada domesticada e confortável, tenha sido tão brutalmente desconsiderado por tantos, mas também por outro lado, tão profundamente respeitado e idolatrado por outros.
O seu mundo será para sempre como o seu jardim do Campo Alegre descrito por Sophia, um “jardim da impossessão” onde «cada gesto se quebrou, denso/ Dum gesto mais profundo em si contido, / Pois trazias em ti sempre suspenso/ Outro jardim possível e perdido.» Pois bem, este jardim é de tal maneira denso e dotado de luz e de força, que mais do que nunca vai a tempo de ser lavrado por novos e sedentos leitores. Só um jardim da impossessão poderá ser uma raiz frutífera, só um escritor que se deixa procurar, poderá ser um mundo a redescobrir.
Talvez a obra de Ruben A. tenha sido esse jardim da impossessão de que nos fala Sophia, “Transbordante de imagens, mas informe.” Informe por não corresponder a nenhum padrão estipulado. Informe por se desalinhar, informe por estar para além da aprovação ou reprovação, informe por ter que olhar para um (p.329) “mundo novo como quem herda um elefante branco e tem que o meter numa capoeira.”
É certo que Ruben A. não era um neo realista, mas também não era um surrealista, Ruben A. era um homem livre. Livre na busca de si próprio, na sua mais íntima orientação literária, metafísica e artística. (p.172) “Sempre me considerei naturalmente ocupado e cego na contínua busca de mim mesmo.” e (p.204) “Ao contrário daquilo que a maior parte dos meus íntimos pensam, exigi sempre bem pouco da vida. Exigi amor, procurei-o e raro o encontrei.»
Mas o seu mundo primeiro, esse paradeiro misterioso e colorido tecido de amor, melancolia e obscuras premonições viria sempre a encontra-lo em volta do jardim da sua infância. (p.145)” Olhava para o Campo Alegre, para o jardim, para a mata e o parque com a sensação de quem está na agonia aguardando a vinda do cangalheiro para se meter no caixão.” Este sentido de espera e de melancólica agonia havia de ser sempre impactante no seu rasgo literário, e por isso mesmo, também a respeito da sua autobiografia, encarava-a (segundo uma entrevista que deu ao Diário Popular em Julho de 65) como a “mais pura forma do romance, a criação permanente de um estado de espírito que traz presentes os fantasmas que se acolheram no sótão da sensibilidade.” Também Roland Barthes viria a escrever em 1975 acerca da sua própria autobiografia Roland Barthes por Roland Barthes, que tudo o que escreveu a respeito da sua vida devia ser “considerado como se fosse dito por uma personagem de romance.”, tal como a citação de Henry Miller de que Ruben se serviu na abertura de cada volume da sua: “Autobiografia é o mais puro dos romances. A ficção está sempre mais perto da realidade do que propriamente qualquer facto.”
Era um escritor, e isso podemos confirmar em toda a sua obra, quer nas suas crónicas, contos, quer em Caranguejo (romance, 1954); Cores (contos, 1960); Cartas de D. Pedro V aos seus Contemporâneos (1961); A Torre da Barbela (romance, 1965); O Outro que era Eu (1966); O Mundo à Minha Procura (1964, 1966 e 1968); Páginas (seis diários publicados em 1949, 1950, 1956, 1960, 1967 e 1970); Silêncio para 4 (novela, 1973); Kaos (romance póstumo, 1982) com uma sensibilidade aguçada, uma ironia e um sentido absoluto de liberdade, de inconformismo, porque segundo o próprio «O desejo do absurdo é a mola vital da minha vida.» Uma vida que foi curta de mais. O escritor morreu em Londres, a 26 de Setembro de 1975 com 55 anos. Contam-se do seu círculo de amizades nomes como Ruy Cinatti, com quem jantava todas as segundas-feiras na sua casa de Lisboa; Alexandre O’Neill, que além de seu grande amigo, era seu revisor; os primos Sophia e Ruy Leitão; José Blanc de Portugal, (o homem da Gulbenkian); Barata Feyo; Nuno de Bragança; Pedro Homem de Mello (de quem foi colega no Infante D. Henrique na Invicta, onde o poeta era na altura diretor); Tomaz Kim; Rosado Fernandes; José Régio; Gaspar Simões e David Mourão-Ferreira, entre muitos outros mais. O filho do escritor, Nicolau Andresen Leitão contou-nos que o Pai, como recebia tantos amigos em casa, estipulou que quartas e domingos seriam dias de “casa aberta”. “Eram tardes de chá e torradas onde todos confraternizavam! O meu Pai era uma girândola de alegria, via sempre o ridículo e o caricato em todas as situações.”
Colecionador de antiguidades e faianças, “citadino de nascença, mas rural de escolha” refugiava-se no Monte dos Pensamentos no Alentejo e na sua casa em Carreço, no Alto Minho desenhada pelo seu primo João Andresen, entre os pinheiros e o azul Atlântico.
Em 26 de Setembro último, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou a título póstumo o escritor com o grau de Grande – oficial da Ordem Militar de Sant’ Iago de Espada, ordem que se destina a distinguir o mérito literário, científico e artístico.
Foi também Marcelo Rebelo de Sousa que no prefácio de O Mundo À Minha Procura, em cinco breves itens celebrou o caracter genial, cultíssimo, independente e fascinante do escritor. (p.11) “Volvidas tantas décadas, recordar Ruben A. pesquisador reflexivo, debatedor enciclopédico, pensador desalinhado, escritor quase solitário no seu escrever é, em simultâneo, sublinhar um génio, com frequência menosprezado ou, sobretudo, omitido, e indagar acerca de que sociedade, de que Portugal eram aqueles e foram aqueles que não viram, não quiseram ver Ruben A. como ele deveria ter sido visto. E esta última questão é importante. Até para que não se repita, sistematicamente, no presente e para futuro. Pra que não se faça de conta que o muito diferente não existe, não pode existir, que os catálogos, podendo ajudar a arrumar pessoas, criadores, pensadores, devem servir para negar a evidencia do muito diverso, do muito heterodoxo, do muito atípico. Atípicos somos todos. E são os criadores mais do que todos.”
É desta forma que continuaremos a celebrar Ruben A. com o seu mundo autêntico e legítimo. Um mundo cíclico, introspetivo, surpreendente, pronto a inaugurar sonho, osso e carne.
Há em Ruben A. um mundo que nos procura por inteiro.