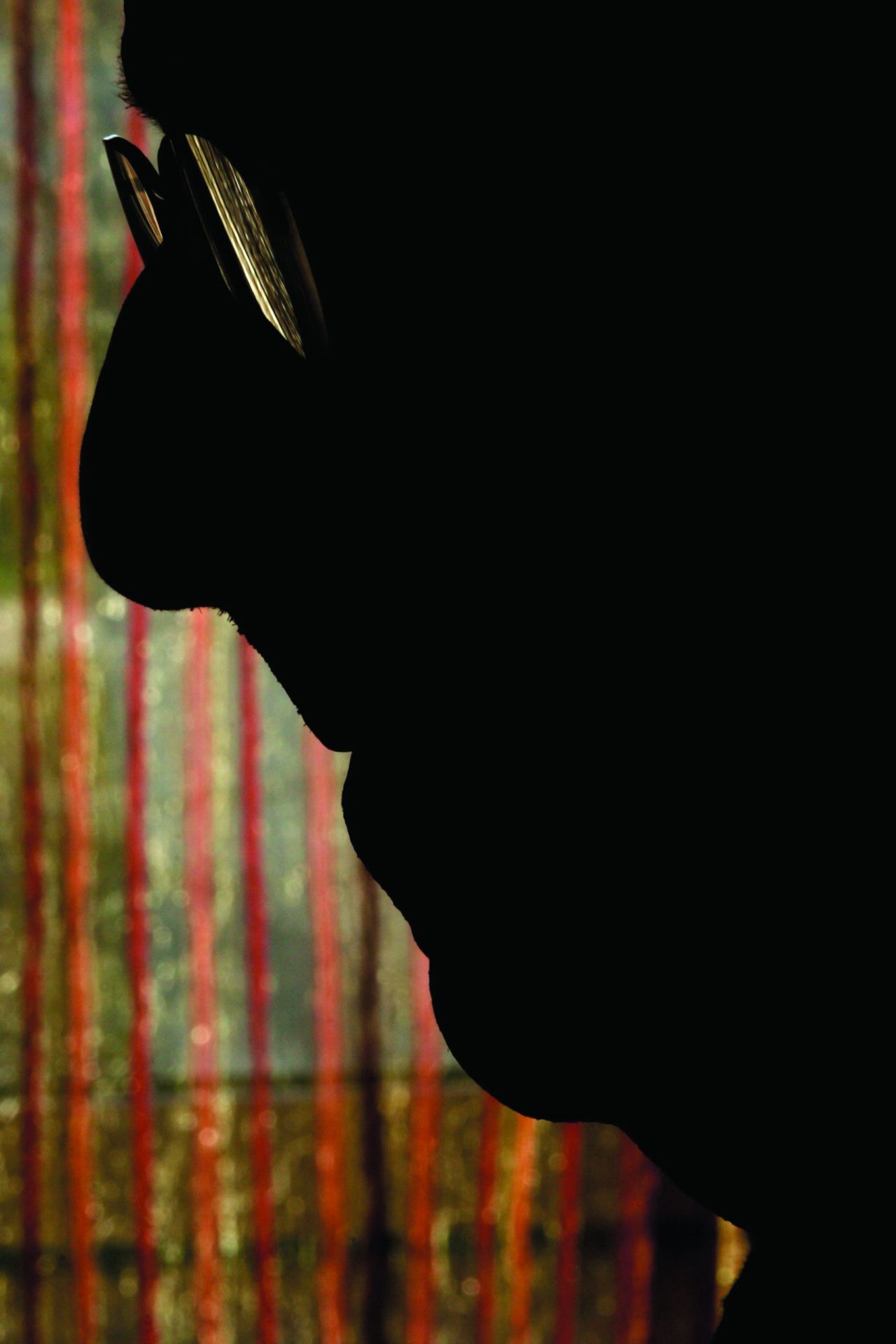Falemos de crítica literária. Falemos desse sagaz exercício de um poder em tempos firme e hoje caído em desuso, e até amargurado, destronado em favor de práticas que, disfarçando-se com algumas das suas vestes e trejeitos, deram em prostituir o seu antigo prestígio. Falemos sem nos pouparmos a um esforço de compreender o fenómeno, mas também sem o desejo de sermos tão exaustivos que a coisa se torne maçadora, traindo assim o propósito essencial que é cativar um leitor que tem mais que fazer, ladeado por pilhas de papéis e livros querendo disputar a sua atenção. Falemos a partir de exemplos, de quem a fez, e se debruçou sobre essa arte que há muito é acusada de estar a degenerar, e que parece hoje condenada a ver passar outros em seu nome, numa forma de travestismo impante em roda do seu leito de morte e enquanto não lhe desligam a máquina. E comecemos por notar como, já em 1936, George Orwell atribuía o facto de o romance estar condenado ao desaparecimento, não só ao modo como era publicitado, mas a uma perda da inocência dos romancistas, que iam acabar por se dar conta de que quem os lia era um público que mais valia ofender do que entreter – e isto é particularmente evidente hoje, e é uma coisa que ninguém ousa abordar, ou seja, o serem sobretudo mulheres mais velhas que têm tempo para se sentar a ler romances, diluindo o tédio, e buscando, para esse efeito, obras que lhes sirvam distrações bastante inócuas… Mas o que já então não escapava a nenhuma “criatura pensante” era o efeito degradante, por acumulação, desse “asqueroso palavreado promocional dos críticos literários”.
No ensaio “Em Defesa do Romance”, Orwell, que também se dedicou e de forma árdua, exemplaríssima, a esta mal-afamada ocupação, esclarece que “se a recensão de romances chegou ao seu presente estado foi sobretudo porque cada crítico tem um ou vários editores a assediá-lo”. Mas logo adianta que o esquema não é tão grosseiro como parece, uma vez que “as diferentes partes envolvidas na falcatrua não actuam conscientemente em equipa”. De qualquer modo, o autor de “1984” nota que, mesmo que essa forma de concertação resultasse de algo mais sórdido, como parece cada vez mais ser o caso, “nenhum leitor que importe se deixa enganar por este tipo de coisa, e o desprezo em que caiu a recensão de romances estendeu-se aos próprios romances”. E Orwell remata notando que “quando todos os romances nos são apregoados como obras geniais, é natural que se presuma serem todos uma porcaria”. A solução passaria, assim, por se criar as condições para que surgisse pelo menos uma publicação que acabasse por se impor, envergonhando as outras, ao especializar-se na crítica de romances recusando-se a promover porcarias, “e na qual os críticos sejam de facto críticos e não bonecos de ventríloquo cujas matracas sejam accionadas pelos editores”.
Este texto de Orwell tem quase um século, e não se pode dizer que a perspectiva se tenha alterado de forma dramática, o que quer dizer, pelo menos, que as coisas continuam mal encaminhadas. Mas o romance tem, apesar de tudo, conseguido salvar-se enquanto género, embora esteja longe de ser levado a sério por um número considerável de pessoas inteligentes. Em grande medida, até se pode talvez dizer que só tem sobrevivido graças à teimosia de alguns estúpidos que se contentam em ler porcarias, convencidos de que integram assim uma falange elitista, delas se servindo para se convencerem de que não engrossam as fileiras dos consumidores perfeitamente satisfeitos com os produtos do entretenimento de massas.
Orwell recusou-se a juntar-se ao coro que já então profetizava que o romance estava condenado a desaparecer num futuro próximo, contudo deixou um aviso: “o mais provável, se não conseguirmos voltar a atrair para ele as melhores cabeças literárias, é que o romance sobreviva sob alguma forma perfunctória, desprezada e inevitavelmente corrompida, como acontece hoje com as pedras funerárias, o Punch e os espectáculos de fantoches.” E como negar que, salvas as excepções tão convenientes para manter o logro, foi precisamente isto o que aconteceu e se pode confirmar vendo aquilo a que a discussão literária se reduziu. O mesmo é dizer, a nada, a alguns soluços entre frases promocionais que gritam “génio” segundo um compasso que já não obriga ninguém a virar a cabeça.
A situação da crítica tem merecido uma série de comentários, debates, até a ocasional polémica. E, entre nós, é costume assumir-se que a crise é mais aguda devido à exiguidade dos meios dedicados à cultura, até pelo crescente desinteresse no fenómeno literário. Este exige um tipo de atenção que cada vez mais tem dificuldade em desembaraçar-se de distracções, com o ócio a perder terreno para as investidas dessas tão sedutoras propostas de entretenimento e lazer, as quais não exigem nem o mesmo investimento ou discernimento e funcionam numa esfera inclusiva, ao passo que a leitura, feita a alguma profundidade, se parece cada vez mais com uma forma de se extrair do mundo, de se exilar, desligando a nossa vida interior dos estímulos e do assédio de um esquema apostado em gerar uma forma de consciência própria não de indivíduos mas de um enxame.
Cada vez passamos mais horas ligados, num casino ligado às nossas terminações nervosas e que está sempre a recolher informação. Parecendo nutrir os nossos impulsos, na verdade, este mostra-se progressivamente mais hábil ao criar uma frequência adictiva e, ao mesmo tempo, frustrante, que nunca nos satisfaz inteiramente, obrigando a que aguardemos a onda seguinte, a dose seguinte. E enquanto tentamos equilibrar o peso do nosso ser e das nossas ânsias e sintonizá-lo com esse sinal que abre constantemente novas janelas e nos promete outras perspectivas e ligações, este baralha os nossos sistemas de navegação e deixa-nos à deriva, no que antes parecia “uma superfície de mar coberta de restos de naufrágio, mas, na verdade, não é mais do que uma tíbia piscina em que flutuam algumas garrafas de plástico” (Alfonso Berardinelli).
Voltando a recentrar-nos no nosso tema, é evidente que, a partir do momento em que deixou de haver uma sociedade literária, o crítico perdeu o papel que desempenhava enquanto figura independente que, através do ensaio, formulava juízos insubornáveis e incómodos, procurando fixar alguns sinais e referências num trânsito bastante caótico. Tendo ficado no desemprego, ou remetido para funções de secretaria e outras azucrinantemente burocráticas, os poucos que não abandonaram o ofício ou se metamorfosearam nesses seres amorfos, capazes de se adaptar a todos os constrangimentos, ou, pelo contrário, persistiram nalgum rincão, valendo-se de horas que acham mortas, retirando ânimo de todas as contrariedades, escavando os seus esconderijos e persistindo como fósseis vivos, batendo-se pelo discernimento e integridade numa função que continuam a desempenhar com uma obstinação quixotesca.
Seja como for, face às circunstâncias actuais, e uma vez que já ninguém lhe dá ouvidos, “o crítico clássico tornou-se um militante sem público a que se dirigir”, diz-nos o poeta e ensaísta alemão Hans Magnus Enzensberger, com “as suas estratégias a longo prazo a revelarem-se anacrónicas, enquanto a sua influência se evapora na indiferença de um mercado pluralista para o qual tanto se lhe dá a diferença entre Dante e o Pato Donald”. No entender deste crítico que, aos 90 anos, se despede da vida com o consolo de saber que a sua morte será o extinguir da luz de um certo idealismo, aquele com que eram travadas as batalhas no campo intelectual, a autoridade do crítico já nem sequer se questiona porque se tornou simplesmente supérflua.
Quanto a saber quem reclamará os despojos, Enzensberger diz-nos que duas profissões tradicionais que souberam adaptar-se aos tempos e conseguiram ocupar o lugar deixado vago pelos críticos foram os agentes de circulação e os pedagogos. “Aqueles pertencem na sua maioria à esfera da economia do mercado livre, ao passo que estes constituem hoje a base sólida da cultura estatalizada.”
Quanto à primeira categoria referida, esse agente de vendas que conhecemos das raras tribunas onde ainda se gastam uns linguados de prosa a fingir que se escama o peixe, a fingir que este veio da lota e que está fresco, que não é só mais outro produto congelado, diz-nos o alemão que, se para o crítico respeitado de outrora a literatura era um nexo de escritos que ele amava ou odiava, o agente de circulação, pelo contrário, não mostra especial interesse pelo texto, fixando-se antes nas tendências, que decifra lendo as suas entranhas. “O vencedor será aquele que primeiro venha anunciar uma tendência imperante; o perdedor o último a repetir o anúncio.”
Enzensberger adianta que o que é realmente grave não é que os nossos recenseadores sejam uns charlatães e uns cretinos, mas que a forma da recensão não tenha já maneira de se salvar. “Os suplementos literários já nos parecem obsoletos. Nas redacções das revistas faz já tempo que a cultura se viu relegada a um simples apêndice do suplemento de ócio e de entretenimento.” Entre nós, basta folhear as páginas dos dois suplementos que ainda têm hasteada a velha bandeira da cultura, imprimindo textos onde se finge exercer algum juízo de apreciação sobre obras e espectáculos, mas que dificilmente se distinguem da fanfarra publicitária e dessas grosseiras fórmulas que servem apenas para sinalizar tendências, vender por atacado, sujeitar o pensamento sobre obras a loteamentos, e isso explica o triunfo dos balanços, das listas de fim de ano ou de estação. “De modo que a recensão de livros acaba sendo substituída por pedras lapidares: as badanas, o livro recomendado, a lista dos best-sellers, o spot publicitário”, escreve Enzensberger. Consequentemente, o recensor que continua a ler e a escrever, embora cada vez menos consiga fazer uma e a outra coisa, acaba por ser empurrado e substituído por outros agentes de circulação e que não sofrem com os problemas de má-consciência daquele.
Ao alinhar os sintomas, traçando o seu diagnóstico, o ensaísta alemão pede desculpa se usou de uma frieza clínica ao invés de empregar algum entusiasmo polémico, mas defende-se notando que, “ao fim e ao cabo, é difícil entusiasmar-se com um tema moribundo”. Mas se a sua visão é bastante negra em relação a esses últimos redutos no campo mediático onde ainda se tratavam produtos culturais com alguma sofisticação, Enzensberger enxota como a uma mosca essa tentação de ler este tipo de juízos como pessimistas, notando que a literatura, para sobreviver, não depende de ser “comentada”. E frisa que o recuo a que se assiste não significa nada de desastroso, apenas sinaliza o fim de um período de euforia que acompanhou a emergência da sociedade burguesa, a qual, no seu programa de ascensão social, “acreditava firmemente que uma discussão pública de normas culturais era um assunto vital”.
Hoje, a literatura não tem escolha senão abdicar dos seus tronos mundanos e voltar à posição que foi a sua desde o início: “a de um assunto minoritário”. De qualquer modo, e para não ter a descortesia de sair, batendo com a porta, para produzir um efeito dramático, o poeta termina este ensaio chamado “O crepúsculo dos recenseadores” notando que este ocaso, tantas vezes encarado como uma perda da qual não saberemos como nos recompor, traz afinal uma boa dose de promessa, uma vez que a redução da literatura às suas reais dimensões pode exonerar os escritores desse esforço de parecerem interessantes, tentando seduzir um público que precisa constantemente de ser coagido. Primeiro, a gastar uns cobres e, mais difícil ainda, em segundo, a sentar-se pelo tempo suficiente para retirar alguma coisa desse objecto cujo apelo parece ser cada vez mais o de uma relíquia que se traz para o colo como para afagar a impressão de um tempo que nos foge, de um passado às vezes até tedioso, mas onde a vida tinha uma certa qualidade extática.
“Agora, os escritores podem finalmente tirar a máscara de embelecimento que usaram durante tanto tempo”, diz Enzensberger. E acrescenta que “o público verdadeiro, autêntico, uma minoria de alguns milhares que não se deixa influenciar por nada, este público há muito virou as costas às fantochadas dos grandes meios de comunicação”. É com esse público, capaz de formar a sua própria opinião, de forma independente da charlatanice das recensões e dos grandes destaques publicitários, que a literatura poderá contar, já não sujeita a tanto ruído, e dependendo da “única forma de publicidade em que ele põe fé, que é a de boca a boca”. E Enzensberger faz questão de sublinhar que não é por ser gratuita que não acaba por ser mais valiosa.
Com isto desapeamo-nos do comboio das considerações mais gerais sobre a crítica literária para tocar aspectos em que esta nos diz algo de mais particular, na forma como se entreteceu numa tradição literária que tem um passado longínquo, que se confunde com o próprio juízo que se faz de si mesmo e do outro, um jogo travesso, de volúpia e estrago, de cortesia e conflito, sendo um modo de se ficar desperto e desfeito, como depois de um acto sexual, de entrega e conflito, com o corpo a sentir-se destruído e abandonado a uma sensação dolorida de perfeita consciência.
Acaba de sair uma segunda edição de “Cartas ao Léu”. Uns bilhetes que Luiz Pacheco endereçou entre 1990 e 2003 ao amigo João Carlos Raposo Nunes, poeta e livreiro, que mantém aberta só Deus sabe com que sacrifícios a Uni-Verso, em Setúbal. A edição é, não apenas graficamente, mas na composição da matéria textual, um objecto bem mais gracioso do que o trambolho que saiu em 2004 com selo das Edições Quasi. E aqui o aprumo não é questão de somenos, uma vez que é a batelada de notas, a sua infiltração por todos os lados, o assalto de esclarecimentos que surgem por cada frincha à laia de aparato crítico que definem a inclassificável e intrigante natureza híbrida deste volume. É esse trabalho feito por António Cândido Franco que faz com que o leitor levado a acreditar que tem aqui uma obra que merece aparecer entre a bibliografia activa de Pacheco não fique irado e logo se desfaça dela. Na verdade, este é um título fundamental, mas é ao nível do estudo da obra, e particularmente ao justificar a centralidade de dois géneros menores, como a epistolografia e a crítica, no cimentar da “genial vocação literária de Pacheco”.
Ávidos de alegres demolições críticas, os leitores de Pacheco já estão por tudo, e, numa altura em que a reedição da sua obra continua emperrada por causa dos herdeiros, isso tem permitido dar relevo a um seu aspecto central: a epistolografia.
Mas quem esteja à espera de encontrar aqui exemplos indispensáveis de como o pinto-calçudo se habituou a cultivar a epistolografia, por ser esta a única forma de comunicação – “escrita livre (clandestina)” – no tempo da censura, dificilmente não ficará desapontado. Mas não deixa de se reconhecer à légua os modos de entornar com graça o tinteiro, mesmo que numas poucas linhas, até porque Pacheco estava bem ciente, por esta altura, que qualquer nota escrita pelo seu punho era lida à lupa pelas pepitas verbais que sabia incrustar nesse modo entre o bruto e o felino de torcer a sintaxe e a gramática. Assim, esta edição da Maldoror é um excelente prémio de consolação para os leitores que continuam à espera que os herdeiros se entendam para que se dê início ao processo de reedição das peças centrais desta obra.
Se nenhuma das cartas está ali a gritar para ser recolhida num dia em que haja condições de se fazer uma edição rigorosa dos pontos altos da obra epistolográfica de Pacheco, o que esta edição faz é vir reforçar a urgência de que se comece a avaliar o mester deste autor, e nomeadamente ao ter-se virado para esses géneros tidos como menores pela forma como nalgumas das suas cartas, folhetos e folhas volantes ou com colaborações em folhecas culturais, foi acumulando textos muitíssimo burilados, a ferver de intenção e cheios de garra, resumos de horas e horas de paleio afiado, crónicas com o tempero das melhores chalaças, essas confissões sinceras, sinceríssimas. “A carta, a carta sincera”, refere Cândido Franco, “nada deixando escondido, apareceu-lhe como o género que melhor se adaptava ao seu propósito crítico e na solidão de remetente ferozmente individual melhor lhe garantia a independência”.
O responsável pela edição regista ainda que “a sua obsessão pela verdade está sempre presente, quer na crítica, onde não deu tréguas a capachinhos e algodões, quer na narração, onde avaliou a realidade como superior à ficção”. Sendo esta uma obra feita de peças algo desirmanadas, constrói-se nela uma ficção documental que, se se aproveita da fome crescente por tudo o que diga respeito a Pacheco, também sabe erigir uma narrativa valendo da “consciência aguda da efabulação permanente do mundo e da verdade” que Franco reconhece ao autor das cartas. Assim, como quem faz uma sopa da pedra, o organizador junta uma série de testemunhos e relatos, e ergue uma minuciosa e algo patusca ou mirabolante historiografia à volta de umas cartas sem especial interesse senão para aficionados, colecionistas, malucos. Mas isto não impede que a edição seja uma urdidura cheia de seduções, até mesmo ao apresentar-nos ao destinatário das cartas, numa homenagem rara a uma dessas figuras discretas, que tendem a ficar esquecidas e que vão sendo o apoio daqueles a quem chamamos mestres, isto num tempo em que o seu talento está longe de ser reconhecido e celebrado.
Mas antes de nos determos com maior detalhe nalguns dos pontos críticos que tornam esta uma obra tão relevante para a bibliografia passiva de Luiz Pacheco, há um momento-chave e que quase passa despercebido entre as tantas notas que dão força a esta recolha de cartas no qual gostaria de me fixar. Trata-se de uma brevíssima nota de rodapé que me parece ser terrivelmente reveladora do carácter com que se vem fazer justiça aos autores quando, estando eles mortos, já se lhes pode elogiar tudo, e não se correm grandes riscos. É à luz desta nota que deve ler-se a figura do organizador deste volume, pois esta força-o a desmascarar-se, a largar a pose do fazedor de lendas insolentes, ficando patente a sua covardia no pior dos lugares possíveis.
Ora, surge-nos às tantas um texto de António Cabrita em que se tece um retrato elogioso de João Carlos Raposo Nunes e, como é apanágio do autor, em que este se aproveita para abrir a objectiva e alargar a um retrato de grupo (para se incluir, é claro), nesses ritmos irritantes daqueles que sempre que viajam ao passado vêm de lá com os ossos amarrados em flautas de pã para tocarem serenatas a si mesmos, forçando as mais banais peripécias a marchar fardadas de mitos. “Foram anos trepidantes e inclementes – felizmente que éramos puros” assim arranca a coisa. “Tínhamos senhas: delírios, beatitude, poesia. E saíamos em bandos disparando brita, prata, fumos, versos anfetaminados pela ira e pelos neónes.”
Sempre seria uma grande obra de caridade arranjar-se um biógrafo, mesmo que só fingisse tomar notas, alguém que desse a este homem a alegria de andar por aí a falar pelos cotovelos, a imaginar a desproporção da sua lenda um dia que já cá não esteja. “Nós tentávamos reconhecer em cada um de nós o melhor da sua geração, aquele que, segundo Ginsberg, haveria de arder pelos cabelos, enquanto o poema se cumpria.”
Seja como for, por mais muco que tenha esta prosa, Cabrita consegue não ser aborrecido, e às tantas, entre as muitas cotoveladas que vai dando ao leitor, até sabe enfiar nos seus textos distinções bem calibradas, e distribuir umas frechadas, como neste ponto do seu texto: “Ao contrário de alguns poetas portugueses que cultivaram o haiku um pouco a remos, com o esforço de um culto, sem se darem conta de que semelhante prática é um estado (e estou a lembrar-me do Casimiro de Brito e da sua pose-prótese orientalista), João Carlos Raposo Nunes (ou o Barahona nos seus poemas religiosos) fá-lo com a genuinidade irrecusável do seu estar.”
Ora, é aqui, sem que nada o justifique, que Cândido Franco sente a necessidade de meter o bedelho. E para quê? Colado àquele parêntesis numa crítica que põe um dedo na testa do seu alvo ao invés de, como é prática comum, apontar vagamente numa direção qualquer, sem chamar o boi pelo nome, logo vem o ecuménico Franco levantar a bandeirola para registar uma falta: “É em 1988 a opinião de Cabrita, que respeito, pela amizade que lhe tenho, pelo talento que lhe reconheço, mas que não partilho.”
À volta de uma notinha como esta, que parece só um disparate, um lapso momentâneo, podíamos extrair, na verdade, volumes e ilustrar com outros exemplos este modo de se furtar às consequências de um projecto de “crítica de identificação”. E, pior do que isso, este modo de anular tudo o que se faça nesse sentido, indo ao ponto de fazer de Pacheco um inigualável mártir, para que nenhum vivo ouse seguir-lhe o exemplo. É esta a traição, é este o enredo de cumplicidades de um meio literário que se furta e faz tudo o que pode para calar quem lhe aponta as suas inanidades e mesquinhices.
Mas foquemo-nos neste exemplo: que sentido tem vir pôr uma nota de rodapé num texto saído faz já mais de três décadas no JL, e isto para se desmarcar de um apontamento crítico, bem ao estilo do Pacheco, de resto, num livro em que se defende o primado da crítica entre as nossas tradições literárias?
E note-se como Cândido Franco não apenas protege o Casimiro, mas nesse registo de quem sempre se esforça para apaziguar as tensões, também se rasga em elogios ao Cabrita, para que todos os ânimos sejam serenados. É a velha estratégia que manda calar a todos com elogios. Na verdade, é uma forma de diplomacia engenhocada por um farsola. E é o que vai permitindo que o mapa literário se desenhe, depois, à boca pequena, numa série de “compartimentos estanques da má-língua, onde tudo se sabe, se bisbilhotam e deturpam as vidas de cada um conforme as conveniências de cada um”, e isto explica, como nota Pacheco, que estejamos reduzidos a um “pátio de comadres soalheiras, irritadas e irritantes, o que por si só conduz à sua inanidade e desagregação como entidade colectiva responsável e de maior força no conspecto social”.
Ou seja, é este exercício de não deixar que as brigas venham à tona e se saldem, que os adversários expludam e dêem o melhor de si, que haja até mal-entendidos para que no confronto possam esclarecer-se, e mesmo que se troquem umas taponas, por fim, a coisa lá se arranje, e o ambiente desanuvie naturalmente. É tudo isto o que depois cria bicho nas cabeças, que ficam ali a tecer os seus ridículos complôs, as patifarias que estão sempre a cozer ao lume nas tabernas mais pobres e insalubres como nas taménides da literatice local.
Ao fazer-nos saber que não subscreve “a opinião” de Cabrita (sim, porque quando convém a Cândido Franco, uma flechada perde os foros de crítica, e é desvalorizada como mera opinião), o organizador diz-nos algo mais do que isso. Podia, devia ter ficado calado. O texto é de Cabrita e Franco não tem nada que aproveitar-se da sua posição enquanto organizador de um volume para vir com comentários ou ressalvas em nota de rodapé. Mas sente-se na obrigação de se raspar, deixar claro que não acompanha o outro no momento em que surge um antagonismo expresso sem meias-tintas, que são essas em que labora Franco.
Com isto demonstra como toda a sua prosa de tom verrinoso é um exercício de copiar à vista a guerrilha que fazem os outros, mas soltando-a da inconveniência de arranjar aborrecimentos seja com quem for. Não passam por isso de uns sinais de fumo encavalitados a trouxe-mouxe, referindo-se vagamente à guerra, mas só para se dar ares de insubmisso. É mais outra rábula de um desses escribas que vivem num agarrem-me que eu vou-me a eles, coisa que nunca passa disso mesmo: de uma fantasia torta, de uma galhardia que telefona à última para desmarcar, mas que ainda assim gosta de andar aí ensaiando, esbofeteando as ventas da brisa, apresentando-se ao casting para o papel do mau ou do vilão mas numa fita dessas que já não desconfortam ninguém.
Até com um Casimiro, uma figura das que de forma mais persistente convidou o escárnio, que se aproveitou de tudo para se banhar nos charcos da glória, até esse lhe merece precauções. Porquê? Ora, porque uma coisa é andar com um sabre de papel, vir com ele desembainhado e brandi-lo a qualquer oportunidade, outra muito diferente é enterrar o aço frio de uma lâmina crítica na emplumada carne do outro e saber que ele provavelmente não o esquecerá nunca e fará de tudo para intrigar, para nos encher o nome de lama, se preciso for, deturpando e mentindo.
Mas aproveitando a tal nota de rodapé, também trago aqui eu uma lembrança que não merece ficar esquecida. Isto foi há coisa de dois ou três anos. Rumámos a sul, mas não muito, Montemor-o-Novo… não deu para grandes aventuras, até porque o Cabrita não pôde vir, mas o episódio envolve uns encontros de homenagem a Alface, e eu fora convidado para moderar uma sessão, com Manuel da Silva Ramos, Teresa Carvalho e Cândido Franco. E quando chegou a vez de dar a palavra ao primeiro, quis confrontá-lo com o conhecido facto de, ao longo de anos, e quando Alface ainda era vivo, se ter desdobrado em declarações em que omitia o contributo do amigo na escrita dos romances que compõem a trilogia lusitana. E se Silva Ramos ficou aflito, pois nunca imaginou que a sua sacanice viesse à baila naquele contexto e diante de uma audiência, em boa parte constituída por amigos de Alface, que sabiam muito bem do que se estava ali a falar, foi Cândido Franco quem logo se encheu de alergias, e ainda ensaiou um pequeno motim a ver se a mesa punha o moderador no seu lugar, escudando o outro de ter de se justificar, de passar um mau bocado e de se encher de vergonha, tendo sido, além do mais, o único dos participantes que cobrou à organização uma maquia para prestar homenagem ao “amigo”. Assim, tudo o que lhe ouvimos foi negar que alguma vez tivesse menorizado ou apoucado Alface colhendo isoladamente os louros daquela destemperada odisseia que chamou as boas práticas literárias para uns valentes açoites no rabo.
Mais curioso é que tenha sido o biógrafo de Pacheco quem logo vestiu a batina e procurou exigir o respeito devido numa cerimónia daquelas. A coisa estava a ganhar aquele registo pesado e a sala estava entre o nervosa e o divertida, quando Luís Filipe Rocha, que estava na audiência, cortou a palavra a Silva Ramos com um berro, isto quando este, meio engasgado, repetia como uma criança que não, que nunca tinha dito o que disse por diversas vezes, que nunca tinha feito as declarações que levaram Alface a deixar de lhe falar. O cineasta arrumou com o assunto, assumindo a autoridade de quem conhecia a ambos, acompanhara o caso, e confirmou em tom peremptório a patranha de Silva Ramos, antes de exigir uma viragem abrupta, para que a sessão pudesse ser reconduzida a um terreno mais cerimonioso e apropriado ao registo funerário das homenagens.
Se trago este episódio à baila é para deixar claro que, sempre que Franco vem armar-se em escudeiro de Pacheco, convencido talvez de que alguma da bravura que hoje se reconhece ao nosso mais danado cronista sobre e o banhe num efeito colateral, não deixará de ter quem se lembre de como ele se foi mostrando em algumas ocasiões um exemplar “da desmedida petulância e vaidade” de que acusa o meio literário português. Estão, assim, bem um para o outro. E diria até que um não vive sem o outro, que são bastante cúmplices, o meio e estas figuras que, fingindo guerrear, o fazem apenas para que a relação não esfrie demais, como velhos amantes que se fazem ciúmes, trocam injúrias, para resgatarem alguma da velha chama na hora de irem deitar-se.
Cândido Franco é bem o exemplo desses personagens secundários cujo talento é ajudar a fixar a cena numa moldura conformista. Assim, segura a candeia para que se veja o rosto do outro, mas de modo a que os seus traços nos pareçam já longínquos como ecos. Podemos ler este Pacheco heroico e admirá-lo, mas apenas como quem diz: não tentem isto em casa, meninos. É até a forma de Cândido Franco se eximir da sua falta de coragem, admirar a uma distância segura o seu negativo. Talvez por isso esteja em tão boas condições de ser um pau-de-cabeleira entre um autor e a sua lenda, desde que assim eles se elevem da terra dos vivos para não voltar mais a azucrinar quem cá fica.
Uma nota final e já arrumo com esta questão. O que devíamos estar interessados em tentar perceber é como foi que deixámos as coisas chegarem a um ponto tal que nos vimos rodeados desta infinidade de egos de porcelana, num campo minado por susceptibilidades, num ambiente em que ninguém consegue viver bem com a sua insignificância, e, pior, anda tudo secretamente inchado, a encher a cabeça ao grilo com umas pretensões balofas, umas recriminações. Tudo um bando de traumatizados da silva. Mal juntam duas frases já estão a pensar em ser transladados para o panteão. E isto gera depois essa diplomacia mentecapta, essa crítica de biberão, e, por isso, ninguém lhe atura (ao crítico) grandes liberalidades, e muito menos que entre por aí num desatavio lebreiro, com ganas de meter o dente, de traçar uma purga, ou apenas como quem quis lavrar sua sentença, sem grandes salamaleques, sem ter de ir a cada uma das mesas, saber se todos dão licença.
Tanto se queixam do silêncio, mas nada se compara com o horror que é se alguém lhes põe a mira em cima e dispara em vez de lhes vir com caldos de galinha.
Cândido Franco ensaia também a sua aptidão para dar a outra face, deixar que o belisquem. Diz que em vindo de Pacheco, seu “mestre”, deixaria que lhe baralhasse as certezas, que lhe servisse o imprevisível com uma laranja na boca. Logo veremos como reage a esta. Se revela agora algum poder de encaixe.
O certo é que os textos que servem de moldura e amparo a esta pobríssima correspondência, feita quase só de uns postalinhos, uns recados que não imaginariam o assalto de notas a fixar-lhes uma reconstrução exaustiva das circunstâncias, o certo, dizia, é que este é facilmente um dos melhores subsídios para se perceber o estado de degeneração em que anda o movimento crítico, um dos melhores contributos publicados nos últimos anos largos para nos relembrar que a crítica tem, entre nós, uma longa tradição que pode bem estranhar a moleza em que caiu nas últimas décadas.
É um embalo ferocíssimo que vem do escárnio e mal dizer dos cancioneiros medievais, e que até há bem pouco tempo tinha por aí digníssimos praticantes, letais atiradores como Cesariny, O’Neill ou Pacheco. Estes são os antecedentes que interessou a Cândido Franco reconhecer, adiantando numa nota de rodapé que, no que toca a actuais semeadores de tempestades, ao nome de Manuel Vaz, juntaria hoje o de Júlio Henriques. Não nos interessa discutir as escolhas, até porque isto não vai lá com selecionadores e equipas nacionais. É claro que Cândido Franco tem todo o interesse em ser ele o jardineiro que trata e poda esta árvore genealógica, falando numa das mais ricas famílias de escritores portugueses, que aguenta nos seus galhos com gente como Gil Vicente, Francisco Manuel de Melo, António Vieira, Luís António Verney, Bocage, Guerra Junqueiro e Fialho de Almeida. É claro que Cândido Franco está coberto de razão ao vincar que “a crítica é uma forma extraordinária da criação”, e que o crítico precisa trazer no sangue alguma pulsão demasiado difícil de contrariar para pagar o tão alto preço que é ficar sujeito ao repúdio de todos esses que estão convencidos de que ele vem ameaçar as suas hipóteses de alcançar a imortalidade.
Neste ponto, valeria a pena lembrar o que disse um que, apesar de ter limpado o cu às bandeiras da dignidade, ainda aí anda para nos lembrar que “invocar a posteridade é o mesmo que pregar aos vermes”. Céline, sim, essa grandessíssima besta. Mas o ponto central da tese de Cândido Franco, além de não poupar nos louvores ao génio de Pacheco, que não precisou, para se distinguir de mais do que a série de recensões e crónicas que foi escrevendo nos jornais entre a década de sessenta e a de noventa, é que a crítica não pede meças ao que por aí vai de romançada, esses volumes-alçapões de quem anda aí “roendo a legítima ambição de nos soterrar com obras devastadoras”, mas que depois, de tão impacientes nas suas caçadas com carabinas ficcionais, de tanto perseguirem elefantes, no fim, não conseguem meter ao saco mais do que pombos, e muitas vezes só dos mais lerdos.
É, de resto, um dos sintomas da fraqueza dos juízos que persistem por aí, sempre embebedando-se de preconceitos, essa patetice na hora de avaliar o espectro das manifestações literárias que leva a que se tomem essas fronteiras dos géneros como indicativas de uma qualquer hierarquia na criação. Buscando orientar-se num território que conhecem muito mal, e onde nunca se sentiram em casa, esse tipo de leitores é capaz de registar como um evento digno de celebração nacional uma passagem fulgurante de um romance, mas se a mesma surgir a meio de um texto de crítica ou até de uma carta já se torna uma irregularidade certamente admirável, mas não mais que isso. Como se um momento de fervor assombroso, uma epifania tivesse ainda de ser crismada, transladada para uma estrutura romanesca, um diálogo entre dois patrícios, um que veio de desnalgar uma marquesa ao passo que o outro teve de se virar para a laustríbia. É como se o génio na crítica fosse uma ocorrência digna de multa por excesso de velocidade, como algo de impróprio, desgarrado de contexto: um grito na floresta, quando o ideal era empalhá-lo e fazê-lo desfilar numa pose austera pelos salões.
Cândido Franco dá-nos Pacheco como esse caso extraordinário, “o mais castiço renovador da prosa portuguesa na segunda metade do século XX”, diz ainda, com inteira justiça, que foi “o crítico mais necessário das últimas décadas, se não o mais completo”, e ainda descreve esta forma de compor um retrato “duma geração fim de século, fim de terra, fim de tudo”, dizendo-nos que “a sua crítica pretendia ser incómoda, sincera, directa, às vezes brutal”. Não há dúvida da propriedade dos vários ensaios breves que aqui reúne Franco, nomeadamente ao reconhecer a dose de coragem que foi preciso a Pacheco para vir arrancar escalpes, quando outros se cobrem de folhas, andam aí camuflados em busca de uma aberta para enfiar um tiro à traição, com a ajuda de uma mira telescópica. Sobretudo são importantes por estabelecerem o nexo entre essas tácticas de “silenciar rasteiramente os outros” com os arranjos, interesses e cálculos de “um meio tão corporativamente palaciano e tão pouco escrupuloso como o das Letras”, impedindo assim que se afirme uma alta noção de crítica, a qual não pode deixar de assumir a liberdade para se exceder, no empenhado esforço “cívico” de distribuir bordoada.
Em muitos passos, Franco não faz mais do que trocar por miúdos o que o próprio Pacheco nos adiantou, nomeadamente nos ensaios “Convivência e Polémica” e “Crítica de Identificação”, em que estabeleceu as linhas orientadores do seu propósito de reencaminhar um autêntico convívio, o qual só é honrado “por uma fecunda polémica, pela lealdade dos termos em que esta for posta, na mútua consideração que, mau grado adversários, se dedicam aqueles que sabem lutar e viver por uma (sua) verdade”. Assim, é bom poder contar com um académico para vir dizer-nos o óbvio: que a vida intelectual portuguesa se afundou “numa tácita convivência forçada, mostrando-se insossa e descolorida, falha de qualquer rasgo de insubmissão”. Mas, se admite que “o opróbrio não deixa de ser desde Adão a fatalidade necessária a qualquer inovação”, se admite até que “grosseria e injustiça são em Luiz Pacheco o preço que temos de pagar por uma truculência verbal e por uma liberdade opinativa que, se não existissem com a mesma ferocidade, nos fariam mais pobres, porque nos deixariam na ignorância mole dos nossos limites”, agora o que falta, mais, o que se exige, é que Cândido Franco tire as luvas de que se serve para este exame post-mortem, para validar a centralidade deste exemplo para quem quer que ouse cortar com o regime de comiseração a que se tem chamado crítica, e ele mesmo deixe de ser um entrave, uma força de bloqueio, o primeiro a voluntariar-se para operações de socorrismo sempre que deflagra alguma polémica, sempre que é atingida alguma eminência parda.
É bom que decida qual dos lados, afinal, há-de contar com ele, para não fazer esse número de quem anda entre os dois mundos, e tanto desce aos calabouços literários para escutar esses desabafos inquietantes, as mais prodigiosas blasfémias, como depois, na hora das refeições, se junta aos oficiais na messe. É bom que sinalize a necessidade de voltar a haver folga para que de novo se pegue em armas, se faça jus a essa tão nobre tradição, reclamando margem para que “as nossas convicções (éticas, estéticas, políticas, etc.)” possam uma vez mais ser demonstradas e afirmadas em actos, “tenham eles as consequências que tiverem, sejam eles incómodos, blasfemos, agressivos à verdade dos outros, percutindo-se na crítica e na polémica e individualizando-se nelas”. De outro modo, por mais exumações que venham fazer Cândido Franco e outros como ele, a grande pergunta que acabará por se colocar no espírito de quem quer que tenha em si esse impulso de insubordinação é aquela que fez o poeta Jorge Gomes Miranda: “Haverá vida antes da morte?”
Muitas vezes, a resposta que recebemos de figuras como Franco parece ser um tanto dúbia, parece que a morte é uma espécie de cerimónia de graduação, e o crítico só pode ver o seu trabalho reconhecido por um efeito de convalidação, até para que os que cá andam possam pôr em marcha as exéquias no momento em que sentem que já se pode respirar de alívio.