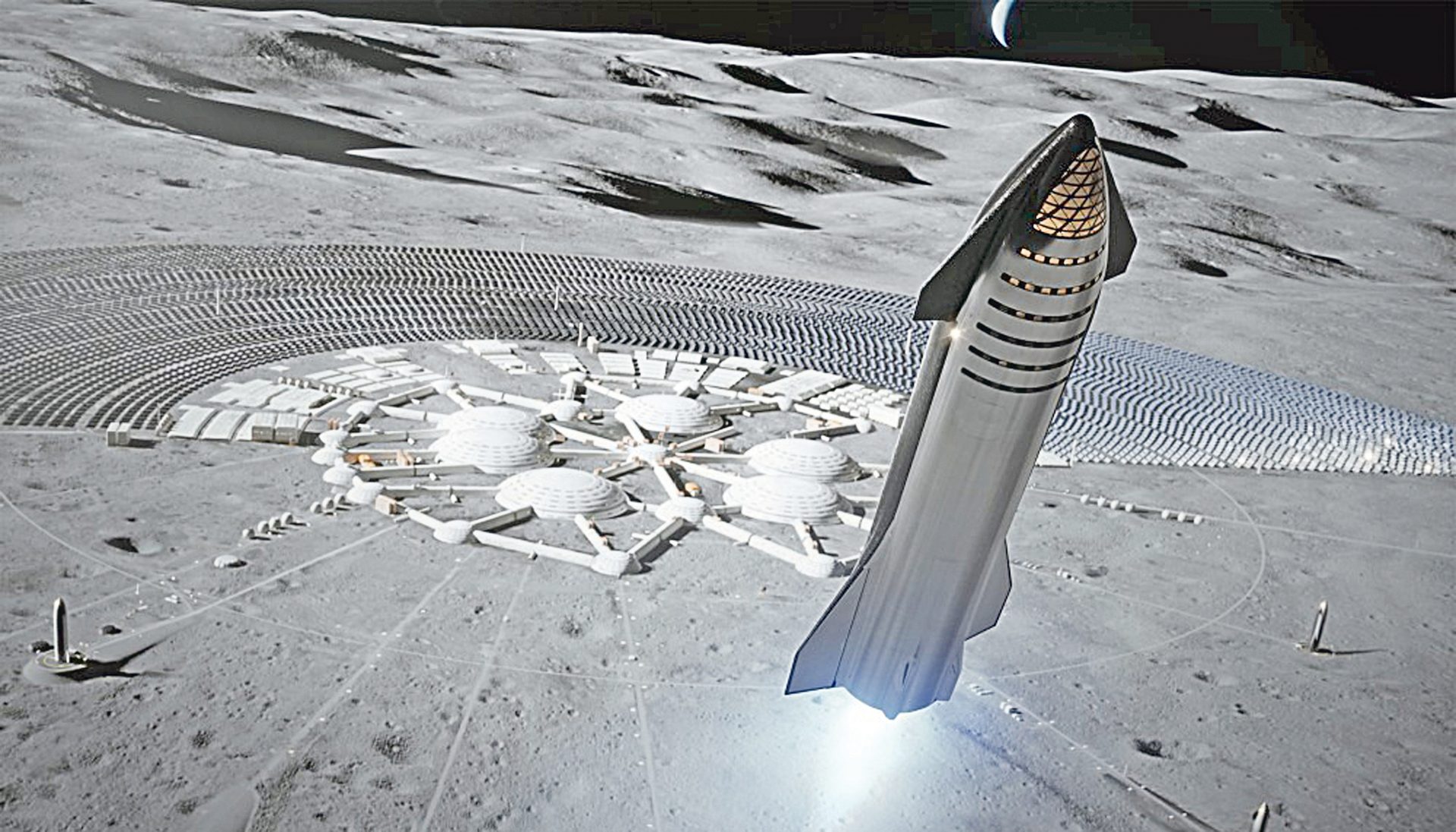“Acha que no próximo ano a sua vida vai estar melhor, na mesma ou pior?” A pergunta é feita aos portugueses nos inquéritos do Eurobarómetro desde 1996 e o gráfico que coloca as respostas em retrospetiva no site da Comissão Europeia mostra um autêntico ioiô nos últimos anos. Responde apenas uma amostra da população de cada país, mas serve de indicador. O pico do pessimismo salta à vista em 2012: 50% dos portugueses achavam, naquele ano, que a vida ia piorar. Em 2018, já só 7% tinham essa opinião. E se a grande maioria antevia que ia tudo continuar na mesma, 26% sentiam ventos de melhoria. O gráfico diz mais: desde 2007 que os “otimistas” não eram uma fatia tão grande da população e é preciso recuar ao final dos anos 90 para encontrar um valor mais elevado.
Estamos mesmo mais otimistas? Irritantes ou cautelosos? E que mais se pode dizer do estado de espírito dos portugueses, indo além dos rótulos de inveterados saudosistas, hospitaleiros mas soturnos, povo preso à nostalgia do fado? O psiquiatra Júlio Machado Vaz e o sociólogo Elísio Estanque concordam que há um sentimento de descompressão e alívio na sociedade portuguesa, mas há outras tendências à vista.
Uma tem estado em debate. A abstenção nas últimas europeias registou um valor recorde de 69,3%. Mas os dados dos Eurobarómetros mostram que o sentimento de afastamento das instituições políticas não é de agora. Os dados sobre a confiança no sistema político foram tratados recentemente num estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que concluiu que “a grande recessão de 2007-2014 gerou uma grave crise social e política nas democracias da Europa do Sul”. Desemprego, aumento dos níveis de pobreza e desigualdades sociais foram acompanhadas de perda de confiança nos parlamentos nacionais e partidos, e os números falam por si. Em Portugal, entre o ano 2000 e 2015, a percentagem de portugueses que dizem ter tendência a confiar no Parlamento baixou de 41% para 29%. Na viragem do século, 18% diziam confiar nos partidos políticos e essa percentagem caiu para os 11%. Desde 2015, a confiança nos partidos subiu para os 24% num Eurobarómetro feito em maio de 2017 e, desde então, tornou a cair – situou-se nos 17% na última sondagem com esta pergunta, feita em 2018.
“São todos iguais”
O psiquiatra Júlio Machado Vaz admite que o fenómeno de crescente desconfiança em relação à classe política é algo que o tem estado a preocupar. “Cada vez oiço mais frases do género ‘são todos iguais’, o que tem efeitos terríveis. A política é uma causa nobre, serve para gerir a cidade, a pólis. Quando passa a ser considerada um meio para enriquecer, seja por cunhas ou por corrupção, cria-se o terreno para o crescimento dos populismos”, diz, sublinhando que a tendência para uma certa generalização também resulta da forma como hoje vivemos, numa sociedade muito mediatizada e imediatista. “Os média são de tal maneira rápidos, há tanta informação que as pessoas nem perdem tempo a pensar sobre as questões, a tentar triar”. Um Eurobarómetro divulgado em março do ano passado sobre o tema emergente das fake news revelou que um terço dos portugueses inquiridos sentem que praticamente todos os dias se confrontam com notícias e informação que acreditam representar mal a realidade ou serem mesmo falsas. E 29% têm essa sensação pelo menos uma vez por semana. Apenas 12% se sentem muito confiantes na sua capacidade de separar o trigo do joio, e 44% relativamente confiantes em triar o verdadeiro do falso – abaixo da média europeia.
Elísio Estanque, sociólogo e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, acrescenta outro ponto que, na sua opinião, tem contribuído para alimentar a descrença nas instituições políticas, que tem muito a ver com os resultados da governação. “Uma das marcas mais visíveis em Portugal e nos países latinos é uma valorização muito grande do coletivo, da comunidade, do grupo, o que vai até ao papel da família e dos laços afetivos, que são encarados como tendo um efeito protetor, de almofada. Como não construímos até agora um Estado social que a população entenda como eficaz, ou pelo menos não está estabilizado e consolidado, talvez esse seja um aspeto que ajude a alimentar a descrença nas instituições e no seu funcionamento.”
Se a crise no início da década reforçou a ideia de um certo papel protetor da família, com muitos jovens que tiveram de regressar a casa dos pais para apoio financeiro, à medida que as estruturas familiares se alteram e até fruto de mudanças na estrutura etária da população haveria pressão para um Estado social mais robusto. O desencontro entre as expetativas e a resposta contribui para o afastamento.
Os Eurobarómetros também ajudam a perceber o ranking das preocupações: se, até 2017, o desemprego era o problema do país que reunia mais consenso, no inquérito de 2018 destaca-se a inflação e o custo de vida, seguido então de desemprego, pensões e impostos.
Descompressão, sim, mas novos desafios
Para ambos, é evidente de qualquer forma um ambiente menos pesado do que durante os anos de recessão. “A crise foi duríssima, mas indiscutivelmente, neste momento, mesmo com greves a torto e direito e conflitos latentes, as pessoas vivem num regime de maior descompressão”, descreve Júlio Machado Vaz. Elísio Estanque concorda que existe um sentimento de alívio.
Ainda assim, sobressaem diferentes tendências no comportamento coletivo. Júlio Machado Vaz lembra as discussões do tempo da troika que questionavam o que se iria aprender com a crise, se seria possível “um capitalismo mais inteligente, mais cauteloso”.
“Sempre achei que quando houvesse um alargar do cinto se ia cair nos mesmos erros em relação aos créditos, por exemplo, e parece ter sido imediato. Sou pessimista, acho que aprendemos pouco. Mas, sendo justo, um dos fatores por que acho que as pessoas não aprenderam é porque há hoje em dia uma mentalidade de que tudo isto é precário, o que existe hoje pode não existir amanhã. Oiço pessoas que se apercebem desses comportamentos mas estão com uma postura de ‘que se dane, vamos viver o hoje, não vale a pena estar a fazer previsões e a poupar muito porque não se sabe o que aí vem’. Uns terão passado a ser mais cautelosos, outros não. O que em termos sociológicos joga bem com a sociedade em que vivemos, imediatista”.
Elísio Estanque acredita que há mais cautela do ponto de vista financeiro, mas o engajamento cívico não é maior. “As pessoas talvez sejam menos eufóricas em relação ao consumo, o que não me parece muito mau. Tinham-nos contado uma história de que o Estado estaria sempre lá e que o desenvolvimento seria imparável. As pessoas acreditaram. Se calhar, hoje em dia, já desconfiam um pouco mais, são mais cautelosas”.
Perante a economia a crescer e mais iniciativas empreendedoras, falta o salto de cidadania. “Temos um défice já muito antigo de autonomia e de iniciativa subjetiva. O individualismo faz-se sentir no consumo, mas faz-se sentir pouco do lado da cidadania. Nunca fomos uma sociedade muito proativa, também por esse peso cultural da família, que traz associada uma ideia de tutela e de patronagem”. Juntam-se a ausência de uma cultura de meritocracia, em que muitas vezes os self-made men são figuras encaradas com desconfiança ou inveja. “Depois de um período de intensas dificuldades e grandes frustrações, parece haver um sentimento de alívio, uma respiração mais saudável. Junto das camadas mais jovens parece haver hoje mais empreendedorismo, mais iniciativa, entusiasmo. O grande problema do ponto de vista sociológico, e do meu ponto de vista, é que esse dinamismo se orienta muito por uma perspetiva de mercado e pouco por uma perspetiva política, no sentido de pensar no interesse comum”.
E, aqui, talvez a causa ecológica possa servir de catalisador para um posicionamento diferente dos mais novos, acredita o sociólogo. Para isso seria importante o trabalho de promoção de cidadania começar a ser feito desde mais cedo nas escolas. “Faz falta um investimento. Hoje vemos os jovens chegarem aos 17, 18 anos sem terem uma base consistente para perceber o seu papel no mundo e na sociedade, em termos de obrigações perante o coletivo”.
Viver à base de comprimidos
Voltando aos gráficos dos Eurobarómetros, desde 1985 que os portugueses respondem à pergunta: “No geral, está muito satisfeito, razoavelmente satisfeito, não muito satisfeito ou nada satisfeito com a vida que leva?”
Os muitos satisfeitos foram sempre poucos, na casa dos 5%, tirando uma percentagem recorde de 15% em 1995. Mas a regra era haver mais satisfeitos do que insatisfeitos, tendência que só se inverte em 2013, quando apenas 31% dos portugueses inquiridos se diziam razoavelmente satisfeitos com a sua vida – um mínimo histórico. Os insatisfeitos subiram para os 43%.
Desde então parece haver melhorias no estado de espírito: no último inquérito com esta questão, em 2017, houve mesmo um recorde, com 66% dos inquiridos a afirmarem-se razoavelmente satisfeitos. Estará tudo assim tão bem?
Ainda nas análises pós-crise, uma atualização do estudo epidemiológico sobre a saúde mental em Portugal, no âmbito do projeto Crisis Impact, concluiu que a incidência de perturbações psiquiátricas passou de cerca de um quinto da população em 2008 (19,8%) para perto de um terço em 2015 (31,2%)
Júlio Machado Vaz faz a mesma leitura, notando um aumento dos casos de ansiedade e depressão em consulta. E se a crise contribuiu para deteriorar a saúde e bem-estar mental dos portugueses, o psiquiatra acredita que há mudanças mais profundas no estilo de vida que estão a ter consequências na qualidade de vida, do stresse à relação obsessiva com a tecnologia. “De uma forma simplista, nunca vi tanta gente a funcionar a pastilhas como hoje em dia. Perguntamos: ‘Está a fazer alguma medicação?’ A pessoa diz que não, mas daí a um bocado está a dizer que toma alguma coisa para dormir ou para se acalmar. Já nem o consideram medicação, é qualquer coisa que não passa pela cabeça deixar porque, sem aquilo, não se funciona”.
Portugal tem um dos maiores consumos de ansiolíticos a nível europeu. Em 2018, o número de embalagens baixou mas foram vendidas 10 475 832 embalagens de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos. E a venda de antidepressivos tem estado a aumentar. “É um quadro complicado e temos de dar a mão à palmatória quando tendemos a medicar a tristeza quando o que tem de ser tratado é a depressão. Há uma baixa tolerância à frustração, à tristeza, a tudo o que seja desagradável. Temos a mão fácil para prescrever e, ao mesmo tempo, as pessoas também vêm à espera da pastilha milagrosa que lhes devolva o bem-estar”.
As mudanças nas relações de intimidade, com conflitos exacerbados por uma relação impulsiva com a tecnologia, são outra tendência visível no consultório. “Neste momento estou soterrado em telemóveis que me são postos à frente para eu ler o que se encontrou no telefone do parceiro ou parceira ou ver fotografias. E há um fenómeno curioso em termos psicológicos: algumas destas pessoas, e lá está de novo o imediatismo, dizem- -me: ‘Seria incapaz de abrir uma carta que não fosse para mim, mas estar ele ou ela no banho e saltar uma mensagem no telemóvel, não resisto’”. Pode dizer- -se que estamos mais desconfiados? Júlio Machado Vaz vai mais longe: “Vivemos numa sociedade completamente paranoica. Oiço pessoas que me dizem: ‘Não resisti e fui ver as mensagens do telemóvel do meu companheiro ou da minha companheira e não há nenhuma mensagem, é porque apagou tudo’. A primeira vez que ouvi isto fiquei estarrecido. Se não é o velho preso por ter cão e por não ter, anda perto. Basta uma pessoa apagar mensagens para ser motivo de desconfiança”. E os extremos da desconfiança e da paranoia, aliados ao potencial da tecnologia, são perigosos, avisa, lembrando o caso recente da mulher que se suicidou depois de os colegas terem tido acesso a vídeos íntimos gravados com ex-companheiros. “Os ajustes de contas passam a ter outra dimensão. São situações que seriam impensáveis, e aí entra mais uma vez o imediatismo. Basta um clique. De repente estamos furiosos, tristes ou humilhados e aquilo sai”.
Sexo? Sim, dizem os mais velhos. menos, pensam os mais novos
No campo da intimidade, Júlio Machado Vaz nota outras mudanças de comportamento que começam a emergir com mais frequência em consulta. A perspetiva das gerações mais novas em relação ao sexo, que tem sido objeto de diferentes análises nos últimos meses, são uma delas. Vários estudos têm apontado que a “geração millennial” tem menos relações sexuais e menos parceiros. Uma sondagem feita no ano passado no Reino Unido pela ONG Relate revelou que 25% dos casais na casa dos 30 anos fazem sexo menos de dez vezes por ano. Júlio Machado Vaz sublinha que o stresse e a falta de tempo têm sido os fatores mais apontados, mas não serão os únicos. “Vivem a uma velocidade que torna tudo muito difícil. Noutro dia li um artigo que dizia ‘agora temos de programar as espontaneidade’. É o que oiço no dia-a-dia. ‘Sabemos que o sexo é ao sábado à noite porque domingo conseguimos dormir mais um bocadinho, nos outros dias é complicado’. Mas não é a única razão. Nos mais novos já encontro aquilo que vem descrito nos trabalhos americanos e ingleses, que é a malta dizer que curte muito mais a tecnologia e o que pode fazer com ela do que o sexo”, diz o psiquiatra. “Tenho 69 anos. Se, quando tinha 20 anos, dissessem à minha geração que há coisas que nos dão mais gozo do que o sexo – que, aliás, nós não tínhamos mas fantasiávamos –, a malta diria: ‘Mais prazer do que o sexo? Quem é este maluco?’ Mas hoje oiço gente que me diz: ‘Estou muito melhor calmamente a navegar na net ou a ver pornografia’. E há também um recuo perante o compromisso. No Japão, até há agências que alugam um namorado ou namorada para levar aos pais que não perderam a esperança de ter netinhos. Outra questão, que é o medo: com todos os relatos de abusos sexuais e violência, sobretudo as mulheres manifestam mais o medo de se envolver”.
Em contrapartida, as gerações mais velhas deixaram de se ver como “assexuadas”, diz o psiquiatra, contestando que por vezes continue a ser transmitida a ideia errada de que só os jovens têm comportamentos de risco quando tanto a infeção por VIH como as doenças sexualmente transmissíveis têm afetado mais a faixa etária acima dos 50. “Os mais velhos eram vistos como assexuados e hoje tenho pessoas a divorciarem-se com 70 anos porque se apaixonaram e querem ter ainda uns anos de felicidade”. Ao mesmo tempo mantêm-se outras formas de discriminação em função da idade, com o aparecimento de uma nova forma de analfabetismo, tecnológico, que agrava nalguns casos o fosso entre gerações. “Antigamente, a experiência de vida dos mais velhos era valorizada, e hoje não é. É muito raro alguém dizer: ‘Fui aconselhar-me com o meu avô’. Os velhos são considerados fora de moda”.
A sina de ser desenrascado
Vidas cada vez mais aceleradas, stresse, burnout, ligados, digital… O que marca hoje o comportamento coletivo dos portugueses não será muito diferente do que acontece um pouco por todo o mundo ocidental. “Vários autores sublinham que, decorrente da relação com a tecnologia, temos um pensamento mais superficial, mais entrecortado”, exemplifica Júlio Machado Vaz. “Mesmo o discurso desta sociedade, a maior parte das vezes não é para que as pessoas pensem como diminuir o stresse, mas sim métodos para gerir o stresse. Não é para diminuir, é para aguentar. Em primeiro lugar, devíamos tentar diminuir”. Exemplos de como o controlo é reduzido não faltam. “Uma pessoa que me diz que faz a viagem Porto/Lisboa de carro e para a meio da viagem numa bomba de gasolina não para meter gasolina ou beber café, mas para ver emails. Ao menos, parou. Chega à consulta e pergunta: ‘Eram duas horas e meia de viagem, não estava a espera de nada urgente, porque é que parei?’ A questão é muito esta, estamos num ponto em que não agimos, reagimos. Noto isto em mim. Estou a trabalhar ao computador e de dez em dez minutos vou ao telemóvel ver se tenho emails. E isto não tem a ver com crise nenhuma financeira. Já acontecia antes e acontece cada vez mais. Temos o telefone desligado e, quando ligamos, temos logo pessoas a perguntar o que aconteceu. Na minha casa em Cantelães, não tenho rede. Há amigos meus que só falta fazerem crises de pânico”.
Se estas dificilmente serão marcas exclusivas portuguesas, há alguma ironia: ser desenrascado, uma das imagens de marca lusas, pode não ser um bom auxílio face a tempos “estranhos”, diz o psiquiatra. “Somos mesmo desenrascados. Estive emigrado e isso vê-se, desde logo na facilidade que temos para as línguas. Mas o desenrascar, em certos aspetos, desmotiva as pessoas de pensar no que podem fazer para mudar”.