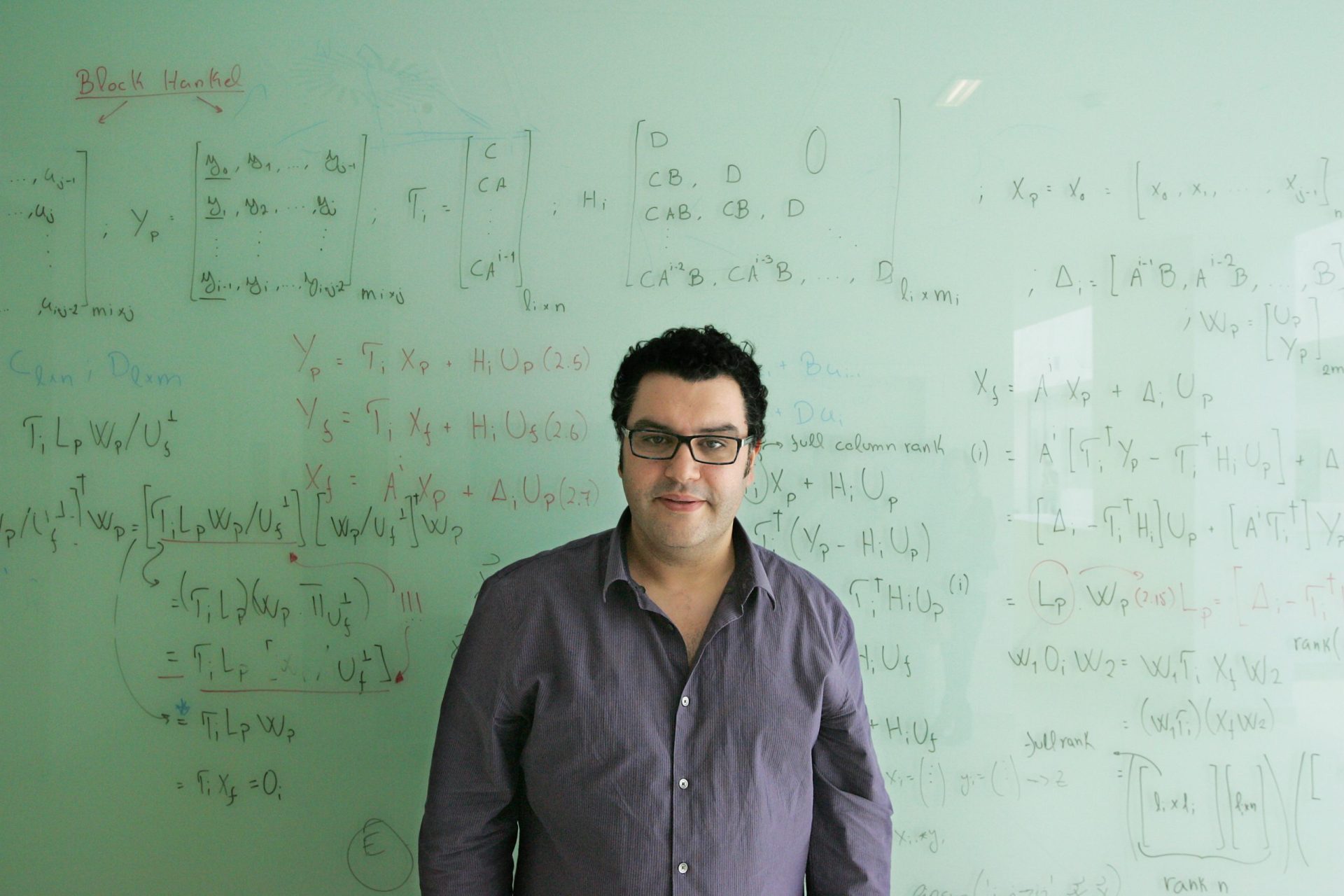Encontrar as respostas certas é muitas vezes uma questão de sorte, mas também de persistência e de nunca parar de fazer perguntas. Rui Costa, que ontem recebeu em Amesterdão a medalha Ariëns Kappers, lembra que há dez anos, quando se decidiu a estudar os circuitos do movimento no cérebro – que agora lhe valeram um dos prémios mais prestigiantes das neurociências a nível internacional – o tiro foi certeiro. Focaram-se nos chamados neurónios da dopamina, um pequeno grupo de células nervosas responsáveis por produzir o químico associado à sensação de recompensa e bem-estar que se tem por exemplo quando se come um chocolate. “Sabíamos que eram os primeiros neurónios a morrer nos doentes com Parkinson”, contou ao i o investigador.
Entre os milhões de neurónios que compõem o cérebro, tratava-se de isolar e registar a atividade de cerca de 2000 células, isto nos ratinhos que usaram como modelos animais.
Conseguiram apanhar algumas e foi essa precisão que valeu a pena: Rui Costa e a equipa viriam a descobrir que estes neurónios, antes de qualquer movimento, ficavam mais ativos, o que os deixou no bom caminho para perceber melhor como é que o cérebro comanda as ações físicas, pistas que já começam a ser usadas em investigação clínica na estimulação cerebral de pessoas com doenças neurodegerenativas como Parkinson, explica o investigador.
Descobriram que havia duas vias cerebrais ligadas ao movimento ativadas pela dopamina. Pensava-se que uma seria como que o acelerador e outra o travão, mas afinal perceberam que as duas estão ativas e são fundamentais na forma como iniciamos qualquer tarefa voluntária.
Outro avanço nos últimos anos foi perceber que as sequências de movimento, com a repetição, são arquivadas num único circuito do cérebro e não em vários, como que uma forma de economizar espaço na memória. Por exemplo, quando alguém pratica muito uma escala num piano, em vez de o cérebro organizar o movimento tecla a tecla, regista a sequência. E se isto funciona assim no movimento voluntário, é provável que seja o modus operandi do cérebro noutras áreas.
“É uma ideia que nos pode por exemplo levar a pensar em novas estratégias para lidar com dificuldades de aprendizagem”, explica Rui Costa, cuja investigação em torno dos mecanismos essenciais nos gânglios de base do cérebro, que são responsáveis pelo controlo da iniciação e sequências de movimentos voluntários, chamou agora a atenção da Instituto de Neurociências da Holanda, que fala de um “trabalho seminal”.
Além da doença de Parkinson, a ciência fundamental que tem desenvolvido pode vir a ser útil na doença de Huntington ou síndrome de Tourette, tudo condições em que os doentes têm dificuldade em controlar os movimentos.
Muito por descobrir
Se nos últimos dez anos os avanços das neurociências foram significativos, os próximos dez anos serão melhores, espera o investigador, que dirige o programa de investigação da Fundação Champalimaud.
E como estamos no conhecimento do cérebro, órgão durante décadas considerado o grande enigma do corpo humano? “Melhor, mas ainda há muito por descobrir. É como se já tivéssemos percorrido todas as estradas e mares e completado a cartografia, mas falta agora perceber como tudo se interliga, como funcionam as diferentes regiões, como processamos a consciência e as memórias”.
Rui Costa admite que conhecer de perto o centro de comando do corpo lhe trouxe algumas lições importantes. “Saber que as memórias são um processo individual que tem lugar no cérebro levou-me a ter outra forma de encarar uma conversa em que as pessoas têm diferentes versões do mesmo acontecimento”, exemplifica.
Outra aprendizagem que tem procurado interiorizar – embora ainda esteja “em treino”, sorri – são os limites do cérebro. “Quando uma pessoa tem uma dor no joelho, pára, tenta perceber o que se passa, com o cérebro continua sem ser assim. Não cabe na cabeça de nenhum atleta ir corre 40 km antes de uma prova importante mas o que nós vemos é que quando temos um acontecimento importante às vezes nem dormimos e andamos atarefados até ao último momento, quando o sono é essencial para o cérebro repor os parâmetros fisiológicos. Temos de começar a encarar o cérebro da mesma forma que encaramos o resto do corpo”. Mesmo quando o cérebro não dói?, perguntamos. “Mas dói: temos sinais de ansiedade, cansaço e nervosismo que é preciso valorizar”.
Rui Costa admite que é mais por aqui que poderemos vir a tirar melhor rendimento das nossas capacidades cognitivas do que propriamente por haver capacidades cerebrais por desbloquear no ser humano. “Que possamos, num dado momento, só usar 10% do nosso cérebro, pode fazer sentido, mas dizer que só usamos sempre 10% é um mito. Há atividades em que praticamente todo o cérebro é ativado”.
O peso da responsabilidade e um aviso
Aos 44 anos, Rui Costa admite que receber a medalha Ariëns Kappers é uma honra mas também traz mais responsabilidade. “Nunca imaginei, geralmente é um prémio de carreira que tem sido ganho por investigadores com mais experiência do que eu, alguns prémios Nobel”. O neurocientista português António Damásio, por exemplo, recebeu o galardão em 1999. Ao ombro de gigantes, o objetivo de Rui Costa é continuar a fazer perguntas e a procurar respostas, curiosidade que não cessa mesmo agora que tem outras responsabilidades em termos de coordenação de equipas.
E a ciência em Portugal, já superou os cortes dos últimos anos? Rui Costa é perentório: “Ainda não tivemos o pós-troika”. Para o investigador, os novos contratos de investigação da Fundação para a Ciência Tecnologia poderão dar mais alguma estabilidade a alguns cientistas até aqui num regime de bolsas, mas sem um maior orçamento global vão implicar uma diminuição dos recursos humanos alocados à investigação. Aumentar o financiamento, público e privado, mas também tornar a investigação uma parte importante da atividade de todos os mistérios são algumas das suas visões para a política científica do país. “Não tem de ser uma competência de um ministério da Ciência, mas de todos os ministérios, da Saúde à Educação”, defende.
Sem maior compromisso, o investigador diz que Portugal, se se deixar ir à boleia só dos resultados económicos em frentes como o turismo, arrisca tornar-se um “país de serviços”. “Mesmo em termos de competição com o exterior, não é assim que criamos riqueza e valor, é a desenvolver o espírito crítico das gerações mais novas e a qualificar o capital humano”.