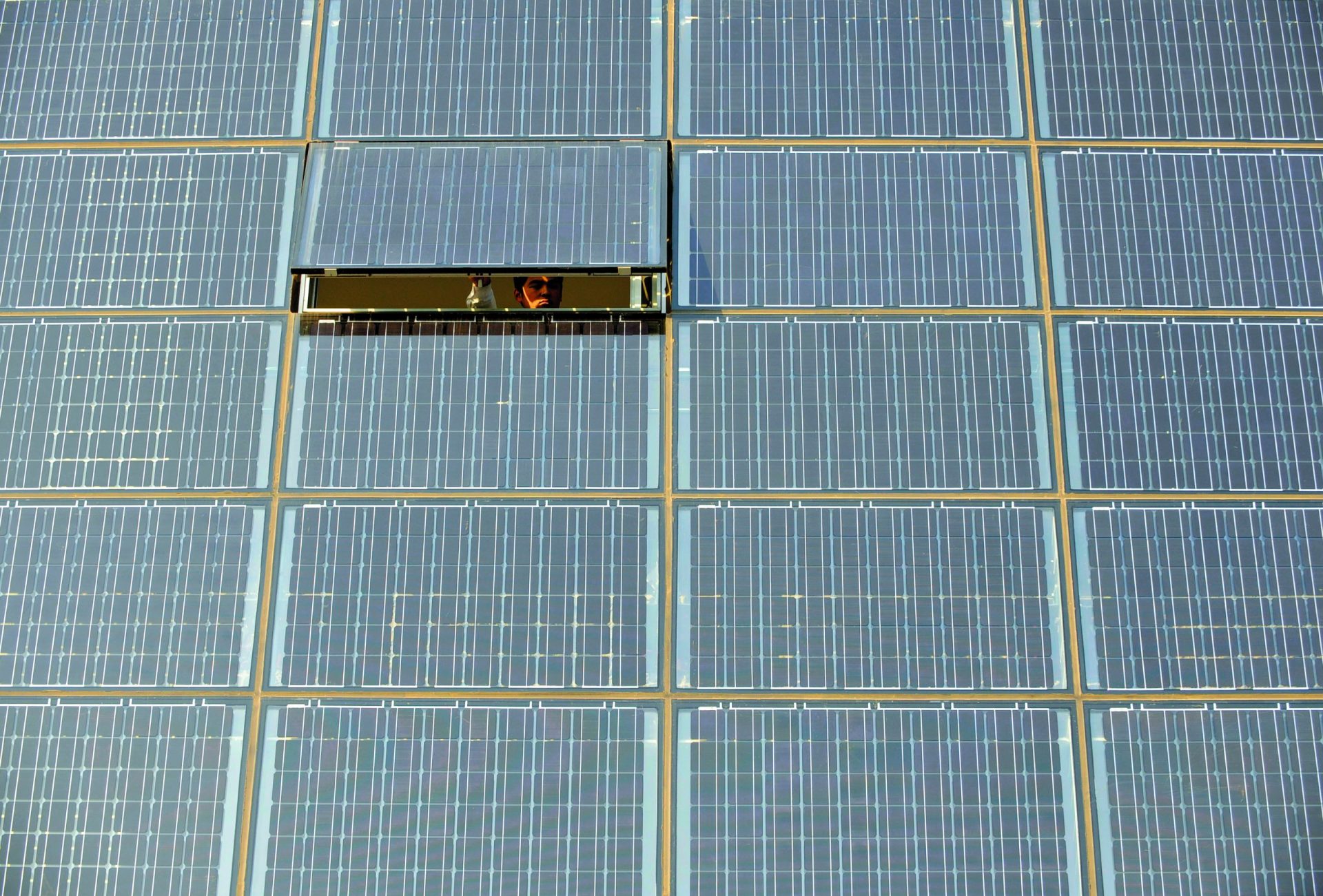“Exilámos os deuses e fomos/ Exilados de nossa inteireza”. Os versos são de Sophia, o diagnóstico é geral. O pequenote, gigante na ingratidão, teve uma sorte fabulosa com a conta que levou da mesa dos poetas. Basta um olhar por cima do ombro e dá a sensação que pagaram por todos os que contornaram a vida ficando aquém de empregar nela um sentido ardoroso, fosse nas palavras, fosse nas suas causas e efeitos. O país, este pedaço de terra que o mar não quis, sempre teve a maior dificuldade em soletrar o amor, as categorias radicais, que nos são confiadas na adolescência, voltadas ao absoluto, e que passam por insolências, traídas ou negadas três vezes pela maioria antes que o galo cante duas vezes e se tornem adultos. Cabe aos poetas continuar a adolescência, afiná-la, manter a linha da espera guerrilheira, segurar o tumulto nas praças… Não houve outro que tão portuguesmente como Alexandre O’Neill tenha mantido tão vivo esse sentido.
Depois do seu tropeço de ternura, alguém lembrava como por aqueles dias todos os poetas tropeçavam por aí disto e daquilo, mas tão poucos captaram aquela “curva tão terna e lancinante”, tão poucos recordam a vertigem e a fúria daquele que ainda encara os momentos decisivos “como um adolescente”. E o poema que primeiro lhe trouxe certa notoriedade no início dos anos 50 nasceu de uma dessas causas revoltantes para toda uma vida. É um facto que, depois de lermos, contada pelo próprio poeta, a história por trás do poema, não nos é possível ser tão cínicos que não transpareça como este nasce “da força do nojo e do desespero combinados”, e que não consola. Toda a sua beleza é sufoco, e qualquer um de nós consegue pôr-se na pele do jovem impedido de “ir atrás da francesa”.
“Era uma época em que tudo cheirava e sabia a ranço, em que o amor era vigiado e mal tolerado, em que um jovem não era senhor dos seus passos (errados ou certos, não interessa).” Isto nos conta O’Neill quando resolveu dar um nó à lenda urbana que dizia respeito à sua paixão por Nora Mitrani, que estivera em Portugal para fazer uma conferência sobre surrealismo e que, já em Paris, numa das cartas lhe disse: “Vens, ficas cá e depois se vê”. Dos que, entre nós, não abalámos de seguida, não há nada dizer. Alguns, felizmente, tiveram Paris e a sua francesa, mas O’Neill faz parte dos verdadeiramente danados, os que tiveram o azar de que alguém na família tenha ido ao ponto de meter uma cunha na polícia política para que lhe fosse denegado o passaporte. Esta história importa, menos pelo que há de biográfico em “Um Adeus Português”, circunstâncias que, como frisa O’Neill, só a ele dizem respeito, e mais pela clareza exemplar de um poema que ainda não nos consola de não termos ido a Paris, não termos caído nos braços da francesa, de ela ter morrido e nunca mais a termos visto; o poema que não consola e, no entanto, vive de um genial ressentimento, e alcança essa “felicidade de expressão vivamente alimentada por uma raiva e um amor desmesurados”.
O’Neill sabe muito bem que “um poema não é feito de nojos, desesperos e derrames sentimentais”. Tem a lucidez de ter feito a sua entrada de rompante, atirando ao chão a porta da poesia, e fê-lo como quem vinga a sua adolescência. “O teu nome/ até os objectos o sabem/ quando nos pedem um uso diferente/ os objectos tão gastos tão cansados/ da circulação absurda a que os obrigam// As coisas também gritam por ti// E as cidades as cidades que morreram/ na mesma curva exemplar do tempo/ estão hoje em ti são hoje o teu nome” – lê-se no poema “Pela voz contrafeita da poesia”. E sublinhe-se esta “voz contrafeita”, esta lucidez rancorosa que não deixou que o azedume lhe arrancasse a intenção de um amante. Pode dizer-se que o resto, tudo o que nos parece resultar num brinquedo, a risada vencida, o exercício mordaz, irónico, a destreza de um cerebral humorista, tudo o que parece brinquedo guarda algum veneno. “Na minha poesia desarticulo, desmonto a conversa comum e depois remonto-a de outra forma, o que a torna grotesca, satírica. Preocupo-me mais com a maneira de dizer do que com a maneira de ver ou de imaginar”, disse O’Neill numa entrevista no ano da revolução. Era ela assim um desses poetas que em vez de aparar o caule, preferem pôr mais espinhos na sua rosa.
Hoje, morto há mais de três décadas, O’Neill é mal lido. Ainda que lhe tenha saído a sorte grande, tendo-se ocupado do seu caso uma biógrafa exemplar – Maria Antónia Oliveira, a quem não podem ser poupados elogios pelo empenho e talento em fazer justiça à sua genialidade e ao estofo da sua obra –, há muito caiu ele mesmo no goto dos mundanos, esses que usam a cultura como se se tratasse de água de colónia, e que há muito arrolaram O’Neill entre as suas conveniências de citadores. Como nota a biógrafa no posfácio de “Uma Coisa em Forma de Assim” (Assírio & Alvim) – volume que reúne crónicas escolhidas de entre as muitas que o poeta publicou na imprensa –, a propósito do sucesso de Borges, o poeta tinha avisado para esse perigo da vulgarização de um escritor: “O que é sempre de temer é que os mundanos troquem entre si boutades borgeanas, como já estão a trocar boutades pessoanas e, assim, infantilizem tudo, como é próprio dos mundanos”. Maria Antónia Oliveira adianta que “de tão citado, referido e invocado, parece ter chegado a vez das boutades o’neilliananas”.
A par dos mundanos há a crítica leviana e imbecil, especialmente a dos poetas-críticos que, chegados depois, do passado tudo desfocam a partir de um presente sem graduação. A adolescência sobrevive a custo hoje ameaçada, de um lado, pelos derrames sentimentais que se atiram à página nessa incontinência que passa por versos, mas não é afinal senão uma fase que cabe depois na antologia da vergonha íntima de cada um, e do outro lado, pelos poetas e críticos convertidos ao asco, poetas a quem arrepia a pele qualquer imagem menos vigiada, menos prudente. Gente no fundo incapaz de “Uma palavra, um gemido obsceno,/ Uma noite sem nenhuma saída,/ Um coração que mal pudesse/ Defender-se da morte,/ Uma vírgula trémula de medo/ Num requerimento azul, azul,/ Uma noite passada num bordel/ Parecido com a vida, resumindo/ Brutalmente a vida!”
Para os outros, os que não se tornaram adultos por mero pudor, não traíram a vida desculpando-se com questões de delicadeza, a Assírio & Alvim acaba de lançar um volume de 744 páginas onde se reunem as “Poesias Completas & Dispersos”. Esta edição conta com “sete inéditos localizados em espólios e ainda 42 textos dispersos em jornais, revistas, discos e catálogos de arte”, mas não há nenhuma novidade que nos venha dizer que agora é que são horas. A poesia de Alexandre O’Neill é menos a hora que o bordão, é menos uma forma de aprender os modos do que deitá-los todos fora, e lembrar que não nos vingamos de não ter ido atrás da francesa, deixando o amor como uma trouxa à porta de uma portuguesa, dedicando-lhe um poema esforçado mas miserável. Mais vale um poema adolescente, em que “Talvez lances de amor um foguetão sincero/ Para algum coração a milhões de anos-dor/ Ou desesperado te resolvas por um mero/ Tiro na boca, mas de alcance maior…”