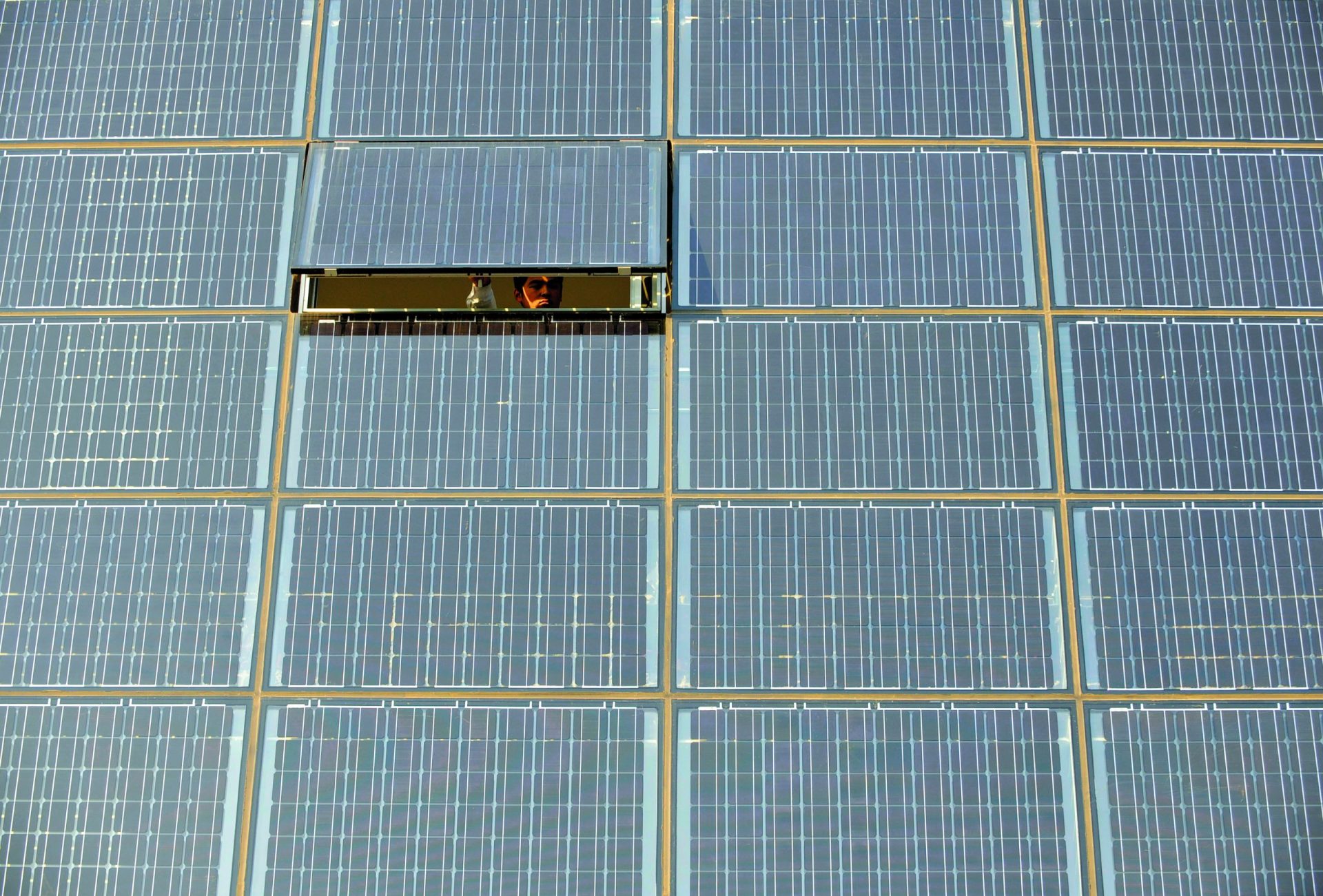“Quando os adultos dormem e as luzes se apagam nas janelas, os meninos levantam-se e vão cumprimentar as estrelas”, dizia José Afonso sobre “Canção de Embalar”, tema do álbum “Cantares do Andarilho” (1968). Iam cumprimentar a estrela d’alva, a primeira estrela a brilhar com a chegada da noite, uma estrela que na realidade não é: é antes o planeta Vénus, o corpo celeste mais brilhante, depois do sol e da lua. José Afonso foi o agitador, o combatente da palavra, o intrépido que dizia de si próprio ser um homem comum, mas que aos olhos dos outros foi sempre um incomum gigante. Mas ele, José Afonso, o Zeca, nunca quis esse comprimento extra de pernas – só queria ter o seu “tamanho real”, como disse numa entrevista em 1972. Queria apenas ser o cantor, o compositor, o artista. Mais do que o símbolo, mas maior que o pensamento. Queria ser o homem com uma palavra a dizer sobre o seu país. Mas sem nunca deixar de ser também o homem que ajudava uma mãe a adormecer os seus filhos.
José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos saiu, ainda criança, da Aveiro que o viu nascer, a 2 de agosto de 1929, filho de um juiz e de uma professora primária. A eles deve, de resto, uma infância andarilha. Com apenas três anos foi para Angola, onde o pai foi colocado como delegado do Procurador da República. Cinco anos mais tarde regressa a Aveiro, que no entanto se revela apenas ponto de passagem para Moçambique, nomeadamente Lourenço Marques, hoje Maputo. No regresso a Portugal, um ano depois, instala-se em Belmonte para viver com um tio salazarista, presidente de câmara, que lhe terá dado a descobrir a música. “Não procuro iludir a minha origem burguesa, a minha experiência de estudante, embora tenha sido relativamente larga, devida a fatores mais ou menos acidentais, como a possibilidade de estabelecer contacto com pessoas situadas fora do âmbito universitário”, disse ao jornal “A Capital”, em 1970.
Em 1940 instalou-se em Coimbra, para estudar no Liceu D. João III, onde descobriu a canção enquanto bicho-cantor, estatuto da comissão de praxe da universidade da cidade dos estudantes, que lhe permitia cantar serenatas sem sofrer represálias, apesar de ser ainda aluno de liceu. Terminou o curso dos liceus mais tarde, devido a dois chumbos. Não lhe faltava a inteligência, mas sobravam-lhe as distrações: viajava frequentemente com o Orfeão Académico de Coimbra e com a Tuna Académica, além de jogar futebol com a Associação Académica.
É já com vinte anos que se inscreve no curso de Ciências Histórico-Filosóficas, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – apenas em 1963 termina o curso, dez anos depois de lançar o seu primeiro EP, “Coimbra”, gravado com o Emissor Regional de Coimbra. As primeiras gravações, na boa tradição coimbrã, assinou-as como Dr. José Afonso.
Pelo meio veio a vida. O primeiro filho, fruto de um casamento contra a vontade da família; o serviço militar obrigatório, cumprido em Mafra; o segundo filho; a crise financeira e a conjugal, como que de mãos dadas. Quando finalmente consegue concluir a licenciatura começa a dar aulas, recuperando os hábitos andarilhos da sua infância. Mas sem nunca perder de vista a canção. “Gostei muito de ensinar, mas o ensino não me ofereceu a diversidade de vivências que retiro da minha atividade de cantor. Estou indeciso quanto ao que, efetivamente, prefiro fazer. No fundo, não me desagrada exercer, alternadamente, as duas profissões: dois anos a ensinar, um ano a cantar…”, disse, na mesma entrevista à “Capital”. Regressou a Moçambique, já com a nova mulher, Zélia, para lecionar e procurar a estabilidade financeira que não conseguia atingir em Portugal.
Antes de partir, porém, havia já lançado “Os Vampiros” e “Menino do Bairro Negro, temas que integravam o disco “Baladas de Coimbra”, que acabou proibido pela censura. Foi, de resto, uma crescente consciência da vida cinzenta que a ditadura impunha ao país, que o fez progressivamente abandonar a canção de Coimbra, adotando uma voz crítica, movida pela sua extrema inteligência que lhe permitiu tantas e tantas vezes fintar o lápis azul.
Crítico do colonialismo – o que também lhe causou problemas com a PIDE – ao regressar a Portugal em 1967, começa a lecionar no Liceu de Setúbal. Sol de pouca dura, pois o regime de Salazar interditou-o da função de professor. Sinal de pouca inteligência: passava assim a dedicar-se em exclusivo à sua voz. Como cantor, compositor, letrista, crítico do regime, homem sem medo. Através da editora Orfeu, lançou alguns dos mais importantes álbuns da canção da liberdade, do qual o momento mais marcante será sem dúvida “Cantigas de Maio”, de 1971. É daqui que sai “Grândola, Vila Morena”, que interpreta pela primeira vez num concerto na Galiza, e que, graças a Otelo Saraiva de Carvalho – que mais tarde o músico apoiou nas presidenciais de 1976 -, acabou como segunda senha para a Revolução de 25 de abril de 1974. Nascia aí o símbolo que nunca quis ser, mas que será sempre. “Não me arrependo de nada do que fiz. Mais: eu sou aquilo que fiz. Embora com reservas acreditava o suficiente no que estava a fazer, e isso é que fica. Quando as pessoas param há como que um pacto implícito com o inimigo, tanto no campo político, como no campo estético e cultural. E, por vezes, o inimigo somos nós próprios, a nossa própria consciência e os álibis de que nos servimos para justificar a modorra e o abandono dos campos de luta.”
Dois anos antes de morrer, disse numa entrevista ao “Se7e”: “Continuo disponível para novas batalhas e não estou disposto a desistir.” Na madrugada de 23 de fevereiro de 1987, morreu no Hospital de Setúbal, vítima de esclerose lateral amiotrófica, doença que lhe foi diagnosticada em 1982.