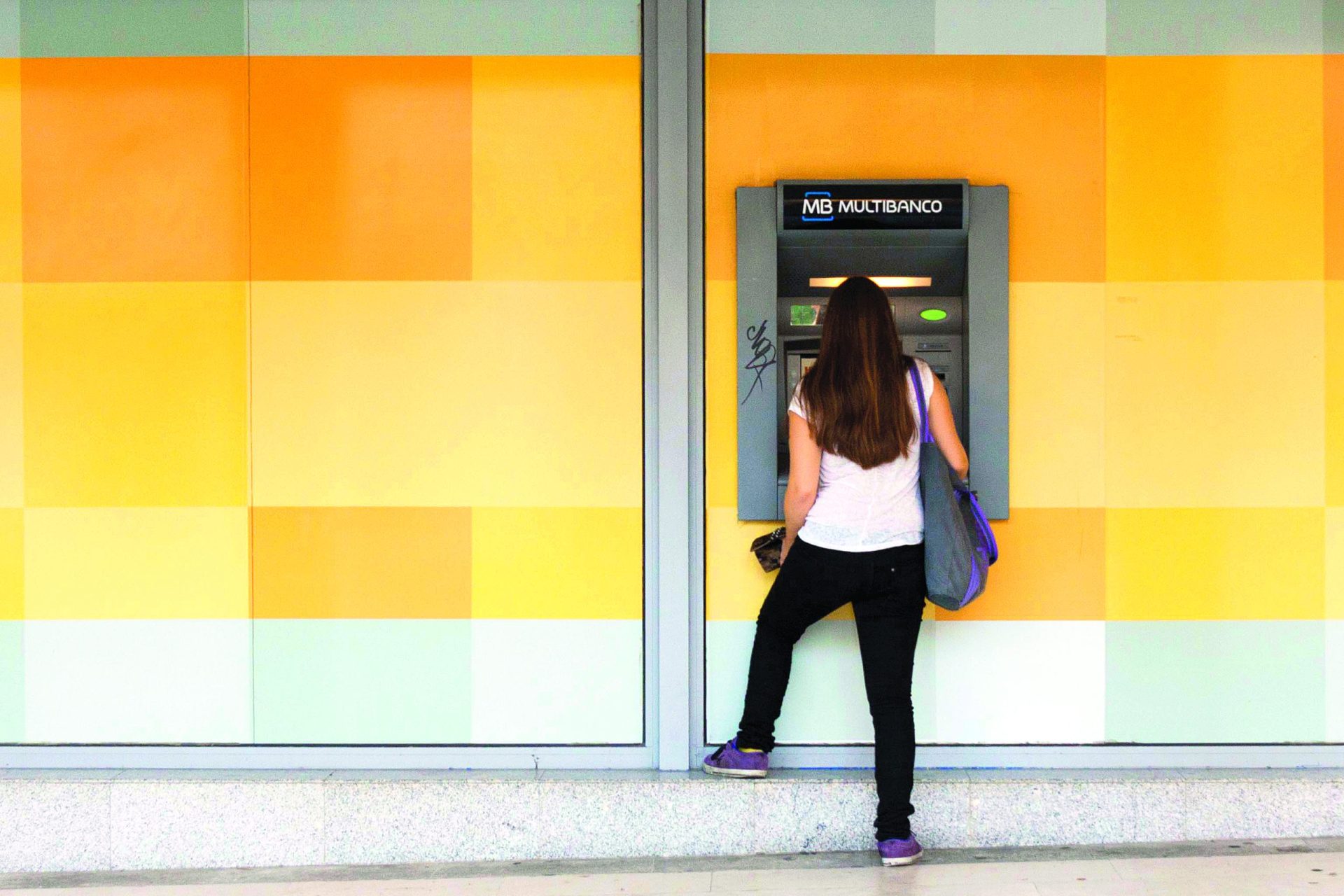Steve McCurry tinha 28 anos quando viajou pela primeira vez para a Índia, em 1978. Consigo levava apenas o bilhete de ida, um saco com roupa e outro com rolos de fotografia – sim, na altura em que o digital era ainda coisa de ficção científica. Nunca mais deixou de visitar o país. O resultado deste amor de um homem por um país resultou no livro “India” (Phaidon), uma compilação de 150 fotografias tiradas entre 1983 e 2010, das quais 20 estão até dia 9 de junho em exposição na Barbado Gallery, Lisboa.
Apesar de ter uma carreira com mais de 40 anos, é a primeira vez que expõe a título individual em Portugal. Consegue encontrar uma explicação?
Participei numa exposição coletiva, penso que em 2002, e dei um workshop. Mas sim, é a primeira vez que mostro o meu trabalho sozinho. É curioso, de facto. Portugal é um país culturalmente muito interessante e, além disso, tem pessoas extraordinárias, boa comida, paisagens lindas. Mas por vezes… Vivi na Suécia três meses, em 1969, e não voltei lá até há dois anos. Isto apesar de ter passado muito tempo na Noruega e na Finlândia. Também sou meio escocês, meio irlandês e só fui à Escócia duas vezes e à Irlanda nem isso. É interessante, a vida vai passando de forma aleatória. Já estive em lugares tão obscuros e não estive noutros.
Ainda agora regressou ao Afeganistão, país onde começou a sua carreira de fotojornalista, durante a invasão soviética.
Sim, estive três semanas, em trabalho. É um país muito stressante, mas a situação agora é de grande insegurança, há carros que explodem, raptos, ataques suicidas… Logo de seguida fui a Quioto.
É o oposto do Afeganistão?
Sim, oJapão o país mais organizado e limpo que conheço, as pessoas são educadas, é seguro. E Quioto é uma das mais bonitas e charmosas cidades para quem gosta de arte e beleza. Tem tantos templos, mais de dois mil, que convida à contemplação.
Precisa dessa contemplação como forma de contraste de toda a correria associada às viagens que continua a fazer?
Para mim viajar é sempre uma aventura, mas ao mesmo tempo é relaxante, acalma-me. Exceto destinos com o Afeganistão, claro. Mas de resto eu tenho naturalmente essa característica contemplativa, gosto de andar pelos sítios, apreciá-los, conhecê-los.
Sempre com a máquina fotográfica?
Não há uma regra, mas a maior parte das vezes saio com a máquina. Exceto se for jantar com amigos [risos] Mas mesmo que não tenha a máquina tenho o telefone.
O telefone já substitui a máquina?
Pode substituir. No passado, não, mas hoje em dia a qualidade já é tão grande que permite fazer boas fotografias.
Rendeu-se ao digital?
Sim, já só trabalho em digital. E não tenho saudades do analógico. O digital permite-me fotografar com uma luz muito mais baixa.
Fotografa há mais de 40 anos, 35 dos quais passados em viagem. O mundo mudou muito?
Muito. Quando comecei a viajar mais, em 1978, o mundo era diferente. E as coisas mudaram tão depressa. Constantemente regresso a alguns locais e sinto que há mudanças, as pessoas estão muito mais conscientes do resto do mundo. E o mundo está a tornar-se mais homogéneo, as pessoas estão todas a começar a parecer iguais.
O que não é bom para um fotógrafo.
Pois… Sempre estive mais interessado na personalidade e individualidade de cada pessoa, na sua identidade cultural. O que gosto de ver são lugares que são únicos na sua personalidade.E pessoas.
Ainda consegue surpreender-se com o que vê, por exemplo, num país como a Índia que já visitou tantas vezes?
Sinto-me sempre surpreendido e maravilhado com a Índia, apesar de já ter perdido a conta às vezes que lá fui. Afinal estamos a falar de mais de mil milhões de pessoas. É um país infinitamente fascinante.
É o país mais fotogénico do mundo?
Não diria isso, cada país tem as suas qualidades. Mas claro que é uma das maiores culturas do mundo.
A “Rapariga Afegã”, fotografia da jovem, na altura com 12 anos, Sharbat Gula, que foi capa da “National Geographic” em 1985, é a considerada uma das imagens mais reconhecidas do mundo. De certa forma tornou-se um fardo?
Nunca a entendi como um fardo. Para ser honesto, nem pensei na foto. Apenas me senti satisfeito por apreciarem o meu trabalho.
Em 2002 voltou a encontrá-la?
Sim. E está tudo bem com ela agora, é uma mulher com mais de 40 anos.
É-lhe difícil manter o distanciamento em relação a algumas das pessoas que fotografa?
Não. Muitas das minhas fotos resultam de encontros extremamente breves por isso não nos tornamos amigos. São momentos, por exemplo, esta foto das duas jovens encostadas ao vidro, fotografei quando o táxi onde ia parou no semáforo. Só disparei duas vezes. Gosto dos momentos, mas momentos reais, não sou fã de compor as imagens, porque, para mim, o importante é a história, é poder mostrar ao mundo que há muitos mundos.
E para tal não existe plataforma melhor do que a “National Geographic”, revista com que tem colaborado desde 1997?
Pois, o jornalismo existe para nos ajudar a aprender sobre o mundo em que vivemos e para entendermos coisas como as mudanças climáticas, a situação na Síria, a sida, a crise dos refugiados, o mundo.
Falou do jornalismo e tem-se anunciado o fim do papel. Para um fotógrafo, é a mesma coisa ver a sua foto publicada num site ou vê-la no papel?
Não. O papel é mais permanente. Uma revista podemos guardar numa gaveta, esquecermo-nos dela e redescobrimo-la 40 anos depois. Sou da velha guarda, quero ver as coisas em papel. Se a eletricidade vai abaixo, o digital morre. No papel as coisas existem para sempre.