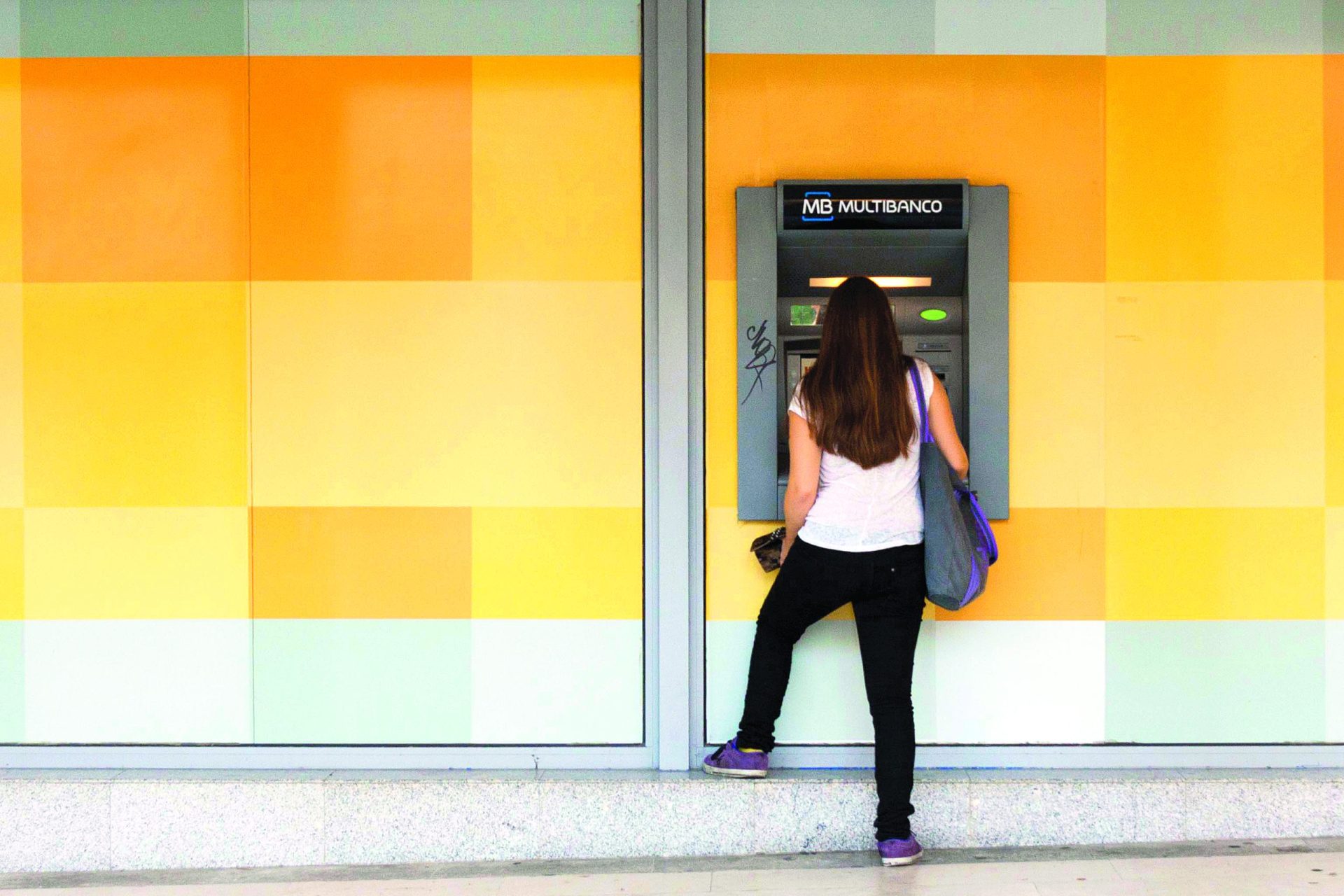A primeira marca da diferenciação de Silvina Ocampo talvez tenha sido em relação à família. Nascida no início do século vinte no seio de uma família aristocrática da oligarquia argentina, vivia numa mansão perto da cidade de Buenos Aires, na Villa Ocampo, com um jardim que chegava ao rio da Prata. Encurralada num pedantismo asfixiante e educada por tutores para não ter que sair de casa, a sua paixão, no entanto, ia para os subalternos e para os marginais. Não trocava as conversas com as empregadas domésticas pelas brincadeiras inúteis das primas, “umas pavoas”, como lhes chamava. Os pais, preocupados em educar as filhas mais velhas, negligenciavam a mais nova, ela aproveitou para tomar o lugar do fantasma.
Silvina aprendeu cedo a arte da evasão, da camuflagem. Entre as flores e os arbustos, observava os mendigos, os animais e os trabalhadores. A mais nova das irmãs ia aproveitar ter vindo por última, poderia escapar-se, entrar nos tempos inteiros da infância. Ela que dizia ser a “e etcetara” da família, podia esgueirar-se como uma mosca pela fresta da janela. Todos os pequenos seres que vivem na fronteira da monstruosidade a cativam. Os acanhados bichos que se escapam pelas gretas, que constroem armadilhas nos cantos mais sombrios, são seres que espelham os mistérios da infância, a sua disformidade e propensão à metamorfose. Também ela procuraria a sombra e a companhia dos desprotegidos. Trepava às árvores junto à vedação da quinta e ficava a ver os pobres, os que tinham a cor avermelhada da terra, que apesar de todas as marcas, lhe pareciam mais livres do que ela. Tinha o gosto lento da observação. Ia descobrindo que não são os olhos que veem, mas, que o meio que dá a ver, nos passa despercebido como a água aos peixes que nela nadam.
Recusava-se a participar na vida social, “Não sou sociável, sou íntima”, dizia. Todas as formalidades e cerimónias da sua classe a enjoavam, ao contrário da sua irmã Victória que nadava nessas águas como um peixe espada. Contudo, foi graças a Victória que conheceu Borges, de quem se tornou amiga intima, e Casares, com quem veio a casar. Os primeiros anos que viveram juntos eram de uma partilha intensa, Borges jantava quase diariamente em sua casa, e as conversas sobre literatura estendiam-se noite dentro. Nessa altura, quando organizaram as antologias de literatura fantástica, influenciaram-se mutuamente, sobretudo Borges e Casares, que chegaram a escrever livros a quatro mãos. Silvina já se encaminhava lentamente para um universo distante dos dois amigos, principalmente a partir do seu terceiro livro, “a fúria”, editado entre nós pela Antígona.
O primeiro livro que nos chegou foi “Os dias da noite”, editado pela Editora Snob, expõe desde as primeiras páginas o universo perturbador da escritora. Entramos no livro abruptamente, como o personagem do primeiro conto. Uma queda de avião, uma perda de consciência, uns olhos que espreitam. Nesta história acompanhamos os pensamentos do protagonista como uma criança perdida num mundo desconhecido. A incerteza de se tratar de sonho ou realidade, como uma nuvem que se forma lentamente e se desfaz num golpe de vento, deixando, de súbito, o céu onde se transmutava, um lugar bizarro, impossível. Saltamos da estranheza para um quotidiano ingénuo e vice-versa, onde o narrador se surpreende, se bifurca na sua percepção infantil, um mundo de espelhos tortos que nos levam a questionar o sentido, como uma narração que joga às escondidas. Ao chegar a noite, enquanto procura imaginar coisas que acalmem a angústia da selva, espanta-se de pensar na cidade que odeia, e põe-se a enumerar as coisas que detesta. Vamo-nos despenhando num mise en abîme, saltamos da selva para a infância, como se todas as coisas se espelhassem umas nas outras. “De que cor eram aqueles olhos? Da cor dos berlindes de vidro que escolhia quando era miúdo na loja de brinquedos.” – O conto “Homens animais trepadeiras” é exemplar na forma como nos introduz os temas do universo de Silvina. Os diferentes reinos; humano, animal e vegetal, surgem numa pertença porosa. O pensamento, o olhar e o odor. Três modos de invisibilidade, numa infinita possibilidade de passagem de um para o outro.
Os humanos são os que aprendem a ver, os que afrontam a opacidade do mundo. Silvina estudou pintura, percorreu os trilhos da arte onde ver é um trabalho crítico, onde a mão procura a consistência que o olho não tem. Atravessou tudo isso com uma vivacidade infantil. A cor para as crianças é mais do que uma impressão visual, habitam-na, invade-as por todos os lados, cheiram-na, ouvem-na. O amarelo que insiste no limão, nas ervas secas, no enxofre da terra, submerge-as. Van Gogh escrevia ao irmão: “esta luz só a posso chamar de um pálido ouro limão.” Silvina perdia-se nos jardins enquanto as irmãs se aborreciam nos salões, aprendia as metamorfoses, as mudanças de tudo o que a rodeava. “Dediquei quase toda a minha vida à pintura e ao desenho, a minha primeira infância, a minha adolescência.”
Outros escritores começaram pela pintura, Isidoro Blaisten, por exemplo, diz numa entrevista que a abandonou porque se perdia, mergulhava numa angústia onde não reconhecia os limites, como se tudo fosse possível, o reino de uma metamorfose constante. Enquanto na escrita tinha um alfabeto, um vocabulário, uma gramática. Um lugar onde segurar o espírito, onde pôr os pés sem se deixar afundar. Borges, no prefácio que escreveu para o livro “A fúria” de Silvina, diz “como Rossetti e como Blake, a Silvina chegou à poesia pelas sendas luminosas do desenho e da pintura, e na sua página escrita perdura a certeza imediata do elemento visual.” Esta certeza imediata é a de um lugar que não pacifica, que não se fossiliza, mas, num movimento erótico, abre a superfície como um fruto maduro, e nos pede incessantemente uma nova interpretação.
As fábulas, as histórias infantis, as parábolas, mantém a metamorfose viva, organizam um mundo caótico sem o reduzir a um dogma. O mero jogo é já um ordenar do mundo. Freud anota que «cada criança que joga age como um poeta, na medida em que cria o seu próprio mundo, ou, para o dizer mais exactamente, organiza as coisas do seu mundo segundo uma ordem nova, conforme o que lhe apraz.» O jogo prefigura o invisível. A criança inventa uma ordem que lhe seja adequada porque veste o papel do intruso, do ilegal, porque, quando joga, usurpa e reinventa a ordem do mundo. Jogar é um fazer profano que inverte a hierarquia, que desrespeita o espaço intocável do sagrado.
As crianças, em bando ou solitárias, atravessam os contos de Silvina Ocampo, voltam tudo do avesso, desmancham o espaço fechado dos adultos. Surgem sempre com a forma aberta de quem chegou há pouco tempo, com o nascimento a ferver-lhes no corpo. Desenlaçadas da relação causa-efeito, fazem nascer efeitos novos num mundo de causas secas, abandonadas como raízes mortas. Têm uma vivência obliqua. O mal desponta fora da moral, é uma forma de explorar o aparente, de passar através das portas fechadas, das teias acumuladas numa cave, de ver se, debaixo do pó que cobre a aparência, ainda respira alguém.
O estado de evanescência, de passagem, destes pequenos seres que transitam com o tremor da morte nos olhos, lembra um aforismo de Cesariny: “o pavoroso e o vaporoso incluem-se.” O súbito irromper de uma forma fluida, que se verte no presente, numa aparição, pressente-se no começo de cada conto. As crianças vivem a experiência do indivíduo plural, utópico. Desfazem as expectativas sociais dos crescidos. Jogam com as convenções, são agentes de sabotagem do poder dos adultos.
Assim que nos tomamos por seres dotados de um saber sobre si mesmo, de um discurso que esconde a sua fractura original da língua, somos expulsos da experiência, ficamos cativos numa circulação que nos esconde o lugar da infância, da potência da linguagem, como diz Agamben. O nascimento de qualquer coisa, a sua metamorfose, fica assim condenada por uma infinidade de repetições e mapeamentos. Mas tudo isso é uma pequena camada de gelo sobre um magma em ebulição. Na verdade, ninguém está condenado, uma possibilidade de encontro, de mutação, espera-nos em todo o lado. Heidegger dizia-o numa fórmula concisa: “o Dasein tem sempre todo o seu tempo.” A infância, de certo modo, não está atrás de nós, mas à nossa frente. Se aceitarmos que a verdade não está na nossa posse, voltamos, por assim dizer, à condição de crianças.
Nos livros de Silvina a maioria das histórias são narradas por crianças, outras são habitadas pela sua memória. Mesmo quando parecem estar ausentes, sentimos a sua passagem, seja pela confluência da inquietude e do espanto, da alegria e do terror, pelos gestos bruscos, ou pelo talento para mutação, as crianças estão sempre inscritas nas entrelinhas.
Os três livros da maturidade de Silvina Ocampo estão todos traduzidos para português: “A fúria” e “As convidadas” na editora Antígona, e “Os dias da noite” nas edições Snob. O escritor Boas Matamoro, ao falar sobre “A fúria”, diz tratar-se de um mundo que se desmorona, de fragmentos, de coisas incompletas, onde as crianças se movem em reacção a um castigo, onde fogem de um perseguidor, onde se disfarçam como podem, muitas vezes da maneira mais óbvia, tornando-se o perseguidor. No entanto, não há culpa pessoal, ninguém a cometeu. A culpa está no mundo, não tem nome e está relacionada com o Pecado Original. Ninguém a cometeu, mas ela define toda a gente, e qualquer pessoa pode ser sujeita ao consequente castigo. Isto sem a nostalgia de um mundo passado onde tudo estaria bem, o mundo está roto e os ventos infernais atravessam-no como uma peneira.
Baudelaire, que era um escritor que Silvina muito amava, escreveu ao falar da infância de Delacroix: “Pode dizer-se que a criança, em geral, está, relativamente ao homem, em geral, muito mais próxima do pecado original.” Mas, há outro autor que se vê lançado num mundo de culpa sem culpado. Kafka fala de estarmos tão desamparados como crianças perdidas numa floresta. De desconhecermos de tal modo o outro que está à nossa frente, que deveríamos estar diante uns dos outros com tanta reverência, reflexão e amor, como se estivéssemos diante da entrada do Inferno. Os contos de Silvina, apesar das diferenças formais, têm várias semelhanças com os de Kafka. As crianças e os animais atravessam um jogo de espelhos onde os sentidos se alteram, onde as parábolas e os enigmas nos obrigam a reler e a reflectir vagarosamente. No entanto, as crianças de Silvina, parecem estar do outro lado da porta do Inferno, nunca surgem num estado de inocência, são demónios amorais, cruéis, perversas, apinhadas de instintos destrutivos. A liberdade com que explora a violência e a perversidade chocava muitas vezes os seus amigos mais próximos, mesmo Borges que a admirava muito como poeta achava muitos dos seus contos insuportáveis. Se tivermos em conta como Borges se empenhava numa procura de perfeição formal, compreendemos que o modo mais livre de Silvina escrever o perturbe, sobre isso diz Blas Matamoro “São geralmente narrativas desarticuladas, feitas de pedaços de histórias incompletas, como se a falta de história deixasse todas as relações num estado truncado. Esta incompletude parece ser uma técnica: narrar um mundo de costuras desfeitas, que não aceita direcções, talvez uma espécie de falha estrutural que equivale a uma estrutura: o desfeito parece estar meio feito. Identidades confusas, instáveis, permutáveis, que sustentam esta ausência de adereços. As referências a lugares e tempos são difusas. Ocasionalmente, há dados soltos, na sua maioria pertencentes à esfera de uma classe média piegas, observados por um olhar externo, mas interessado, que conhece as chaves do bom gosto, mas nunca as reconhece naquilo que olha.”