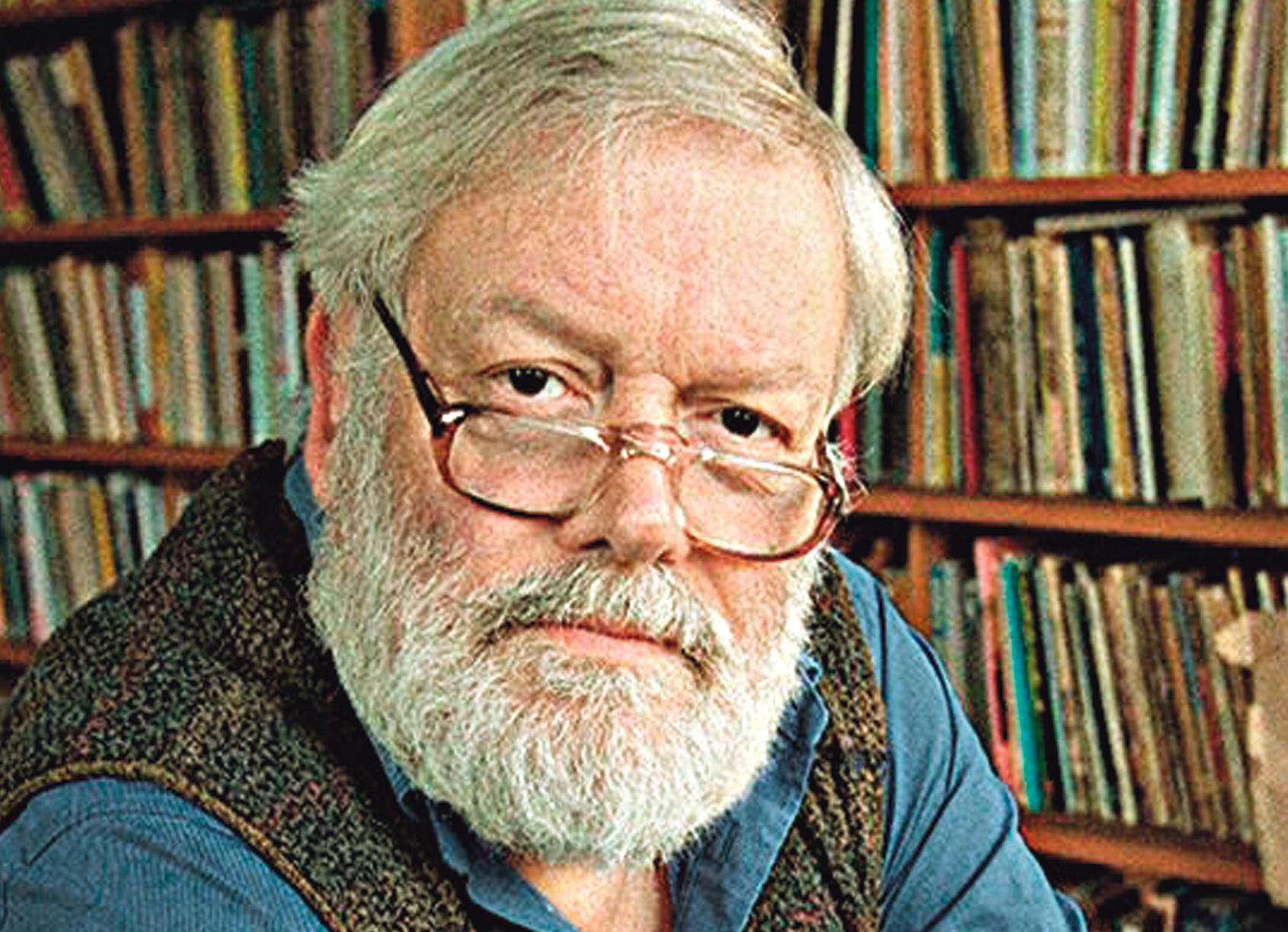Uma tendência que se vem afirmando, ainda que não totalmente nova, é a de subordinar a função da Justiça às funções mais executivas da segurança ou, mesmo, da política.
Depois de, durante algum tempo e, principalmente, desde finais dos anos sessenta até finais dos anos oitenta do século passado, se ter procurado «despolitizar» a função judicial, assiste-se, hoje, a uma crescente propensão para o uso da Justiça, tendo em vista legitimar orientações e decisões políticas relacionadas com a segurança interna, ou mesmo com os conflitos internacionais.
Esta tendência tornou-se, desde logo, evidente na chamada luta contra a droga.
Depois, alargou-se à luta contra a corrupção e o terrorismo.
Por causa deste último, nasceu, inclusive, uma corrente doutrinal que justificava o uso de métodos judiciais extravagantes, que contornavam as garantias constitucionais e os direitos humanos, e que se intitulava «o direito penal do inimigo».
Depois de usados e incorporados generalizadamente tais conceitos exorbitantes, avançou-se, em seguida, para a sua normalização e para uma sua extensão à luta contra a corrupção, a criminalidade económica e aquela que, em especial, é cometida por meios digitais.
Hoje, tal tendência situa-se já num outro campo: na questão da guerra e dos crimes nela cometidos.
Tal evolução e a derrapagem nas propostas políticas do uso da Justiça e, principalmente, as expectativas que, através dos media, elas geram nos cidadãos têm, porém, o condão de alterar, também, a tradicional cultura prudencial das magistraturas.
Essa alteração cultural, que abandona alguns dos aspetos e conquistas mais garantísticas do positivismo jurídico, reflete-se, assim, nas leituras ousadas e funcionalmente orientadas que alguns magistrados vão fazendo da lei.
Essas leituras empenhadas da lei projetam-se, também – por vezes, inconscientemente -, na sua própria prática processual concreta.
Tal fenómeno político e cultural não é essencialmente nacional: pode ser constatado, sobretudo, no plano europeu.
Quem ler os preâmbulos e os considerandos de muitas diretivas e regulamentos europeus e de alguns diplomas nacionais, alcança, facilmente, a evidência desta tendência.
Felizmente, depois, em muitos casos, os respetivos articulados revelam-se mais restritivos e rigorosos na sua formulação.
A confusão – tanto mais que os considerandos são, eles próprios, fontes de interpretação de tais documentos – está, entretanto, lançada e tende a influenciar a leitura que muitos fazem dos normativos legais europeus e nacionais.
Por tal razão, o Tribunal de Justiça da UE tem vindo, mais recentemente, a sentir a necessidade de apertar as malhas da interpretação de muitos diplomas, com recurso direto aos princípios consagrados nas cartas internacionais e europeias de direitos humanos.
O problema é que o conhecimento de tal jurisprudência é ainda pouco difundido e, mesmo quando é acessível, não é imediatamente interiorizado e transposto para a prática judicial comum.
Na verdade, muitos magistrados, mais frequentemente do que se julga, estão já imbuídos de uma cultura política securitária que tende a depreciar a jurisprudência que procura objetivar e restringir a leitura dos normativos legais.
É claro que não é possível, totalmente, dissociar os objetivos políticos dos diplomas legais da interpretação jurídica que deles é necessário fazer para, na sua aplicação prática, proteger os bens jurídicos que visam defender.
O que é necessário, em todo o caso, é preservar, na aplicação da lei, o que as suas normas objetivamente dizem, evitando fazer delas leituras que o seu texto não consente, mesmo quando as motivações dos diplomas para isso pareçam apontar.
Muitos dos insucessos de alguns processos judiciais importantes têm a ver, precisamente, com a não contenção dos aplicadores do Direito ao que as normas legais explicitamente consagram, em função das leituras politicamente mais amplas e ambíguas dos preâmbulos dos diplomas legais.
Como é sabido, o resultado dessa cultura política de interpretação e aplicação imaginativa das leis, quando confrontada com o texto dos seus efetivos normativos, tem-se revelado desastrosa para a concretização efetiva da Justiça e o prestígio das magistraturas.
As expectativas sociais que gera são altas e os resultados concretos que atinge são escassos e, muitas vezes, incoerentes.
Isto, num momento em que, precisamente, os magistrados europeus – e muito bem – vão tendo cada vez mais consciência da importância política da sua independência estatutária em relação aos outros poderes do Estado e aos poderes fáticos da sociedade.