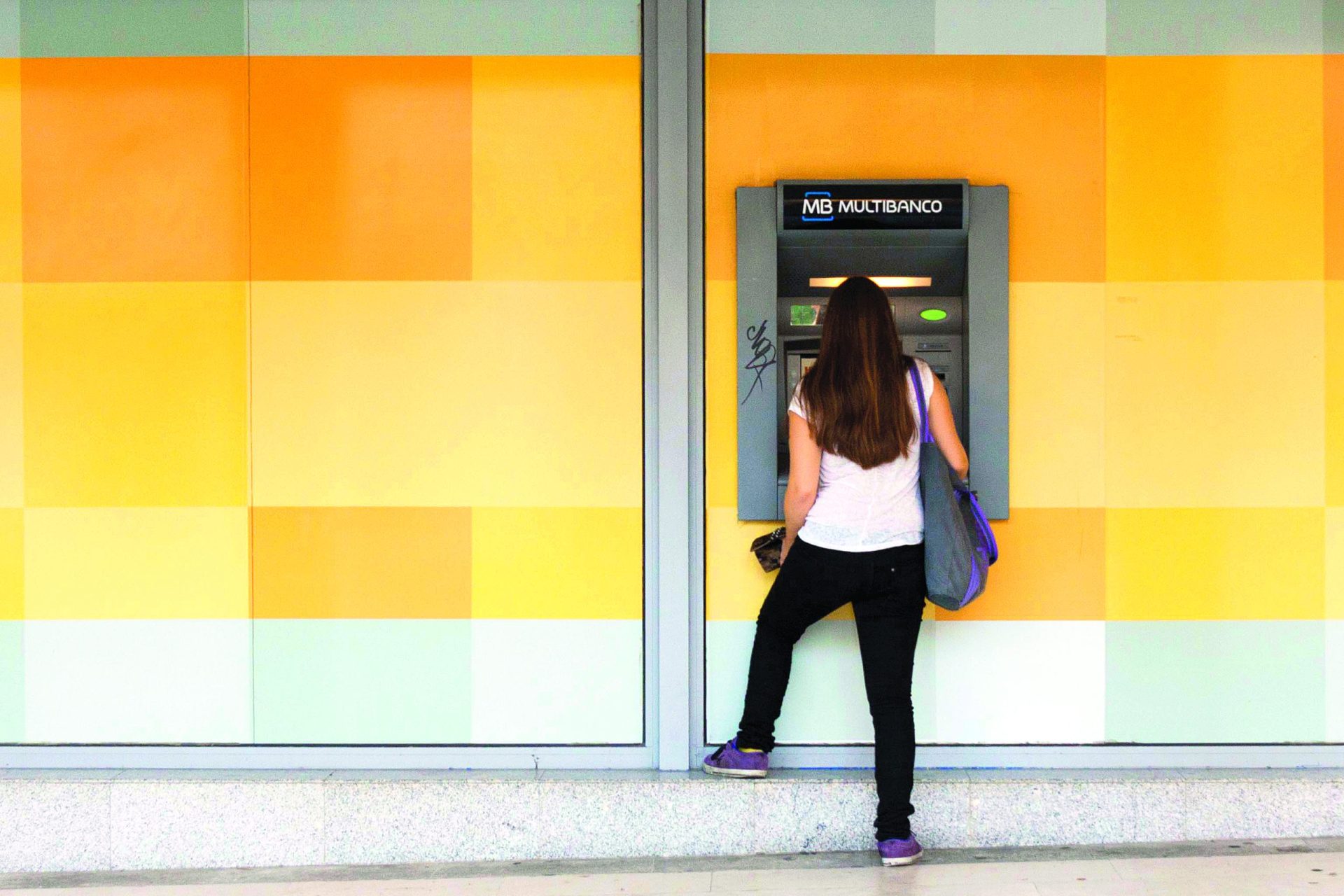“O estado de saúde do seu pai é muito grave”, disseram a Sofia Duarte um dia antes do mesmo perder a vida. “Não queria acreditar”, confessa, em declarações ao i, a professora que, atualmente, vive com a mãe. “Tendo em conta o cenário da covid-19, perdi ‘apenas’ o meu pai em outubro de 2020 com 87 anos. Sofria de cardiomiopatia obstrutiva e, portanto, já estava debilitado desde o princípio do ano. Só que esteve várias vezes internado no Hospital do SAMS, tiraram-no quando detetaram um caso de covid, em março, e veio para casa algaliado”.
Entretanto, a mulher que reside em Lisboa teve de levar Carlos de urgência para o Hospital da Luz e o idoso teve uma série de complicações. “Fez inclusivamente várias drenagens ao pulmão para tirar líquido, sempre com o máximo de cuidados. Estávamos todos com muito receio”. Depois de várias idas ao hospital e uma série de intervenções a que teve de ser submetido, “esteve em casa sempre muito recolhido e nem foi passar férias ao Algarve” como era habitual, tendo ficado em casa com Zélia, aquela que foi sua esposa durante 54 anos.
Sofia regressou mais cedo à capital para levá-lo ao médico e notou que ia perdendo peso, ficando mais em baixo e, a 6 de outubro, levou-o ao hospital para ver quais eram as hipóteses de ele “não estar sempre a fazer drenagem”, na medida em que já tinha realizado uma em abril e outra em julho. Os médicos não conseguiam arranjar uma solução para o problema cardíaco e, ao mesmo tempo, para a parte respiratória. “Já tinha dificuldades em respirar e, no dia 9 de outubro, tive de contactar o médico do Hospital da Luz a dizer que ele já não se conseguia levantar da cama e, portanto, tinha de o internar. Os bombeiros vieram buscá-lo, foi de cadeira de rodas e ficou lá”.
No sábado de manhã, o médico comunicou-lhe que o pai tinha covid-19 e sentiu-se incrédula. Nesse mesmo dia, Carlos já estava internado, mas a instituição hospitalar não tinha lugar para ele uma vez que não recebia doentes covid-19. Assim, foi transferido para o Hospital de S. Francisco Xavier e, posteriormente, para o Hospital de Egas Moniz. “Quem fez isto tudo foi um dos meus primos porque eu e a minha mãe fomos fazer o teste assim que soubemos que ele estava infetado. A saúde deteriorou-se muito em dois dias e os médicos ligavam a dizer que ele estava muito mal e a perguntar aquilo que estávamos a pensar fazer”.
Ao longo dos cinco anos em que padeceu da patologia cardíaca anteriormente mencionada, Carlos “lutou, foi um sobrevivente e tinha uma força de viver impressionante. Conseguiu ultrapassar todos os obstáculos”. Porém, no sábado à tarde, sendo informada do estado de saúde do pai, consciencializou-se de que não estava preparada para que ele morresse. Afinal, como é que alguém se prepara para este momento? Sofia não sabe, mas considera que tudo teria sido menos doloroso se, pelo menos, se pudesse ter despedido do antigo bancário que sempre caminhou a seu lado juntamente com a mãe. “O que é facto é que no domingo à noite recebi um telefonema do Egas Moniz a dizer que ele tinha falecido. E recebi o resultado: eu não estava infetada, mas a minha mãe estava. Eu não lhe quis dar estas notícias. Telefonei imediatamente a um primo que estava a par da situação. Tenho uma prima que é médica e tratava doentes covid-19. Ainda estava um bocadinho dormente e pensei ‘Isto não está a acontecer’”.
Apesar de ter passado “uma noite complicada”, Sofia admite que, no decorrer do período de choque inicial, os olhos ficaram marejados de lágrimas, mas não chorou como imaginara. Até porque queria que a mãe dormisse descansada antes de saber as novidades trágicas. “Na segunda-feira, dei-lhe duas notícias e ela desde sempre não acreditou que estivesse infetada. Uma senhora com 86 anos que viveu 54 ao lado do meu pai, ele era bancário e tratava de todos os assuntos… É óbvio que foi completamente abaixo, mas sendo uma senhora com uma teimosia muito grande… Não desistiu”.
Por terem de estar 14 dias em isolamento profilático, a partir do primeiro momento, perceberam que não assistiram à última despedida de Carlos. Pelo menos, não da forma à qual estamos habituados que as cerimónias fúnebres aconteçam. “Quem tratou do funeral foi um dos meus primos, tudo através de WhatsApp e Zoom. Até mesmo a escolha do caixão. Foi ele que contactou a Servilusa e tratou de tudo. Ele e o resto da minha família fizeram tudo porque estávamos confinadas”.
Ainda que seja extremamente grata aos familiares que lhe proporcionaram a possibilidade de estar virtualmente presente no adeus ao pai, sente-se culpada porque prometeu a Carlos que não o deixaria sozinho, pois este era um dos maiores medos do homem. “O que é mais traumático e violento é saber que ele ficou sozinho e não cumprimos a promessa. Sinto-me culpada de alguma forma por não ter estado com ele. Só espero que não tenha sofrido. Ele não podia ser ventilado por causa dos problemas de saúde. Foi uma desumanidade tão grande, as pessoas não deviam ter passado por isto”, diz, referindo-se às restrições impostas pela pandemia que, naturalmente, tornaram as mortes mais custosas e desprovidas da humanidade em que Sofia ainda hoje pensa.
Como podiam estar dez pessoas na cerimónia, estiveram presentes um vizinho e amigo, a afilhada, os dois primos que estiveram sempre ao lado de Sofia e dos pais, duas primas e outros familiares próximos. “Compraram coroas de flores lindíssimas, leram o texto que escrevi e o meu pai foi cremado. Foi uma cerimónia muito breve”. Posteriormente, Sofia e a mãe pensaram utilizar as cinzas para plantar uma árvore, mas ainda as têm com elas. “Quem ficou com elas até maio foi um dos meus primos”.
“Quem infetou quem? Não faço a mínima ideia e não interessa. Sou uma pessoa de fé: acredito em Deus e que há uma razão para tudo acontecer. O meu pai, com o problema de saúde que tinha, não sei se aguentaria muito mais tempo independentemente da covid-19. Tive de ser forte pela minha mãe”, explica, constatando que esta começou logo a separar as roupas e a arrumá-las em sacos para que fossem doadas. “Estou em paz atualmente. Não é que não haja um dia em que não pense nele, mas sei que já não sofre e está bem. Portanto, isso traz-me algum conforto e tranquiliza-me. Oro todos os dias e vou buscar forças à família muito unida que esteve sempre presente e nunca nos deixou”.
Infelizmente, Zélia não encarou tudo da mesma forma. “A minha mãe não conseguiu encerrar o ciclo e não sei se alguma vez conseguirá. Chora todos os dias. Eu tenho outra bagagem espiritua”, declara, sendo que recomeçou as sessões de psicoterapia porque teve uma depressão em 2018 e sentiu que estava a ficar psicologicamente afetada pelos eventos árduos que viveu. “Também estou a tomar um antidepressivo, mas uma dose mais baixa. E tive outro desafio: a minha mãe teve um AVC isquémico em agosto e a sequela foi que lhe deu para voltar à infância. Tinha um comportamento de uma menina de 10 anos”. Agora, preservando a memória do pai, Sofia enfrenta a doença da mãe.
“As pessoas chegavam às consultas muito afetadas” “Somos um grupo de psicólogos e médicos de família e uma parte dos psicólogos está nos hospitais e, por isso, desde o início, começámos a perceber o impacto das restrições da pandemia. A dificuldade de as pessoas acompanharem os familiares em fim de vida, institucionalizados, com uma doença mais avançada, em unidades de cuidados intensivos e paliativo… deixaram de ter contacto com os doentes. E isso gerou uma angústia muito grande”, começa por afirmar Mayra Delalibera, doutora em Psicologia da Saúde pelo Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida e Professora na Licenciatura e no Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade Lusíada de Lisboa.
“Morriam sozinhas nas instituições e nos hospitais e, por outro lado, havia os familiares que estavam fora e não conseguiam estar presentes. Uma psicóloga que faz parte do grupo é a doutora Alexandra, do hospital Santa Maria, e muitas famílias eram acompanhadas nas consultas de luto. E essas pessoas chegavam muito afetadas pelos impedimentos. Não havia funeral, muitos caixões estavam lacrados, nem sequer viam os corpos e eram histórias muito difíceis. De pessoas que até diziam que nem sequer sabiam se enterravam ou cremavam os familiares. E isto aumenta a probabilidade da perturbação de luto prolongado”, avança, tendo em conta que os resultados preliminares do estudo que levou a cabo juntamente com os colegas, sobre o luto durante a pandemia, revelaram que 58% das pessoas – a amostra foi de 225 enlutados de Lisboa, Porto, Setúbal, Santarém, Leiria, Évora e Coimbra – que perderam familiares estavam expostas a um risco superior de padecer deste problema.
“A questão de como foi a morte, a possibilidade de não reconhecer o corpo, o seu entequerido, a dúvida efetivamente do que se passou e se efetivamente o familiar faleceu. Quando não há este contacto, fica sempre no imaginário como terá sido o fim. Muitos dos participantes tinham familiares que não morreram de covid-19, cerca de 80%”, adianta, acrescentando que a realização do funeral é muito importante porque é o tempo em que pode haver a despedida. É durante esta cerimónia que as pessoas “tomam realmente contacto com aquela realidade”.
“A probabilidade de luto prolongado subiu para 60% quando costuma ser de 10-20%. Aquilo que percebemos é que as pessoas não acreditavam que a perda realmente aconteceu” e apresentavam os seguintes sintomas: o mal-estar, as dores no corpo e, quando pensavam em ir ao hospital onde a pessoa passara os últimos dias, tinham reações mais fisiológicas como sudorese e taquicardias, perturbações do sono, dificuldades em alimentar-se “e tudo piorava quando as já tinham distúrbios psicológicos, como histórico de depressão”.
Os investigadores da Universidade de Lisboa, Coimbra, Minho, Universidade Lusíada de Lisboa e dos agrupamentos de centros de saúde de Gaia e de Espinho/Gaia recolheram estes dados entre os meses de novembro de 2020 e março de 2021, entre cinco e seis meses após o registo da perda dos entequeridos. “E agora, em setembro, concluímos o segundo momento de avaliação. Por isso, não consigo revelar com certeza a tendência do luto prolongado, mas percebe-se que tem reduzido porque o falecimento já ocorreu há cerca de um ano. Estamos a inquirir as mesmas pessoas”, finaliza o Membro do Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social – CLISSIS que coordenou o estudo “Estado de emergência pela pandemia SARS-CoV-2 – Impacto no luto”, área em que trabalha desde 2009 e que a tem vindo a acompanhar académica – tirou uma pós-graduação para se especializar nesta temática – e profissionalmente – dá consultas de luto no centro clínico PIN de Paço de Arcos.
“Para ajudar as pessoas, tenho de me colocar no lugar delas” Questionados sobre o apoio que receberam no período de luto, apenas 16% dos inquiridos referiram ter recebido algum por parte do médico de família, 25% do psicólogo e 15% de um líder espiritual/ religioso. Nelson Fernandes, padre em Mora, concelho profundamente fustigado pelo novo coronavírus, convidou outros quatro padres, Alessandro Cont, João Luís Silva, Mário Tavares e Tarasse Goyvanyuk, todos da Arquidiocese de Évora, para criarem uma linha de ajuda espiritual.
“Isto começou em conversa com aquele que chamo meu irmão gémeo, porque fomos ordenados no mesmo dia. E fizemos uma troca: eu dava o contacto dele aos meus fiéis e ele o meu aos dele. Sabem que podem contar connosco, somos a Igreja e não nos podemos fechar à comunidade. No dia seguinte, juntámos mais colegas e criámos esta linha de apoio. Nas minhas paróquias, infelizmente, houve muitas vítimas. Sepultei três irmãs no espaço de três semanas e uma mulher e um marido em duas semanas”, lamenta o padre de 30 anos que exerce em Évora.
“Aquilo que as pessoas questionam é se os cadáveres são os dos familiares. Não houve acompanhamento, o velório… A última despedida. A pessoa não se sente mais reconfortada. A única coisa que nos resta é procurar os meios virtuais. Além do luto, muita gente não estava habituada a estar sozinha ou a fazer silêncio consigo mesma. E isto gerou muitos conflitos e percebia isso durante os telefonemas. Falei também com pessoas deprimidas e encaminhei-as para respostas”, realça, frisando que um jovem entrou em contacto consigo porque tinha receio do impacto da covid-19 na comunidade e pensou em pôr termo à vida.
“O padre é para ser pai, pastor, temos essa função. Falamos por videochamada, ele pensava em suicidar-se, foi um caso muito interessante e, hoje, é um membro ativo da comunidade. Perdi pessoas conhecidas, como paroquianos e o meu padrinho, e é um processo muito doloroso para todos. O meu número está disponível em todo o lado e, atualmente, há pessoas que nos telefonam. A linha já não está ativa, mas quem quiser pode ligar-nos. E até me tornei amigo de algumas pessoas. Houve a crise, procura-se a perseverança e luta-se”, menciona com convicção, adicionando que, quando a linha estava ativa, tanto ele como os restantes padres atendiam telefonemas entre as 10h e as 22h e, muitas das vezes, “havia conversas de três e quatro horas que duravam para além das 22h. Foi uma grande aposta e, simultaneamente, um grande desgaste. Para ajudar as pessoas, tenho de me colocar no lugar delas. E faço de psicólogo também. É complicado gerir tudo. É entregar isso na oração”.
“Quando um cristão deixar de sentir compaixão pelo outro, deixará de o ser. Quando é para ir ao café, todos estão disponíveis. Quando é para dar o nosso tempo e ouvir o outro, se calhar já não há tantas pessoas que estão connosco. Não somos ilhas: ninguém está nem deve estar sozinho. E as iniciativas podem continuar”, remata, sendo que a sua perspetiva se encontra alinhada com a de Inês Ribeiro, Coordenadora Nacional de Saúde Mental e Apoio.
“Em termos de consequências na saúde mental, não consigo dizer cientificamente se a pandemia teve impacto no luto. Mas sabemos que as condições em que existiu pode levar a que seja patológico. A questão de termos o funeral serve para integrarmos a perda e substituir a essência da pessoa que parte. Foi problemático pela ausência e também porque, por exemplo, os idosos saiam dos lares e iam para os hospitais e os colegas de quarto ficavam muito aflitos porque sabiam que eles não voltariam. A probabilidade de regresso era muito baixa e os primeiros socorros psicológicos eram cruciais. E internamente também se separava os positivos dos negativos e havia o receio de também ter covid. Aquilo que temos é o apoio comunitário e, durante a pandemia, entrávamos em isolamento e perdíamos essa vertente. Era duplamente angustiante”, revela a estre em Psicologia Clínica e da Saúde-Intervenções Cognitivo-Comportamentais pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra.
“Trabalhávamos as tecnologias, mas precisamos do toque e da proximidade. Outra coisa que notei bastante é as condições em que os familiares imaginavam que as pessoas tinham morrido. Por exemplo, eram transmitidas as imagens das valas comuns e trabalhei situações em que as pessoas pensavam nisto e que não tinha havido dignidade no final. Não há uma materialização da perda: sabemos que a pessoa está morta, mas estamos em negação durante mais tempo”, aponta, contextualizando, sem saber, o caso de Daniela Guerreiro, de Évora, que perdeu o avô paterno que se encontrava na casa dos 70 anos. “Morreu a 2 de abril num corredor do hospital à espera de assistência. Os últimos dias foram de sofrimento em casa, pois era doente oncológico e, como havia covid-19 em todo o lado, não teve assistência”, constata, recordando que no funeral estiveram presentes somente cinco pessoas. “O corpo saiu do hospital para ser enterrado e nem missa houve. Foi horrível. Quando me lembro custa-me porque não me pude despedir dele. Éramos muito chegados e ainda estou a fazer o luto. Era uma pessoa muito importante que me faz muita falta”, partilha a mulher que, imaginando a ocorrência da morte do avô hoje em dia, numa fase menos aguda da pandemia, imagina que o processo seria distinto porque poderia dizer-lhe adeus como sempre desejou. “A perda do meu avôzinho marcou-me muito. Era tudo para mim”.
“Não vimos, não sabemos. E ainda havia a troca de identidade de pessoas que morreram. Aquilo que acabámos por fazer foi capacitar o máximo possível os técnicos e auxiliares para lidarem com a perda. Lembro-me de um contacto que fiz com um lar em que os utentes diziam que queriam saber como e quando os companheiros do lar morriam e tinham sido tratados. E mesmo os auxiliares e cuidadores foram super-heróis porque asseguraram o apoio aos idosos, descuraram o próprio cuidado e puseram a família em segundo lugar. Aquilo que lhes custava era não poderem abraçar os utentes e ainda me emociono a falar disto”, esclarece Inês Ribeiro que também desempenha funções enquanto Formadora de Formadores em Primeiros Socorros Psicológicos.
“A exposição mediática foi muito importante porque as pessoas imaginavam tudo e até podiam ter stress pós-traumático. Havia muita verbalização. Por exemplo, no 11 de setembro, muitas pessoas desenvolveram esta perturbação só por visualização recorrente das imagens. E fiz esta reflexão e acho que podemos comparar a intensidade da cobertura, o nível de detalhe e a falta de informação. Perdemos a parte da comunicação mais humana e da aproximação pela dificuldade emocional que vivíamos. Ao longo do tempo, começámos a ter os números de mortes de covid-19: se não perdêssemos ninguém, era um número, mas para quem perde é um familiar e um amigo. Há um desvio daquilo que podemos considerar um luto normal”, refere, considerando que os familiares e amigos enlutados tinham recorrentemente o seguinte pensamento: “Toda a gente segue a sua vida, mas eu é que perdi esta pessoa, eu é que não fui ao funeral, eu é que estou a sofrer” e, por este motivo, havia uma fase da raiva e da expressão da mesma “e aqui a perceção da injustiça pode ser mais exacerbada. Por exemplo, pensar que se os idosos tinham sido infetados num lar, tinham sido por alguém e imputavam a outro a responsabilidade”. Para facilitar o processo de luto, a Cruz Vermelha Portuguesa desenvolveu um programa de apoio em lares “que era importante porque as pessoas trocavam experiências, estavam na mesma zona de guerra. Os próprios socorristas de emergência participaram para perceberem que era normal terem receio e não pensarem de forma tão sistemática em infetar os outros. Capacitámos cerca de 8.000 pessoas com estas ferramentas. Tivemos também muitas ações em empresas para as pessoas lidarem com o isolamento, o teletrabalho e a perda associada ao luto”.