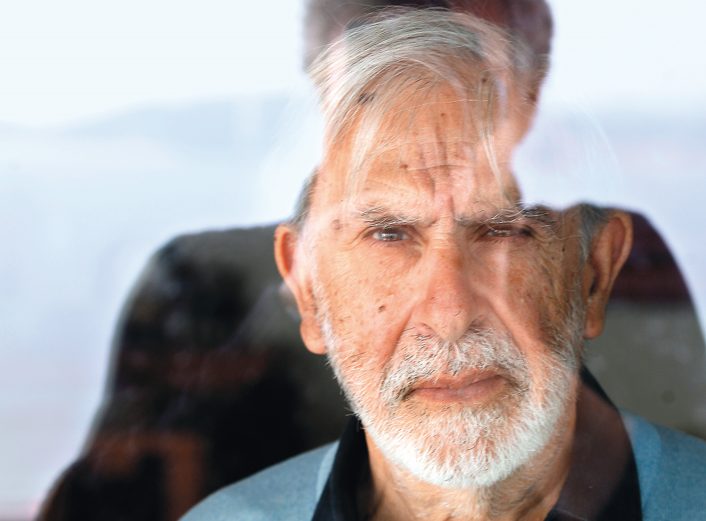Depois da publicação destas histórias, o que pode mudar em relação à visão que temos de algumas personagens envolvidas no livro, como Soares, Cunhal ou Vasco Gonçalves?
Acho que seria uma soberba da minha parte achar que este livro poderá influenciar o que quer que seja, mesmo em relação àquilo que é a perceção e compreensão de alguns momentos da história ou do caráter de alguns personagens. Mas tenho a pretensão de achar que o livro pode ficar, e isso já é uma ambição enorme. A maioria dos livros, ou das canções que são feitas, ou dos quadros que são pintados, normalmente resistem pouco. E são poucos os livros ou coisas que fazemos que resistem. Eu julgo que este livro poderá resistir. O trabalho de reescrita de muitas destas histórias e de memória destas histórias teve um objetivo: tornar o livro intemporal, de maneira a que, quando os nossos filhos e netos o lerem, possa ser fresco à mesma, não ficar datado. Muitos dos textos que lemos e que ficam em livro, mesmo de crónicas que são extraordinárias, em alguns momentos parecem datadas, não sobrevivem ao tempo. Ou porque têm demasiadas referências a coisas muito concretas que o tempo apaga ou por outro motivo qualquer. Estas 50 histórias são de alguma maneira capítulos em que retiro esta gordura do tempo e tento que sejam uma espécie de contos. Contos que até podiam ser, num certo sentido, de ficção, porque definem personagens e momentos. É um bocadinho o que nos acontece, temos sempre no nosso percurso portas que se entreabrem, e em alguns casos entramos e noutros não entramos, e isso define muito aquilo que vai ser o nosso futuro. Quase todas as histórias têm esse ponto. Há momentos, pormenores, detalhes, pequenas circunstâncias que definem o curso da história. Nesse sentido, acho que daqui a 20 ou 30 ou 40 anos os historiadores vão olhar para este livro e não o vão deitar para o lixo. Não as 50 histórias, mas certamente algumas vão ser importantes para fazer um retrato de um tempo que é determinante para compreender a democracia portuguesa.
Poderá haver quem fique descontente com a publicação destas histórias?
Afinal de contas, seriam secretas por alguma razão… Quando decido e quando o editor me convenceu que o próximo livro é este… não era a minha inclinação inicial, mas ele convenceu-me por dois ou três motivos. Este livro é um em que 90% ou mais de todas as histórias são com personagens que já não estão no ativo. Claro que o António Guterres está mais no ativo do que nunca e com mais poder do que alguma vez teve, com mais poder do que um primeiro-ministro em Portugal tem, mas está fora daqui… o Durão Barroso está fora da política. Eu diria que estas figuras fazem parte da história mas já não fazem parte da atualidade nacional, e isso para mim foi muito importante. Não pela pergunta que me fazes, mas pelo grande objetivo que tenho de que falava antes: gostava que o livro fosse intemporal. Não é possível ser intemporal logo à partida se estou a escrever sobre personagens que estão no ativo. Seria contaminado pela visão do combate que as pessoas têm no dia a dia. Escrever sobre Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Rui Rio ou Passos Coelho poderia ser muito interessante, mas não cumpriria os objetivos que eu quero. Mas a resposta é não. Uma percentagem enorme deste livro foi contada pelos próprios. Se não fossem, o livro não perderia qualidade por isso, mas tem isto que é um “plus” interessante.
As figuras aqui incluídas são todas personalidades que admira?
Há personagens de que não gosto muito, de que não gosto nada, de que gosto muitíssimo e que adoro – tentei que este livro não fosse contaminado pelos meus estados de alma ou as minhas convicções. Tentei que as histórias valessem por si, sem constrangimentos ideológicos, sabendo as pessoas qual é o meu lado da barricada e ideologicamente onde me posiciono. Mais uma vez, para tentar alcançar essa tal intemporalidade, achei que o livro não poderia ser contaminado pelo combate ideológico. Portanto não, acho que não. O Professor Cavaco Silva aparece num dos episódios mais deliciosos e surpreendentes, porque ele convida o ministro das Finanças Eduardo Catroga seis meses antes de dispensar o ministro das Finanças que tinha, o que nos leva à conclusão óbvia que ele manteve um ministro das Finanças em Portugal durante seis meses não gostando dele e não confiando nele, porque tinha outro de reserva para entrar em algum momento… Mas mesmo esse episódio, para algumas pessoas é negativo, porque mostra um caráter de uma frieza implacável, mas, por outro lado, outras pessoas acharão positivo, porque mostra uma frieza implacável que é fundamental para exercer um cargo como o de primeiro-ministro naquela altura. Aquilo que para mim pode ser positivo ou negativo, para outra pessoa pode ser o contrário, e mesmo em relação a Cavaco Silva, que é um personagem com quem tenho uma distância enorme, não me parece que isso seja linear.
Como é que, aos poucos, foi entrando em contacto com estes relatos, que são tão “secretos”?
No momento em que conheci estas histórias, não pensava que pudessem hoje estar num livro. Durante alguns anos tive uma crónica no SOL chamada Ficheiros Secretos, e algumas destas histórias estiveram nessa crónica, com uma outra roupagem, porque eram crónicas do próprio dia, e então essa espuma dos dias tinha que estar presente, e aqui não está. Aí eu diria que este livro é o resultado, no fundo, de 30 anos de escrita. É o resultado do privilégio de ter conhecido pessoas muito diferentes, das mais variadas áreas dos últimos 30 anos, e muito pela minha passagem pelo jornalismo, que me levou a conhecer, entrevistar e a almoçar com pessoas, a conviver mais intimamente. Este livro – e foi isso que me levou a editá-lo – é um ponto final. Não diria nunca ponto e parágrafo. Mas é um ponto final de uma parte da minha vida dedicada ao jornalismo, e o que quis foi devolver ao país, de alguma maneira, com todas as aspas, aquilo que o país me ofereceu, aquilo que a vida me ofereceu, que foi poder ter estas histórias todas e mais outras coisas.
É possível pôr um ponto final na vida de jornalista, que é uma profissão tão intensa?
É possível pôr um ponto final na vida de jornalista. Sempre tive outros tabuleiros, nunca fui um jornalista puro, e isso tem uma coisa positiva e tem uma coisa negativa. O jornalismo é uma profissão absoluta. Muitas das pessoas que se dedicam e se sacrificam no jornalismo vivem de maneira absoluta, tudo está em jogo todos os dias quando se trabalha num jornal diário. Podes estar a sacrificar tudo aquilo que é a tua vida e a tua estabilidade, casamentos e filhos, para conseguir uma notícia, e no dia a seguir já estás à procura de uma outra. Morres num dia e renasces noutro. Portanto tem que se viver de uma maneira absoluta. Isso é para o mal porque eu, não sendo um jornalista puro, nunca tive essa capacidade de conseguir viver de uma maneira absoluta. Colocar o ponto final, mesmo não sendo parágrafo, é natural, porque a vida se encarregou de me oferecer a possibilidade de fazer outras coisas, que faço desde muito miúdo. Comecei no jornalismo com 19 anos, mas aos 22 já estava a fazer um programa de autor na RTP que não tinha nada a ver com jornalismo, e às tantas já estava como diretor de um jornal diário aos 32, mas aos 35 apeteceu-me fazer e encenar uma peça de teatro e deixei tudo para isso. Numa altura como esta em que o jornalismo é tão difícil, isso fragilizou-me porque os meus “camaradas” não olham para mim como um jornalista em quem se possa confiar, porque sabem que a possibilidade de eu, dois anos depois, já estar a fazer outra coisa é muito grande.
E isso não influenciou a sua vida como jornalista?
É um limbo que tem a ver não com indecisão mas com uma vontade de viver, agarrando as oportunidades que a vida nos propõe em cada momento, não ficar agarrado a uma predeterminação. Se me apetecer fazer algo, porque é que não a vou fazer? Isto sabendo que provavelmente só temos esta vida. Se me fragilizou, sim, embora não me possa queixar daquilo que o jornalismo me deu. Apesar de tudo fui jornalista, cheguei a diretor de projetos de imprensa, de rádio… fiz programas de televisão… não me posso queixar. Agora sim, se fosse um jornalista puro poderia ter atingido um patamar ainda de maior diferença. Mas não trocaria isso por outras coisas que fiz. Os meus amigos jornalistas – e tenho muitos – acham que eu se calhar sou mais um escritor do que um jornalista, mas os meus amigos escritores acham que sou mais jornalista do que escritor, e essa ambiguidade faz com que seja um terreno que não é confortável, mas talvez mais para os outros do que para mim. Sou um otimista, não sobre o ser humano, mas sobre a vida. Nunca me ouvirás queixar-me sobre aquilo que a vida me deu ou aquilo que eu consegui agarrar. Apesar de tudo, estamos aqui a falar de… tenho 50 anos, e estou há 30 anos numa profissão, sempre a fazer coisas… e 30 anos é muito tempo. É um percurso que não é linear, e as coisas que não são lineares custam sempre mais a entender do que as outras.
Da esquerda à direita, faz uma espécie de panorama geral do país nos últimos 50 anos. Que critério teve para a escolha das histórias que entraram ou não e para a sua organização no livro?
O alinhamento das histórias é fundamental para a coerência do livro. Sendo muitas delas histórias diferentes, até em tempos diferentes, tinha que se dar alguma unidade e coerência, porque se não seria uma amálgama. O livro está dividido em três partes, e ficaram logo excluídas as histórias que pudessem ser passíveis de contaminação pela atualidade. Depois de retirar essas histórias, para mim era importante escolher aquelas que pudessem ir ao encontro de uma pergunta essencial: de que maneira é que nos podemos definir enquanto país? De que maneira é que os nossos personagens que fizeram parte da história portuguesa contemporânea nos ajudam a encontrar explicações para aquilo que somos? Foi nessa premissa que encontrei as fronteiras para dividir as histórias. A divisão por três partes tem a ver muito mais com aquilo que foi o combate político do 25 de Abril e depois do PREC, e que histórias é que podem também ajudar a compreender alguma destas particularidades, tanto do 25 de Abril como do Estado Novo, como do início da democracia. Depois uma segunda parte, que tem a ver com histórias que aparentemente são mais desgarradas mas que ajudam a definir personagens ou histórias mais de sociedade, nomeadamente algumas como a de D. José Policarpo ou de D. Manuel Martins… portanto a Igreja Católica e outros poderes. E por fim uma terceira parte mais de personagens da cultura e do pensamento, de que eu gosto muito, e onde estão algumas das melhores histórias. Aí mudei o alinhamento, porque algumas destas figuras são marcadas por tragédias, e essas tragédias não só foram apenas tragédias que marcaram a vida deles, mas que marcaram as nossas, porque se nunca tivessem acontecido nunca teríamos lido José Saramago, nunca teríamos conhecido Eduardo Lourenço, ou nunca teríamos ouvido ou lido a poesia de Eugénio de Andrade, ou nunca tínhamos visto a arquitetura de Siza Vieira… Se a vida deles não os tivesse feito cair… na sua queda mudaram por completo. No caso do Siza Vieira, se a mulher dele, a grande paixão da vida dele – nunca mais teve ninguém… aliás – não tivesse morrido com 30 anos, não teria substituído esse mundo afetivo por uma dedicação monástica à arquitetura. Se a mãe de José Saramago não tivesse visto morrer o seu filho mais velho, que era o seu filho mais próximo, que sorria, que a abraçava… ele morreu com 6 anos, e ela ficou só com José Saramago, que era um rapaz tímido, que não a abraçava, que não se ria, e cada vez que ela o via, via sempre o irmão que tinha morrido, e isso determinou por completo a sua forma de estar perante o mundo. Por vezes são as tragédias que nos fazem cair para não nos levantarmos mais, mas por outras vezes fazem-nos levantar de uma outra maneira.
Acha que a tragédia anda de mãos dadas com a genialidade? Entramos aqui num espaço um pouco macabro…
Não, é o contrário de macabro. Quando muito, é psicanalítico – mas é o contrário. É o que a vida nos oferece. A vida é um jogo da glória, mas para todos. Aproximamo-nos do final, mas depois aparece sempre um buraco que nos faz voltar atrás e cair, e a vida é isso. Parece tão perfeito, mas há sempre momentos em que perdemos o controlo. A tragédia não é macabra, é a vida como ela é. A genialidade não tem a ver necessariamente com a tragédia, mas sim com a transgressão daquilo que damos como adquirido. A genialidade é encontrar um caminho onde antes não sabias que ele existia. Os génios trilharam um caminho que não existia antes, e encontraram um espaço que nós achávamos que não poderia ser preenchido, porque não existia. São pessoas que deram ao mundo não aquilo que o mundo queria, mas aquilo que precisava, sem cada um de nós saber o que é que precisava.
De todos os episódios contados no livro, quais lhe parecem mais impactantes aos olhos da atualidade?
Há vários episódios que têm impacto e que podem ter leituras com a atualidade. A história do António Guterres é um pouco diferente, porque é a partir de uma longuíssima conversa que tenho com ele, ainda era primeiro-ministro. E depois, não revelando o livro, um ou dois acontecimentos depois, já quando ele sai de primeiro-ministro, toda essa conversa é muito sobre o poder e a angústia de deixar uma marca. Sobre o que pensa um homem que tem todo o poder e o abandona de um momento para o outro contra a opinião de todo um país. Acho que esta história é muito importante e muito definidora do seu caráter, mas sobretudo daquilo que são os personagens do poder também hoje. Há muitos pormenores que nos ajudam a perceber o que pensa uma pessoa que tem poder e quais os seus medos. Por exemplo, quando falo de Pedro Santana Lopes ter convidado uma pessoa de manhã para ministro das Finanças e desconvidado à tarde. São coisas que não têm a ver com o caráter dele, mas sim com os jogos… e hoje, num tempo de polarização entre esquerda e direita como não acontecia desde 1975, provavelmente, em que os blocos cada vez fazem mais sentido juntos com coligações à direita e à esquerda, acho que este livro é importante para se perceber as dinâmicas do poder.
Que reflexo surge então deste conjunto de histórias da sociedade e da política portuguesa?
É o paradoxo. É aquilo que nos distingue, a nós portugueses desde sempre, e estes personagens, alguns deles, muitos deles vivos ainda, provam que somos uma falha sísmica. O país nasceu para morrer 50 anos depois… O próprio português – que é muito árido, mas muito menos árido que o basco e o catalão, que são línguas de combate, de guerra, quase sem vogais – é uma língua de compromisso, de união, de “venham cá e vamos conviver”. O que é certo é que, enquanto os bascos e os catalães, assumindo essa vontade de combater, não conseguiram resistir, nós fomos aqueles que resistiram, e sempre a acharmos que íamos morrer dali a 30 anos. Nunca nenhum país se questionou tantas vezes se tinha futuro. Todas as gerações o fizeram, e fomos sempre resistindo. Somos um país com uma luz maravilhosa, mas somos o país que inventou o fado, talvez a música mais melancólica que existe dentro de todas músicas nacionais. Como é que um país que tem esta luz é melancólico ao ponto de inventar a única canção que não se dança? Fomos à conquista, com a coragem extraordinária de ter marinheiros que pegaram nas caravelas e foram à conquista e à descoberta, mas fomos também os que ficaram a dizer mal dos que partiram. Somos generosos, apoiamos, mas somos também, e sem contradição, talvez o país com mais propensão para o pequeno egoísmo e para a pequena inveja. É nesse paradoxo que nos construímos. Olhamos para estes personagens e muitas vezes são paradoxais. Aquilo que julgo que é mais forte no livro é que acabamos de ler as histórias e detetamos imediatamente essa falha e esse caráter de ser português. Somos grandiosos e capazes de pensamentos grandiosos, mas somos capazes das coisas mais pequenas que se possam imaginar ao mesmo tempo. Nós somos o copo meio cheio e o copo meio vazio, somos aqueles que riem e que choram e ao mesmo tempo são capazes de ousar. E isto é extraordinário, eu adoro Portugal, e isto são tudo elogios, porque não há ninguém como nós. O Eduardo Lourenço só escreve o seu primeiro texto público depois da morte dos pais, porque tinha um pavor tão grande que os pais pudessem ler o que ele pensava, porque ele tinha era de trabalhar a terra, e tinha de ser digno daquilo que os pais tinham pensado para ele. O homem que foi o maior pensador da identidade portuguesa foi aquele que se autolimitou como se fosse apenas uma pedra de uma aldeia.
A maioria das histórias neste livro são relacionadas de alguma forma ou de outra com a política. Porquê o enfoque neste meio específico?
A maior parte das figuras que conheci e com quem privei eram da política. Apesar de ter sempre vivido entre vários mundos, como o jornalismo político e da ação política e a cultura, estive com mais pessoas na política do que com pessoas na cultura. E não podia desaproveitar o facto de termos tido uma revolução, com personagens que, como acontece em todas as revoluções, para o bem e para o mal, atingem uma espécie de zénite da sua capacidade de poder cumprir-se. Da direita à esquerda, Álvaro Cunhal, Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral são personagens que em pouco tempo viveram muito. Tinha várias outras histórias de gente da cultura, que eram interessantes, mas tinham mais a ver com curiosidades deles, e não tanto com o país.
Hoje ainda há figuras na política tão marcantes como o foram Soares, Cunhal, Freitas do Amaral, Salazar?
Acho que sim, mas quando acontecem tumultos na história dos países e nas vidas, as pessoas revelam-se de uma outra maneira. A nossa geração não teve guerra, isso já não existe para a nossa geração. A ideia de ter de ir combater é completamente absurda, não existe, e no entanto existe esse risco. Se calhar não nós, mas talvez os nossos filhos. Mas é absurdo na nossa cabeça. Tendemos a dizer que “basta comparar os deputados que existiam em 1976 com os personagens que existem hoje para perceber a grande diferença”. Sim, porém, é injusto também, naquela altura a pátria estava em risco. E quando a pátria está em jogo, há muita gente que faz aquilo que tem que fazer. Hoje, a pátria não está em jogo… se calhar está, mas é outra coisa. As personagens, em média, são menos interessantes, porque não são obrigadas a ir ao limite… mas há figuras que podiam estar nesta mesa das grandes figuras da história portuguesa contemporânea. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa são personagens completamente diferentes. António Costa tem uma capacidade política incrível, mas quando olhamos para Marcelo Rebelo de Sousa é um príncipe, gostando ou não de um e de outro, é um príncipe capaz de estar numa barraca de um bairro de subúrbio e de fazer sorrir a Rainha de Inglaterra. Ele estava em palácios e estava em barracas. Ao mesmo tempo com uma cultura extraordinária. Temos figuras com uma capacidade de pensamento e de visão, à esquerda e à direita. Fruto do tempo do maniqueísmo e da polarização, em que as pessoas de esquerda acham que as de direita são uns bandidos saudosistas de Salazar e os da direita acham que os da esquerda são todos vigaristas e corruptos, é uma ideia absurda, e vamos ter de mudar isso. Não faz nenhum sentido. Um país evoluído tem de ter várias correntes de pensamento, porque é na pluralidade de pensamento que conseguimos contaminar-nos positivamente. Como aliás tem acontecido. A esquerda hoje tem e defende ideias que foram primeiro pensadas por democratas-cristãos ou por liberais mais conservadores, e a direita introduziu no seu discurso ideias de esquerda. Este Ficheiros Secretos também tenta esse compromisso. Olho com fascínio enorme para Cunhal, mas também para Francisco Lucas Pires. E não poderiam ser mais diferentes. Há coragem à esquerda e à direita. O maniqueísmo reduz-nos e torna-nos mais pobres. E isso é lamentável.
Como se combate isso?
Há muita gente no terreno a tentar combater isso, sem grande capacidade para o conseguir. A comunicação social, que é um eixo fundamental para que as democracias sejam saudáveis, também se polarizou. Há cada vez mais um aspeto de apologia do pensamento único de um lado e do outro. Por outro lado, na política não há suficientes projetos políticos, à direita e à esquerda, que possam juntos, fora dos grandes partidos, ser muito mais construtivos, porque isso seria importante para que os partidos de poder pudessem tornar-se mais flexíveis e mais tolerantes. Os dois grandes partidos perderam o centro político e têm um problema complicado para gerir, mas vivem em função de uma lógica diferente. Não há novos partidos a nascer. Mesmo o PAN, que nasce com sucesso, depois dilacera-se em lutas políticas internas. Nós achamos que os partidos não morrem, mas eles morrem, e vão morrer e nascer outros, e vamos esperar que eu possa estar cá para ver mais alguns anos.
Os partidos pequenos apanham os “maus hábitos” dos partidos grandes?
Quando estamos nos tabuleiros de poder, mesmo que seja intermédio… E isso aplica-se também aos jornalistas, quando começam a almoçar ou jantar com ministros, ou quando começam a receber telefonemas do líder da oposição ou do primeiro-ministro… Há muito boas pessoas nos partidos, e pessoas medíocres, mas é muito difícil eles não cometerem um erro brutal, que é progressivamente separarem-se do que é essencial, que é a ligação com o mundo real. E isso é um problema da política e do jornalismo. É o estar em bolhas com uma realidade que não percebem que é paralela, porque a realidade do mundo lá fora é diferente. Por isso é que há cada vez mais abstenção, e por isso é que os jornais cada vez vendem menos.
Estas histórias dos bastidores, do que acaba por não ficar nos livros de história, são afinal as mais importantes? E porque é que então a história acaba por esquecer estes encontros?
Isso tem a ver com aquilo que é importante para estes dias, e o importante é sempre a floresta, ou então árvores que sejam tão espetaculares que vendam logo uma boa história. Só nos interessa aquilo que é macro, ou aquilo que sendo micro, é suficientemente “vendável” do ponto de vista comercial. O detalhe deixou de ter lugar no jornalismo. O que não quer dizer que não haja exceções, claro que há, e há muitos bons jornais e muito bons jornalistas. Não sou daquelas pessoas que acham que hoje o jornalismo é menos fascinante do que quando comecei. É igualmente fascinante, mas é diferente. Não há aqui uma diabolização do jornalismo, muito pelo contrário. Nunca o jornalismo foi tão interessante de estar, e tentar mudar e romper como agora. Porém, hoje, uma das coisas que se nota é que a importância daquilo que é o pormenor, a pequena história, se perdeu. Quando comecei no semanário O Jornal, tinha na mesma sala o José Cardoso Pires, o Fernando Assis Pacheco e o Rogério Rodrigues. Não havia mais lugar para um estagiário, só naquela sala, porque ninguém aguentava o peso daquelas figuras. Portanto fui obrigado, e ainda bem, e sofri muito… Mas para eles, o importante era a pequena história, e porquê? Porque a pequena história, que é quase muito próxima daquilo que é o fio narrativo da ficção, determina com muito mais força, as personalidades, os carácteres e a própria história que se quer contar, esta procura da verdade, do que propriamente o macro, onde não entendes muito bem o que se passa. Entendes mais a figura de Durão Barroso quando conto a história do momento em que ele rouba a mobília da Faculdade de Direito – e rouba com boas intenções, intenções revolucionárias…
Isso é possível? [risos]
Ele não rouba por ser um ladrão… Para se conhecer uma figura como Durão Barroso ou Mário Soares faz mais sentido ir a uma pequena história que o define, ou a um relato num Conselho de Ministros? Eu não tenho dúvidas, mas cada vez há menos espaço para contar histórias no jornalismo. E há um grande medo e grande dificuldade no jornalismo de ter textos que se aproximem de uma ideia literária. Esta obsessão com a ideia de que um projeto é mais verdadeiro do que outro e portanto procura a verdade e portanto tem de ser rigoroso e factual transforma o jornalismo num projeto que é muito mais político do que propriamente jornalístico.
O Luís é uma pessoa muito ativa no Facebook, onde escreve crónicas diárias. Qual é a sua visão sobre a relação entre redes sociais e jornalismo?
Há sempre um discurso formatado dos jornalistas sobre as redes sociais, e há sempre um discurso de quem ganhou preponderância nas redes sociais sobre jornalistas. Vou tentar fugir a isso. Tenho mais reações aos textos que escrevo no Facebook nos últimos tempos do que tive nos anos em que fui jornalista. Não são as reações diretas, em termos de comentários, refiro-me a reações mesmo, a até algum ganho de influência quando escrevo o “Postal do dia”. Há 20 anos, se nos falassem desta ideia de existirem plataformas onde qualquer pessoa pudesse dizer o que pensa sem intermediação, diríamos que é uma ideia extraordinária, e é. E diríamos mais, diríamos que era uma ideia que iria ser importante para a democracia, porque permitiria que mais pessoas pudessem ser livres de expressar a sua opinião. Também já sabemos, no entanto, que tudo o que é bom traz em si a semente da sua própria destruição. Porque é humano, e tudo o que é humano traz em si uma semente de mal. Nas redes sociais aqueles que têm bons pensamentos coabitam com aqueles que não têm bons pensamentos, e mais, com aqueles que têm maus pensamentos, que querem coisas profundamente antidemocráticas. Se regarmos ao mesmo tempo aquilo que é luminoso e aquilo que é sombrio, o sombrio cresce muito mais depressa, como as ervas daninhas. No Facebook, por exemplo, coabitam o pior do ser humano e o melhor. O que é perverso é que as redes sociais permitiram que movimentos populistas pudessem atingir o poder, ou ameaçar atingir o poder. A questão é saber: deveremos nós – independentemente de ser muito difícil e subjetivo dizer “mas quem somos nós para dizer que temos bons pensamentos?” – que acreditamos na democracia, desistir dessa plataforma? Eu acho que não, temos é de insistir e pressioná-la a ter a capacidade de conseguir ser um escudo em relação àquilo que vai querer matar todas as plataformas no futuro, aproveitando-se delas. Penso que o jornalismo não tenta aproveitar de uma forma inteligente aquilo que são as virtualidades das redes sociais. Prefere ficar num reduto e dizer “nós somos um farol de decência no meio da informação”. Isso tem de ser abandonado. Não quero voltar ao jornalismo, não tenho essa intenção, mas os projetos que sejam ganhadores no futuro têm de usar essas ferramentas de uma forma muito mais eficaz. Trazer e aproveitar essas ferramentas para o combate por um jornalismo melhor.
Depois há sempre o dilema da liberdade de expressão… onde se desenha a linha nas redes sociais?
A liberdade de pensamento é total. A liberdade de expressão… aí estamos a falar de outra coisa. Ouço muito dizer que “a minha liberdade”, “para ser livre tenho de…” A liberdade coletiva define-se pela soma daquilo que se abdica individualmente para que haja uma liberdade coletiva. Isso acaba por gerar aqui discussões e dúvidas, mas eu acredito que no futuro a questão se vai colocar da mesma maneira que se colocou a questão da segurança. As câmaras de vigilância, as escutas, todo o mundo ocidental encontrou formas de segurança, da esquerda à direita. Na liberdade de expressão, a médio e longo prazo, vai-se encontrar fórmulas para provar que não é um atentado à liberdade de expressão, vão-se colocar limites ao que as pessoas vão poder dizer.
Parece-lhe que este é o caminho mais correto?
Vai haver um momento em que a democracia vai estar em causa, e vai implicar escolhas muito corajosas e muito difíceis. Em tese, não será a melhor forma, porque queremos e desejamos que todas as pessoas possam dar a sua opinião, e é isso que nos define enquanto democratas. Mas vai haver um momento em que vai ser colocada a questão. As pessoas que votaram no Trump, que são milhões e milhões, já existiam, estavam era limitadas na sua expressão. Mas o próprio Trump não tem página de Facebook e deixou de poder usar o Twitter. Portanto, já há uma limitação. Quanto à Europa, repara naquilo que está a acontecer na Polónia e na Hungria. O que acontecerá se Marine Le Pen ganha na França? A França vai sair da União Europeia? O que é que acontece ao mundo como o conhecemos? Vão-se colocar essas questões, como se colocaram nos EUA. As redes sociais são catalisadores destes “jogos de bastidores”, ou estragam esse mundo, ao tornar tudo público? Há um lado cerimonial e mais simbólico do exercício do poder. Sei que nesta dimensão de poder político, mas também religioso e cultural, a maior parte daquilo que verdadeiramente importa nas decisões das pessoas, não sabemos. Não sabemos nem conhecemos – e é um bom tema para um Ficheiro Secreto para daqui a dez ou 20 anos – exatamente o que é que o António Costa e Jerónimo de Sousa conversaram quando nasceu a Geringonça… Foi num restaurante, em casa de algum deles, nalguma sede? Como fintaram os olhares das pessoas? Como é que o Bloco de Esquerda entrou? Também não sabemos o que Marcelo Rebelo de Sousa disse ao ministro da Defesa, no caso de Tancos, quando o ministro da Defesa saiu de lá com ar contristado. Também não sabemos o que disse a Rui Rio quando saiu a achar que Marcelo tinha puxado o tapete. Vão sempre existir pessoas para quem a superfície é sempre mais importante do que qualquer profundidade. Aí os líderes populistas vivem muito, por definição, do contacto direto com as pessoas. Mas o poder mais institucional vive muito daquilo que são as quatro paredes. Eu acredito que devem continuar, mas existem perigos muito grandes. Esta vontade de tudo escrutinar e saber, leva a que muitas vezes se perca esse lado, que eu acho importante. Eu não quero saber como determinadas coisas acontecem. Uma coisa é a transparência em relação àquilo que são os negócios, de onde vem o dinheiro e para onde vai, em termos de corrupção. Agora, como dizia o Bismarck, as leis são como as salsichas. Gostamos, e precisamos delas, mas é melhor não sabermos como são feitas, porque o sabor já não vai ser o mesmo.