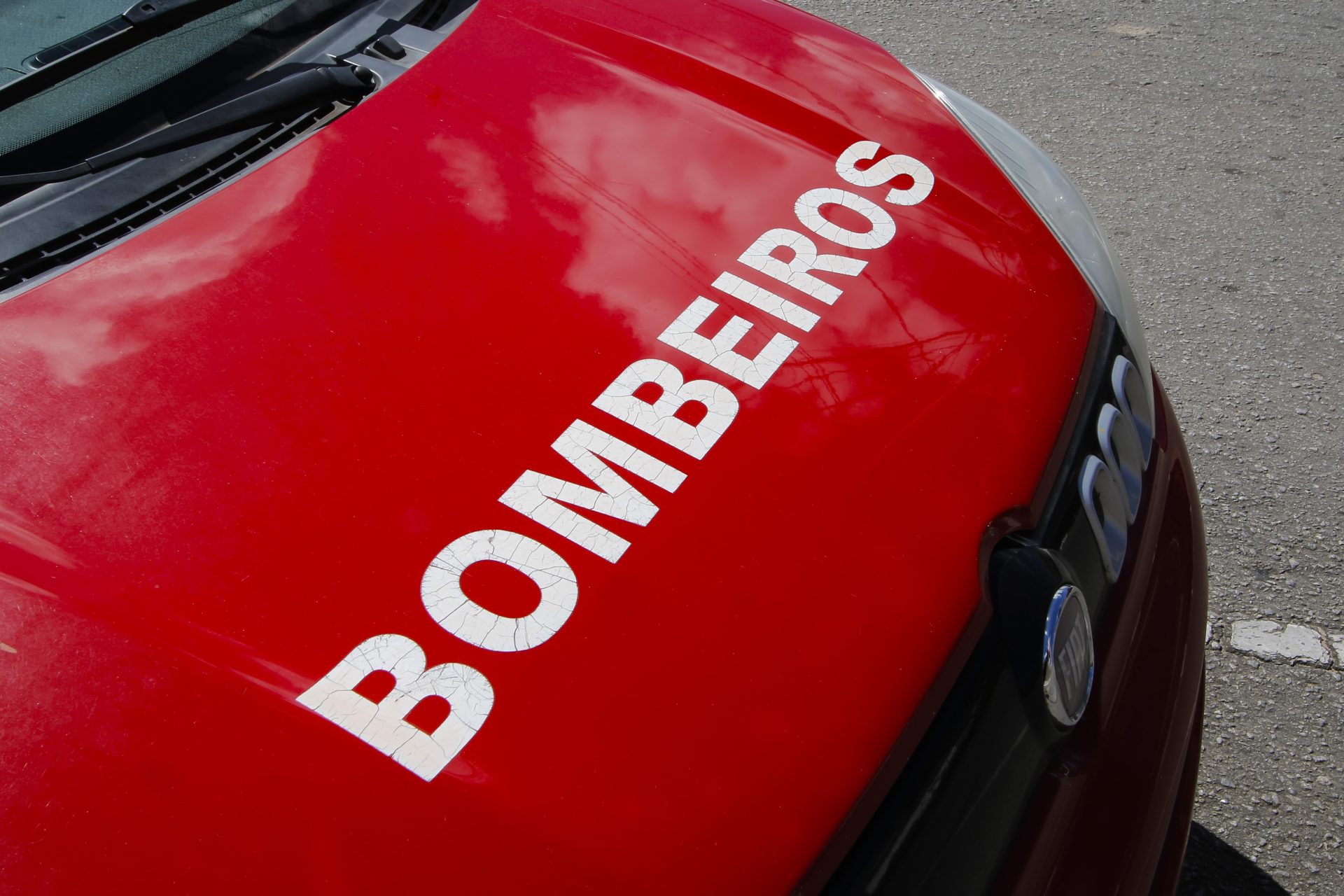A Liga Portuguesa Contra o Cancro fez 80 anos em abril. Vítor Rodrigues, professor de Medicina Preventiva e Epidemiologia na Universidade de Coimbra, presidente da instituição desde 2019 – e com mais uns meses de mandato pela frente até voltar às bases –, faz parte da casa com perto de 15 mil voluntários desde 1975, quando começou a andar de super-8 a fazer educação para a saúde nos liceus de Coimbra e fala do que o preocupa depois de um ano de pandemia. Acredita que os impactos na oncologia só se verão a médio e longo prazo mas já antes havia reflexões e mudanças a fazer num país mais envelhecido e com cada vez mais sobreviventes de cancro. O que falta ao SNS? Orçamentação adequada e mais atenção às pequenas coisas que podem melhorar a qualidade de vida dos doentes.
Houve menos consultas, menos rastreios, menos exames, menos cirurgias. Quanto tempo se andou para trás na resposta ao cancro num ano de pandemia?
Não sei se andou muito. Temos uma diminuição grande nos diagnósticos, os IPOs falam de uma quebra de 20% na referenciação de doentes. Com base nisso, conseguimos fazer algumas contas. Se pensarmos que temos 55 mil casos de cancro diagnosticados por ano, 4500 por mês, teremos tido 900 casos de cancro cujo diagnóstico foi sendo adiado mas que entretanto foram sendo detetados.
Apontou no início do ano para mil diagnósticos em atraso. Ainda não há dados mais exatos?
Não. Em março do ano passado parou tudo. Não sabíamos nada sobre o vírus e por isso houve aquela dificuldade inicial em responder, cá como na Europa. Tivemos depois a sorte de ter um setor oncológico bem organizado, que já estava habituado a regras e procedimentos e logo em abril houve uma norma da DGS que introduziu alguma ordem no sistema de atendimento hospitalar oncológico. A partir daí esse setor dos hospitais até foi funcionando bastante bem.
Para os doentes que já estavam no sistema.
Sim, o problema foi sobretudo o acesso. Houve uma grande diminuição nas consultas dos centros de saúde e nos exames de diagnóstico. Mesmo nos últimos meses os centros de saúde continuaram ocupados com a vacinação e os recursos existentes não dão para tudo. Quem entrou no sistema, melhor ou pior, foi-se controlando, mas tivemos menos suspeitas avaliadas.
No caso dos rastreios, caíram para metade. É aí que se nota o maior retrocesso?
O rastreio do cancro da mama teve parado três meses. Retomou em junho. O Norte esteve a negociar o protocolo com a ARS e depois de retomarmos o rastreio estamos a ter algumas dificuldades de recuperação porque não podemos rastrear o mesmo número de pessoas que rastreávamos antes por razões de segurança e higiene.
A saúde fica mais lenta.
Sim. Neste momento, em termos de rastreios diários, no caso do cancro da mama a situação está praticamente normalizada, a questão é que temos de recuperar o que não foi feito no ano anterior e isso vai implicar medidas como alargar os horários de atendimento das unidades móveis da Liga, trabalho extraordinário ao sábado, eventualmente a compra de unidades adicionais. Na parte do rastreio do cancro do colo do útero e do colorretal, que está mais ligado operacionalmente aos centros de saúde, a recuperação será mais demorada. Toda a perturbação deste período vai com certeza ter um impacto, levar a uma diminuição na sobrevivência, algum aumento da mortalidade, mas só o conseguiremos ver mais tarde.
No Reino Unido um estudo estimou que poderia haver 3500 mortes adicionais por cancro evitáveis, por atrasos no diagnóstico. Cá há alguma projeção?
Não temos tanto essa tradição de monitorização e avaliação, mas com certeza que com diagnósticos em estadios mais tardios e doença mais metastatizada do que era habitual haverá mais mortalidade que seria evitável.
O diretor do programa nacional de doenças oncológicas da DGS disse esta semana ao Público que ainda não se vê o “tsunami de casos de cancro” de que se tem falado. Mas veem-se diagnósticos mais tardios.
Penso que a terminologia não foi a mais adequada. Penso que ninguém falou de tsunamis, tem-se falado de vagas em analogia à pandemia. Se temos atrasos de diagnóstico, esses casos vão aparecer e já têm estado a aparecer. E o que digo é “oxalá que haja uma vaga”, porque significa que o que está atrasado é rapidamente atendido. Agora, como ele diz, só vamos ver esse impacto mais tarde.
Que relatos vos chegam de diagnósticos mais atrasados?
Cancros da cabeça e do pescoço, urologia, pulmão, estômago. São sobretudo os tumores em que o diagnóstico já é à partida mais tardio, que têm um crescimento habitualmente mais rápido e em, que por isso, o tempo para atuar é inferior.
As pessoas tinham queixas?
Em alguns casos. As pessoas tiveram medo, sobretudo no início com aquelas imagens de Espanha e Itália. O cancro aparece mais em pessoas de idades mais avançadas e foi em relação a essas que a pandemia causou maior receio. O que tentámos, e julgo que as diferentes instituições tentaram, foi a partir de certa altura reduzir o receio excessivo de procurar cuidados de saúde.
Podia ter-se feito mais para combater esse receio?
A comunicação teve falhas, mas teve falhas em todo o lado e por todos. Neste momento é fácil falarmos de março de 2020 mas o conhecimento era muito limitado, a própria OMS não recomendava máscaras. É fácil lançar culpas e responsabilidades mas creio que todos temos aprendido. Estamos agora numa fase diferente, as vacinas vieram mudar tudo. E é importante que se diga uma coisa: a tecnologia que permitiu estas vacinas estava lá, os Estados investiram e as coisas aconteceram. Isto leva-nos para uma velha questão: se a sociedade estiver disponível para colocar dinheiro na saúde, os resultados aparecem. Foi uma das lições da pandemia.
Antes de irmos aí, depois do medo do vírus, não pode haver uma fase de receio do diagnóstico, alguma vergonha de não se ter ido mais cedo ao médico?
Penso que tirando o medo da covid, que se vai desvanecendo, se as pessoas tiverem sinais e sintomas vão recorrer aos serviços de saúde. E aí os serviços têm de estar organizados para responder. Quando uma pessoa que até tinha algum receio vê que os amigos, os vizinhos, foram e houve capacidade de resposta, também irá. A vergonha esquece-se rapidamente se a pessoa tiver necessidade e não há ninguém que a irá culpar. A partir do momento em que dermos serenidade às pessoas, e isso é importante neste momento, vão aparecer. E por isso digo, se tivermos uma pequena vaga de novos diagnósticos, ainda bem, são as pessoas a voltar. Anseio por isso.
Não vê o SNS mais robusto depois desta crise?
Reforço financeiro houve seguramente para a covid, resta saber se vai continuar depois da pandemia. Também se fala agora no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em investimento para a saúde, equipamentos, infraestruturas…
Antes da bazuca já havia um programa de investimentos.
E alguns têm acontecido, mas temos de ir ao plano micro. Se temos equipas domiciliárias, que acompanham doentes oncológicos e não só, que às vezes não têm material decente para trabalhar, não conseguem ter maior eficiência.
Não têm o quê? Carros?
Carros, estetoscópios, batas. Até pode estar comprado, mas os processos burocráticos de aquisição de material no Estado são muito lentos. Ainda bem que, pelos vistos, vêm aí muitos investimentos, mas tem de haver dinheiro para o dia-a-dia. Passando a metáfora, não vamos estar a comprar carros de topo e não ter depois dinheiro para a gasolina, não ter gente para meter gasolina, não ter bombas para abastecer. Não vale a pena comprar grandes equipamentos de imagiologia se não houve capacidade de contratar técnicos. Há muitos anos, por exemplo, foram-se encontrar mamógrafos que nem tinham sido desempacotados. Há uma necessidade de equilíbrio entre investimento macro e micro e isso tem de ser estudado, planeado.
Em 2020 a Liga gastou 1,2 milhões de euros em apoios como medicamentos, próteses, transportes. Sente que são complementos ou que há momentos em que suprem um papel que devia ser assegurado pelo Estado?
A Liga como instituição de solidariedade tem um papel complementar ao Estado, não se deve substituir. Agora sim, sentimos isso em alguns momentos. O que é aflitivo é haver uma população pobre, em que há muitas pessoas que precisam de apoio para ajudar na compra de medicamentos, daquela parte que o Estado não comparticipa, de alimentos, de despesas da casa, de necessidades básicas. No caso de um doente com cancro, são pessoas que ficam duplamente fragilizadas. Portanto não é caridade o que fazemos, é solidariedade.
O Estado devia ir mais longe? Denunciaram recentemente atrasos nos atestados médicos de incapacidade que dão acesso a isenções fiscais.
Penso que a sociedade tem a sua quota-parte em que se deve responsabilizar. Não tem de ser sempre o Estado e é bom que as pessoas se organizem. Agora há problemas evidentes e esse dos atestados de incapacidade é um deles. Já tínhamos alertado antes da pandemia que havia imensos atrasos. Com a pandemia, as juntas médicas praticamente deixaram de se realizar. Se todos os meses tivermos 4500 novos casos de cancro, mais as outras doenças com mais de 60% de incapacidade, basicamente temos milhares de pessoas que não podem aceder aos benefícios fiscais que foram criados para aliviar a sua situação enquanto não tiverem esta avaliação.
Quanto tempo de espera? Há uns tempos falaram-me de um ano.
À vontade, antes da pandemia já chegava a ser de nove meses. São milhares de pessoas à espera de junta médica. Em abril foi aprovado uma lei com um regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiúso para doentes oncológicos mas ainda não foi regulamentado. É um assunto que já devia ter sido resolvido e em que o Governo podia ter sido mais ágil.
Percebe por que não foi?
Todas as instituições puseram a atenção na covid-19. Se nós nos assustámos, imagino o susto e o pandemónio que foi no Governo, no Ministério da Saúde, na DGS, nas instituições de saúde. E sei que às vezes há ordens que não atingem os destinatários. Penso é que já passou esse tempo e a partir do momento em que tivemos um verão algo descansado podíamos ter feito muito mais. Na minha opinião houve dois “pecados”: não ter aproveitado o verão para planear a resposta e o futuro e o segundo foi não ter sido feito um confinamento que, até podia ter sido mais leve, mas no momento oportuno e ter-se deixado escalar a situação. Na última semana de dezembro e nas duas primeiras de janeiro, dever-se ia ter atuado mais cedo.
Vê agora mais algum alçapão?
Vejo sobretudo em termos económicos. Quando as moratórias acabarem de vez, quando as pessoas, as empresas, tiverem de voltar a pagar rendas de casa e outros compromissos, teremos uma fase muito complicada. E daí virão mais problemas de saúde, física e mental. As determinantes de saúde são sobretudo socioeconómicas: vai haver mais doença. O problema é que Portugal é um país mais pobre do que outros países europeus. Temos de aprender uma coisa de uma vez por todas: a saúde não é só um bem pessoal. O investimento em saúde tem um retorno económico brutal, seja em diminuição de carga de doença, de mortalidade prematura, de absentismo e num ponto de que não nos lembramos muito que é a qualidade de vida. Somos dos piores países europeus em termos de qualidade de vida a partir de certa idade.
Somos dos países europeus com menos anos de vida saudável após os 65 anos.
Sim, por isso continuamos a ter um enorme caminho a fazer, em particular junto dos mais velhos, que foi uma das áreas que a pandemia revelou. Temos uma carga crescente de doença crónica e não podemos ter “depósitos de velhos”.
Entramos na sua área. Especializou-se em saúde pública, em medicina preventiva e em epidemiologia – que se tornou tão popular com a covid-19 – mas focado nas doenças crónicas. Tem sido um parente pobre nesta área?
Sim e permita-me uma crítica a quem a quiser receber: a epidemiologia trabalha muito com dados mas têm de ser padronizados e ter boa qualidade. E nós não estamos habituados a ter dados disponíveis e padronizados, às vezes parece que não interessa muito.
Dava jeito já ter mais dados por exemplo do registo oncológico nacional?
Saíram há um mês os dados de 2018. É normal haver algum atraso….
É preciso estudar a sobrevivência a cinco anos.
Só foram publicados dados de incidência, não quer dizer que não os tenham. Aqui voltamos à questão dos investimentos: não vale a pena ter um registo oncológico nacional ou regional se não tivermos capacidade de irmos buscar os dados onde existem. Estes dados de 2018 estavam previstos para há um ano atrás. Veio a pandemia e é compreensível, mas se não tivermos sistemas de informação e pessoas dedicadas a registar os dados, isto não funciona. Espero sinceramente que um dos poucos bons efeitos secundários da pandemia seja que as pessoas percebam que não é só ter dados, é preciso que sejam de qualidade e bem utilizados.
O que lhe fez confusão ao longo destes meses?
Falar-se de 200, 300, 400 casos por dia. Diz-me pouco. Importa talvez em termos de análise temporal, mas fazem mais sentido os indicadores que temos agora que dão uma tendência e a incidência. Depois, estar a trabalhar com dados de há 14 dias. Numa situação dinâmica, temos de trabalhar com os dados de hoje. Outro ponto, tratar o país todo como se fosse todo igual. Devia tratar-se igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente.
Comparar região Norte com Lisboa, ter mais cuidado com os concelhos mais pequenos?
Não devíamos ter fechado alguns concelhos que não tinham casos quando havia outros que tinham casos. É preciso avaliar sempre localmente. Isso agora tem sido implementado.
No final do verão havia alguma resistência do Governo em relação à avaliação por concelho por poder criar uma estigmatização.
Perderam-se meses, é daqueles aspetos com que não me conformo. É evidente que aquilo que aconteceu em janeiro foi uma tempestade perfeita. Agora estamos numa situação diferente, em que já temos uma percentagem apreciável da população com pelo menos a primeira dose da vacinação, tivemos uma terceira vaga antes de outros países e grande, por isso há também mais imunidade natural.
Não ficou preocupado com os festejos do Sporting?
É evidente que foram muitas pessoas, mas acho que a maioria das pessoas continua a ter muito cuidado. Estou convencido de que vai haver um aumento de casos, mas não atingirá, de modo algum, os valores de janeiro. Seria muito pouco provável voltarmos a ter uma quarta vaga daquela magnitude, exceto se aparecer alguma variante com resistência às vacinas.
Aderimos a máscaras, ao álcool-gel, para não falar de todas as outras limitações. Foi uma mudança radical mas parece mais difícil deixar de fumar, perder peso.
Mesmo em relação às máscaras, estamos a habituados a ver os asiáticos no inverno a usar sempre máscara mas fazem-no para proteger os outros. Aqui o que está metido na nossa cabeça é que a máscara é para nos proteger a nós próprios. É uma filosofia diferente, por isso não sei até que ponto vamos interiorizar o uso de máscara nas situações em que podia fazer a diferença em termos de saúde pública, por exemplo no próximo inverno em que podemos já não ter impactos tão graves da covid-19 mas teremos gripe depois de dois anos mais moderados, em que existe por isso menor imunidade. Penso que continuarão a ser usadas nos hospitais, nos locais de maior exposição, mas estou curioso. Nas outras questões, a mudança é individual e exige esse esforço, Em termos coletivos, são mudanças que levam gerações. Há 20 anos fumava-se dentro do carro quando estava uma criança. Agora já não. São coisas que vêm sobretudo com a censura social. Sem isso, ou os políticos obrigam ou não conseguem nada. A predisposição para a mudança de hábitos é individual.
Um epidemiologista especialista em doenças não transmissíveis está habituado a esperar.
Que remédio. Há 40 anos havia muitas coisas que não sabíamos, a ciência vai evoluindo. Quando nos perguntavam se o cancro era provocado por algum agente infeccioso, dizíamos que não, não sabíamos que havia cancros ligados a agentes infecciosos (colo do útero, estômago). Mesmo a hereditariedade pensava-se que tinha um peso menor. Mudou tudo. No IPO fumava-se. Nas escolas fumava-se. Indo mais atrás, os portugueses despediam-se dos soldados que iam para a guerra oferecendo como prenda um maço de tabaco. Como será daqui a 30 anos?
A epidemiologia da covid-19 não é igual em todo o país. No caso do cancro, que diferenças geográficas o preocupam mais?
Aquelas que se refletem na acessibilidade. Temos um problema difícil para resolver. Sabemos que a luta contra o cancro é feita em dois pilares: a qualidade dos tratamento e o diagnóstico precoce. No que diz respeito a rastreio, estamos atrasados sobretudo no rastreio do cancro colorretal.
O diretor do programa nacional de doenças oncológicas falava da necessidade de fazer 900 mil rastreios por ano, fizemos neste ano de pandemia 148 mil.
Mas aí o maior problema, que já havia antes da pandemia, é a falta de recursos para fazer mais colonoscopias. Enquanto não tivermos recursos de colonoscopia, não vale a pena estar a pensar em generalizar mais os rastreios com análises porque depois os hospitais não dão vazão. Mais tarde ou mais cedo, teremos de pensar no rastreio do cancro do pulmão.
Como seria?
Com as chamadas TAC de baixa dose de radiação. Daqui a dois ou três anos provavelmente irá avançar. Neste momento já existem experiências em Inglaterra e na Holanda.
Rastreios regulares a fumadores?
Sobretudo a fumadores, entre os 50 e 69 anos ou 74 anos, ainda está em estudo. Em termos de qualidade dos tratamentos, penso que o grande desafio será a organização dos sistemas de saúde, que tem de ser adaptada ao facto de não haver um cancro mas vários tipos de cancros. Alguns necessitam de tratamentos muito especializados outros não. Não podemos obrigar pessoas de zonas densamente povoadas a deslocarem-se todas, nomeadamente para o litoral, mas também não conseguimos pôr hospitais altamente diferenciados em todo o lado.
Como se resolve?
Precisamos de uma política de transportes mais adequada.
Somos um país pequeno. No dia-a-dia, o que é mais gritante?
Com algum exagero, não podemos ter uma carrinha dos bombeiros, o chamado transporte de doentes não urgentes, a ir às 5, 6, 7 da manhã às zonas raianas buscar doentes para os trazer por exemplo a Coimbra, termos quatro ou cinco pessoas que vão fazer tratamentos a horas diferentes e só quando o último acaba é que regressam a casa, onde chegam às 8, 9, dez da noite. É uma situação que tem de ser resolvida.
Com transportes individuais?
Ou com soluções diferentes, residências para doentes, algum tipo de colaboração com entidades sociais ou privadas para que estas pessoas possam pernoitar no dia anterior para no dia seguinte fazerem os tratamentos nas melhores condições físicas possíveis ou repousar depois.
Há piores resultados nos doentes que têm de deslocar-se mais?
Imagine que vive em Vilar Formoso, precisa de fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia às 10 da manhã. A pessoa normalmente não sai da quimioterapia em grandes condições físicas e está à espera que o último doente acabe às 6 da tarde. A que horas chega a casa? Quase diria que é desumano. Não temos dados que digam se há piores resultados, mas é bom senso. O conforto das pessoas tem de ser visto como um fator de recuperação, não de gasto. Não podemos continuar a ver um transporte de pessoas que não é ao monte, de modo nenhum, mas é agregado. A humanização não passa só pelas condições dos hospitais, passa por todas as condições que conseguimos dar às pessoas para terem melhores condições de vida.
Nos hospitais, já existe mais conforto?
Vai melhorando mas os hospitais estão focados no diagnóstico e tratamento, consequentemente dão mais atenção isso, o que é natural. Mas tem de haver foco no resto. Se um doente está com problemas de nutrição, responderá mais dificilmente ao resto se isso for atendido. Não perdendo a noção do macro, temos este défice de olhar para o aspeto micro, coisas que muitas vezes são facílimas de resolver.
É a realidade com que contactam na Liga?
Sim, as pequenas necessidades do dia-a-dia, que é o que vamos tentando resolver. Por exemplo, um doente com cancro da cabeça e do pescoço, lembrarmo-nos que devia ter um aparelhozinho que custa meio euro ou um euro para triturar os comprimidos. Ou um copo daqueles de bebé, com bico, porque pode ter dificuldade em beber por um copo normal.
São coisas que os serviços não dizem, que os médicos e enfermeiros não dizem?
A atividade do dia-a-dia é de tal modo intensa que às vezes passa. E às vezes o doente não se queixa ou não sabe que aquilo existe. Esse copo custa 10 cêntimos, 20 cêntimos, são coisas pequeninas que podem fazer diferença. Os cremes na radioterapia, por exemplo, o cuidado para não queimar a pele, muitos são comparticipados mas às vezes os doentes nem sabem que existem. Acho que não devemos responsabilizar o profissional de saúde, tem tanta coisa para fazer que passa, mas temos de tentar ter este cuidado de humanizar os cuidados.
Em pandemia, como ficou esse esforço de humanização nos hospitais?
O distanciamento físico foi muito difícil. Nós, latinos, gostamos de nos tocar, de um aperto de mão, uma festa e isso praticamente desapareceu. Um aspeto que foi muito lesivo foi os acompanhantes deixarem de poder entrar, ao mesmo tempo que os voluntários hospitalares também não puderam estar nos hospitais.
Os doentes estão mais perdidos?
Estão. Verbalizam-nos muito: “Que fazem falta os voluntários da Liga”. Mais tarde ou mais cedo será recuperado. Acompanhar um doente, dar-lhe um sorriso, dar-lhe uma festa no braço, são tudo coisas a que só damos importância quando deixamos de as ter.
Nas grandes cidades há uma oferta privada crescente. Para lá do conforto, há diferenças nos tratamentos?
A maior parte dos resultados para o mesmo tipo de doente e patologia são semelhantes. Em termos hoteleiros, é evidente que muitas vezes o privado é melhor do que o público. Em termos de qualidade, há excelentes unidades privadas e piores unidades privadas, excelentes unidades públicas e piores unidades públicas, médicos excelentes e médicos piores. Há de tudo. O problema aqui é também outro: no fim da linha, quando começa a haver tratamentos muito caros e necessidades tecnológicas muito grandes, na maior parte dos sítios as pessoas são enviadas para o público.
Já houve recomendações do regulador da saúde para informar devidamente os doentes. Há má fé dos privados, falta de esclarecimento dos doentes?
Não acho que haja, é a forma como o sistema está construído. E o público tem de receber muitas vezes os doentes que o privado não quer.
Pode ser diferente ou quem tem um seguro ou mais meios vai sempre tentar ter resposta mais rápida?
O doente rico trata-se com mais facilidade do que o doente pobre. Acho que precisamos de raciocinar sobre o tipo de sistema de saúde que queremos. Temos um sistema de saúde beveridgeniano, que é a cópia do sistema de saúde inglês, assente em serviços públicos de saúde, de cuidados de saúde primários e hospitalares. Depois há o sistema bismarckiano, mais assente no privado e em seguros. Ou queremos um, ou queremos outro. Nenhum deles é melhor do que o outro, eu pessoalmente gosto mais do nosso. Agora quando se começa a trabalhar com sistemas mistos em que não se sabe exatamente quais são as fronteiras, aí é que começa o problema. E, por outro lado, temo – e isto não é crítica para ninguém – que o Serviço Nacional de Saúde se transforme num Serviço Nacional de Saúde para os pobres.
É um alerta que se ouve há vários anos. Não vê essa trajetória ser invertida?
De modo nenhum, penso que não. Uma coisa são as declarações dos políticos, outra é a realidade. Se tivermos um SNS dirigido para o pobre, de certeza que vamos ter um SNS pior do que o outro sistema. Penso que deveríamos ter aquilo que diz a Constituição: um sistema público, um sistema privado e um sistema social mas que trabalhem com honestidade intelectual em conjunto e em complementaridade. E aqui os nossos políticos e governantes é que têm de ser o garante de que isso acontece.
Em que vê o empobrecimento do SNS?
Costuma-se dizer que o nosso SNS é subfinanciado. Penso que o problema é ser sub-orçamentado. Isto é, no fim do ano acaba sempre por aparecer dinheiro para tapar buracos, mas não são dadas condições para uma gestão como deve ser.
No final do ano pagam ineficiências e não o cumprimento de metas.
Sim, por isso penso que temos de definir o que queremos e depois arranjar as melhores soluções para atingir objetivos. Quando digo que gosto muito do nosso serviço de saúde, é também porque entendo que foi um fator de coesão social após o 25 de Abril, juntamente com as farmácias, com os correios, e isso deve ser mantido, juntamente com as extensões de saúde. Precisamos de um novo paradigma de proximidade, desde logo na área oncológica. A partir do momento em que passamos de um paradigma de alta mortalidade e baixa sobrevivência do cancro para ter cada vez maior sobrevivência, temos cada vez mais sobreviventes que precisam sobretudo de respostas perto do seu local de residência. Cada vez mais pessoas vão morrer com cancro e não de cancro e precisam de respostas locais.
O que o impressionou mais nestes meses?
Muitos idosos deixaram de ver as famílias, muitos morreram não de covid mas por causa da covid. Não entraram nas estatísticas. São marcas que ficam. Uma das coisas que me perguntavam era: vou ver ou não os meus pais? Os meus filhos querem ir ver os avós, podem ir? Dizia sempre isto é uma questão emocional: se ficarem contaminados por ti ou por o teu filho, conseguem lidar com isso? Algumas pessoas conscientemente preferiam correr esse risco. Estes acontecimentos para-covid foram talvez quantitativamente superiores aos casos covid.
A Liga fez 80 anos em abril. Viveu pelo menos metade desta história.
É verdade, mais de 40 anos já.
Como é que se envolveu?
Depois do 25 de Abril, estava no sétimo ano do liceu e tivemos um ano de serviço cívico em que as universidades estiveram fechadas. Eu e os meus colegas ficámos um ano sem estarmos no secundário e sem poder entrar na faculdade.
Em Coimbra?
Sim. E então oito de nós decidimos ir ajudar na Liga e fazer o que na altura se chamava campanhas sanitárias e hoje é a educação para a saúde. Mudou o meu percurso. Não conhecia a Liga, mas foi através de uma pessoa amiga que nos disse que na altura o presidente do núcleo da região Centro, que era um pessoa extraordinária, o dr. Rocha Alves, que foi diretor do IPO, precisava de jovens. Quem melhor para falar com jovens do que jovens?
E iam falar de quê?
Fatores de risco e hábitos de vida saudáveis, falar do consumo de álcool, de droga, hábitos alimentares. Íamos com aquelas câmaras super-8 que pesavam 25 quilos…
Eram os certinhos?
Éramos um grupo divertido, queríamos fazer alguma coisa pelo próximo. Éramos jovens normais, sem excessos.
Eram bem recebidos?
Muito bem. Na altura ainda havia uma fome maior de informação.
O que é que um miúdo de 16 anos não sabia?
Nas zonas mais rurais, nada. Não sabia o que fazia o álcool, não sabia os efeitos do tabaco, não sabia que frutas e vegetais eram benéficos – mas comiam-nos. Havia um desconhecimento total do que era a menarca, a menopausa, como se transmitem doenças. Algumas raparigas pensavam que podiam engravidar se sentassem na mesma sanita que um homem. Cancro na altura era sinónimo de morte.
Foi uma das grandes diferenças nestes 40 anos?
Continua a ser uma doença grave, mas a perceção não tem nada a ver. Na altura na grande maioria dos casos um diagnóstico de cancro era sinónimo de morte, também porque os diagnósticos eram tardios. Fiz pouca clínica, mas ainda vi casos de tumores, o tumor da mama que os livros descreviam como a mama com casca em pele de laranja. Hoje em dia praticamente não se veem esses casos. Prolapsos uterinos, situações inimagináveis,
Sofreu-se muito.
Muito. E enquanto dantes se dizia morrer de doença prolongada, hoje pode dizer-se cancro.
E diz-se sempre?
Na grande maioria dos casos fala-se disso e essa abertura é fundamental para que as pessoas percam o medo de recorrer aos serviços de saúde. Cada vez mais as pessoas têm noção de que a saúde é algo que pertence a elas próprias. Os mais novos não fazem a mínima ideia do que era um país altamente atrasado, pobre e nos últimos 40 anos tivemos uma evolução brutal. Temos atrasos, temos ainda pobreza mas a evolução social, económica, não tem nada a ver.
O que gostava de fazer nos próximos meses, até o seu final de mandato?
Continuar a ajudar as pessoas. Não sou daqueles que acho que devo deixar o meu dedo. Acho que devo continuar o dedo dos outros. O trabalho mais importante da Liga é o dos voluntários que estão no terreno: identificar problemas, dar literacia, encontrar soluções. É uma honra estar na direção desta casa e daqui a seis ou sete meses saio mas vou continuar na Liga, claro.
Muda muito trabalhar com cancro?
Às vezes não é fácil, sobretudo quando atinge a família e amigos. Mas todos somos a soma do que há de bom e de mau ao longo da vida. Já foi muito pior trabalhar com cancro. Hoje é uma doença crónica. Muitas das pessoas que vemos na rua têm cancro ou tiveram cancro. Ninguém nota e as pessoas fazem a sua vida normal. Na adversidade vê-se o que as pessoas têm de melhor, a coragem. Mudam muitas vezes o tipo de vida. Começaram a olhar para a flor, para os amigos, para a família, aquilo que devemos ter como mais importante no dia a dia e não conseguimos ou nos esquecemos de apreciar. Pode acontecer com qualquer um. Estou a lembrar-me de um amigo que teve um cancro, passou o tratamento e passado um tempo vejo-o todo o descansado a tirar fotografias. Antes da doença trabalhava das 8h à meia-noite. Disse-me estou a tirar a fotografias, sempre quis tirar fotografias. Já morreu, mas teve uns anos de excelente qualidade de vida. Há muita gente a quem isto acontece. As coisas importantes da vida mudam.