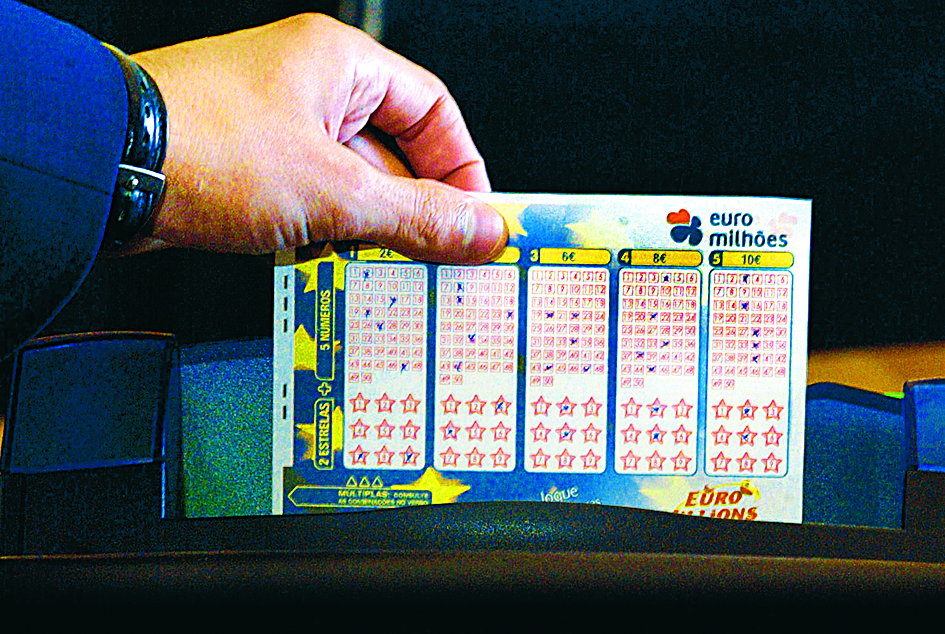Num livro como este, tudo começa por nos ser estranho. A primeira confiança que se gera ao sentir uma paisagem sussurrar de si para si mesma esses ritmos, cuspir as suas pulsações, é a de que transpira como uma natureza viva. Entramos ali e andamos um bom bocado à toa, como quem se força, e aguarda que os sentidos se adaptem. No caso da poesia, o idioma é um apoio. Mas são os sons que estão lá como sombras dançando entre as palavras e não o sentido. Esse mantém-se esquivo, e se lhe jogamos a mão demasiado cedo, ou morde ou furta-se-nos. Damos por nós a pegar num pau ou numa pedra rogando às leis físicas que tenham a paciência de florescer.
Um dos primeiros versos que se destacou para mim senti-o como se tivesse visto passar-me à frente “a pedra perdida dos passos”. Eduarda Chiote parece redigir tudo primeiro só com palavras incapturáveis, avessas a formarem quadros familiares. O seu português dá a sensação de ter sido levado muito novo daqui e de que voltou cheio de marcas de confrontos que lhe eram até então inexprimíveis. Veio, assim, marcado dessas lutas, desse corpo a corpo que obriga a língua a readquirir uma graça de bramidos, gemidos, galhos quebrados, expressões cosidas em desespero, frases guturais.
Esta poeta gosta que o som lhe dite mais qualquer coisa, a guie, deite essa sombra que cobre os sentidos todos ao mesmo tempo. Mesmo as referências mais comuns foram reapropriadas; a Bíblia surge com menos páginas, desbastada, com episódios deslocados, mutilados, rumores desavindos, e, mesmo antes, há rabos de mitos como de lagartixas, naqueles estertores que fazem deles adaptações miúdas, bruscas, frescas. Aqui sente-se o gosto com que a tradição ainda agita o idioma e lhe faz cair em torno, quantas tardes, algum fruto, preciso, radioso, não só de comer, mas de se vestir ou pintar e perfumar com ele.
Em grande medida esta língua está marcada pelos usos de náufragos, desses seres que, através da solidão, fizeram ilhas, e o que têm para nos dizer desde logo é como “sobreviver, nestas condições, as de um tão estóico silêncio”. Como quem desenha um mapa no chão, e tenta assim realizar a sua memória fisicamente, sugerindo o recurso de se “devolver a pedra à perda”. Pôr coisas no lugar do que é difícil exprimir precisamente. Povoar-se de sinais.
Um poema é uma experiência radical disto mesmo. Realizar com algo tão rudimentar um mapa que pode traduzir o universo numa escala de intimidade. Assim, nestas páginas as assonâncias são bolsos em que a memória perde e reencontra coisas que lhe são necessárias, num esforço por ir “limando os pregos do luto feliz”. Aqui a urdidura dos ritmos é um modo de calar o excesso que fere, e ainda pôr-se cantando, servindo-se de um “sábio temor”, desse “amoroso respeito” e da “administração de um pudor”.
Italo Calvino entendia que a poesia nasce de um germe que se traz cá dentro durante muitos anos, se calhar desde sempre, dizia ele, e assim nela toda a sedução era devida a uma maturação tão lenta quanto secreta. Ou pode falar-se em feridas que sabem distender-se ao longo de uma vida, e assim se entende a “feroz dor onde repousa a natureza que do espírito vem”, como diz Eduarda, citando alguma voz que dentro de si tomou um rumo próprio.
Não quero levitar excessivamente nesta teia de impressões de leitura, mas há autores e obras mais particulares que nos dissuadem de rombos ou abalos de interpretação, e com os quais vamos mais longe se tomarmos deles algo como um balanço, esse que em flor de linho, encontra um espinho de carne. Ouvir de alguém o que colheu como quem se suja, como quem traz agarrados desgastes nas dobras de um vestido.
Oiça-se esta passagem: “E o espírito disse-me/ ‘que só à água/ posso pedir resistência do corpo/ e não ao que nele/ se afunda’”.
De um texto, de um poema, podem esperar-se as coisas que não houve. As oportunidades que se falhou, a vida que, de tão verdadeira, ficou trancada numa série de hesitações. Como essas lágrimas mais difíceis de reter, e que a poeta nos diz que petrificam, tornando-se “incapazes de extrair do deserto o gosto ameno do mel”. E aqui roubo a Calvino outra imagem, para notar a implicação com que Eduarda, mais que escrever, se inscreve, se deixa absorver pela matéria que vai da ardência às cinzas na sua atenção, absorvida “como uma planta carnívora absorve uma mosca”. Assim, a mutável essência que é própria dos seus versos é um processo de conhecimento, é um desarranjo firme, uma lição dividida entre si e a realidade.
Esta é uma poesia que repugnaria ao mármore. Nela tudo arranja uma dificuldade para assentar. É uma escrita que não dá demasiada importância ao fim, por mais que tenha sido capaz de compendiar a morte desde a raiz até às variações do luto. “Em verdade, em verdade/ vos digo que, em geral, mesmo os poetas/ da pedra/ se alheiam do peso e pesadelo da/ perda: de recuperar, nela, o voo de um insecto/ agonizando/ em direcção a adormecidos e/ sombrios sismos.”
De resto, considerando a sua morte, a poeta fala-nos “nos surdos contornos de um eco forte”, fala-nos dessas páginas silenciosas que vão caindo como pétalas ao seu redor, e como nelas se lê as notícias “da minha amadurecida; feroz e há muito acontecida morte”. No fundo, a morte trata-se sempre de uma notícia que a princípio não nos diz muito, mas que à medida que vamos avançando também ela avança, tornando-se cada vez mais pessoal, obscena sem deixar de ser sedutora.
E é curioso que Eduarda se refira aos dois gémeos a quem o livro é dedicado, vendo-os dormir, “acabados de nascer e à distância mínima um do outro qual letra de imprensa”. Estas marcas, estes sinais legíveis nos quais lemos o anúncio da nossa desaparição, compreendem um modo de “clara compaixão”, e, ao mesmo tempo, a poeta consegue ser duríssima na descrição do que secou em si, uma “fonte infortunada”, diz. E acrescenta: “taças vazias,/ cardos e silvas, o são agora os meus dois/ seios: rosas de morte.”
Mas voltando atrás, ao nascimento das crianças, veja-se essa ligação, esse triunfo de se despedir do mundo encantado com a sua regeneração: “Querias então, rapazinho, uma/ cigarra/ interrogável dentro da leviandade e leveza/ e mais: da longevidade/ do teu ouvido? – Brinca, brinca de brincar/ comigo: dizias: e eu a teu pedido, qual sombra/ sem segredo, seguia-te até ao mais/ fundo da terra”.
Afinal, a morte não custa nada, a não ser o mundo. E agora cito-vos um poema inteiro: “Passos gelados/ convertem o corpo da paixão/ na lágrima/ única/ que se sobre de sangue/ ao olhar/ face a face/ no sol/ o solitário brilho/ da/ ossatura:/ pois, e o que há nele de apavorante,/ é o que lhe se oferece/ e num cadáver de tenebrosa/ e de intensíssima/ ternura.”
Este livro que Eduarda nos dá, tem algo de tão pessoal como um desses textos que ainda que tragam uma assinatura, é preciso folheá-los, diz-nos ela, como a um álbum de retratos. Fala-nos no silêncio que possui o tempo, que nele se demora e que com isso nos relata a sua biografia. Consegue pôr numa proximidade terrífica, numa mesma página, imagens de uma frieza desoladora e outras de um alento que se torna motivo de júbilo. Passagens que nos fazem pousar o sentido do texto, apreciando a forma como uma pintura estremece de um brilho radiante de tal modo que a tinta nos parece ainda fresca, podendo a sua visão transformar-se diante dos nossos olhos: “Acaso o canto em sangue/ que explode nas amoras? – Pertence-lhes; bem assim/ como a estes frutos/ a cor entristecida de si/ nas silvas;/ mas diz-me, então, em que momento terás perdido a/ fisga que dispara em todos; todos os sentidos?”
Esta poesia é reflexiva, sim, está cheia de cenas e diálogos, sobressaltos, andamos por ela como intrusos a quem as suas personagens e lembranças acotovelam, assaltam, e vemos o autor passar, na “sua obscena dedicação roubada ao texto”. Tanto damos por nós diante de “uma imobilidade coagulada de vermes”, como logo depois nos é dito que “a exigência das migalhas/ devora/ o rigor menino do pão/ que milagrosamente oferece o regaço/ à esmola de quem/ pobre/ mastigou/ estas deliciosas minúcias/ na pele”.
É tudo um tanto convulso, e os efeitos de descrição tal como as coisas lembradas adquirem uma fragilidade, mas depois torcem-se, reviram-se, mostram-se brutais, como quando alguém se vê a si mesmo entregue aos seus vícios e se diz: “Guardavas/ cartas/ de antigos amantes embrulhadas em panos/ de seda – atadas letra a letra: permitindo-te o gozo/ desse delicioso e quotidiano arrumo”. Essa figura que depois se reconhece prisioneira “de uma urgência drogada – desprotegida por/ infância de colo esfomeada”.
Este é um livro inesperado. “Desabafos de restos e de obstáculos”, lê-se num verso mais à frente. Este é um livro sem princípio nem fim. É um trecho vivo de uma obra que não se deixa convencer de que haja apenas um sentido. É uma pedra lançada para dentro da memória e que ouve darem-se lá dentro novos passos perdidos, um sinal de que a vida tem fim mas não tem fundo.