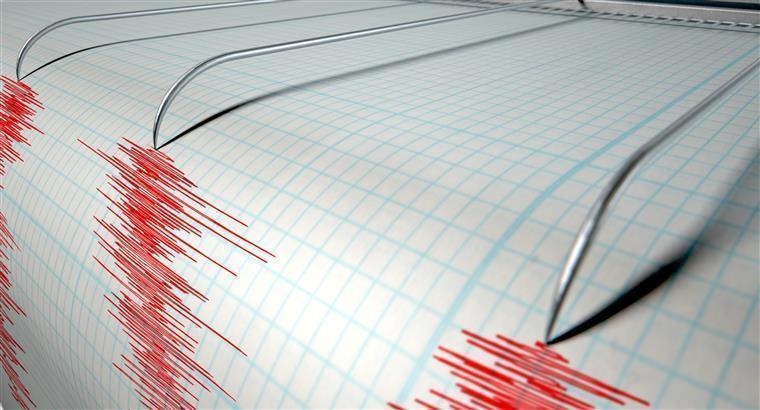O brutal espancamento e violação de Trisha Meili foi o assunto mais quente daquele verão em Nova Iorque. Estávamos em 1989, as taxas de crime na cidade flutuavam bem acima das que hoje vemos e os crimes sexuais tornavam-se um martírio para vítimas e autoridades. No dia 19 de abril, Trisha saiu de casa como de costume para uma corrida no parque, onde foi atacada. Não se recorda até hoje do crime hediondo que a atirou para um coma, seguindo-se uma lenta e dolorosa recuperação. E foi o caso criminal subsequente ao ataque que a cineasta Ava Marie DuVernay usou como matéria numa minissérie de quatro episódios, estreada no ano passado na Netflix, e que relata o tormento pelo qual passaram os cinco jovens acusados da violação de Trisha – crime, como se verá, que não cometeram. When They See Us foi um tremendo sucesso e, mais uma vez, trouxe o racismo para a conversa na hora de pensar o sistema judicial norte-americano.
Para lá dos polícias que entrevistaram de forma coerciva os jovens – os interrogatórios foram levados a cabo durante horas sucessivas, tempo em que foram deixados sem comer ou ir à casa de banho, e ainda sem o acompanhamento de uma figura parental –, um nome destacava-se entre os responsáveis pelo caso. Linda Farstein (interpretada na série por Felicity Huffman), dirigia então a Divisão de Crimes Sexuais e foi a pessoa que coordenou a investigação e subsequente condenação de cinco adolescentes, que ficaram conhecidos como os Central Park Five. Ora, como ficou muito mais tarde provado em tribunal – e como nos mostra a série –, o caso foi mal acompanhado desde o início. Na noite do crime, um grupo muito vasto de jovens, entre os quais negros e hispânicos, tinha ido até ao parque provocar distúrbios. Nos dias seguintes, as autoridades procuraram os autores entre esse grupo alargado de adolescentes. Com o clamor da opinião pública – Trump foi um dos nomes que, à data, defenderam a pena de morte para os adolescentes (chegou a pagar anúncios de jornal de página inteira para tal) –, urgia enviar alguém para trás das grades. E assim foi. A culpa recaiu sobre Raymond Santana, Kevin Richardson, Korey Wise, Yusef Salaam e Antron McCray.
Os cinco foram acusados da violação e espancamento de Trisha e foram condenados a penas de prisão entre cinco e 15 anos – quatro deles, por serem menores, seguiram para estabelecimentos de detenção para jovens, enquanto Korey Wise, por já ter 16 anos, foi encarcerado como um adulto. Não havia provas de ADN que ligassem nenhum dos jovens ao crime, apenas as confissões conseguidas da forma já descrita. Os jovens acabaram por passar o resto da adolescência e início da idade adulta na prisão e negaram sempre a culpa.
Só quando o verdadeiro autor do crime, Matias Reyes, nessa altura já preso por violação e homicídio de outras mulheres, confessou ser o único responsável pelo ataque do Central Park é que a verdade veio à tona – assim como o papel de Farstein no caso. Estávamos em 2002 e, por esses dias, a procuradora tinha deixado o seu cargo para se dedicar dedicou-se à escrita, tornando-se autora de livros sobre crimes.
Em 2014, a cidade de Nova Iorque pôs um ponto final na história ilibando e indemnizando os cinco homens, que receberam, em conjunto, 41 milhões de dólares – o valor mais alto de sempre pago por aquele estado norte-americano. Linda Farstein continuou, mesmo após a justiça admitir e corrigir o erro, a afirmar que os jovens eram culpados – assim como, já agora, Donald Trump. Também a vítima, Trisha Meili, que não se lembra do momento do crime, afirmou que preferia que não se tivesse posto uma pedra sobre assunto, uma vez que acreditava que tinha sido atacada por mais do que uma pessoa.
Uma queixa “frívola” E foi, em linhas gerais, esta a história contada na série, cujo argumento foi escrito por DuVernay, Attica Locke, Robin Swicord, Michael Starrbury e Julian Breece. Só que houve quem não gostasse da forma como a sua personagem ficou na fotografia, como foi o caso da antiga procuradora. Farstein diz ter sido retratada como uma “vilã sem ética” e como uma pessoa racista, e por isso processou no mês passado a Netflix e os responsáveis pela série. Na queixa por difamação, a antiga procuradora, que defende até hoje ter conduzido uma investigação brilhante, afirma que as cenas que a sua personagem desempenhou na série foram “deliberadamente calculadas” para criar um vilão que pudesse ser responsabilizado e crucificado pelo que aconteceu aos cinco jovens e que houve acontecimentos “completamente fabricados”. “Durante a série, são atribuídas declarações a Farstein que ela nunca proferiu, são retratadas ações que ela não fez – muitas delas racistas e sem qualquer ética, e até ilegais – em sítios nos quais ela não esteve nos dias ou horários descritos”, lê-se na queixa, citada pelo Guardian.
Depois da estreia da série, a agência e o editor de Linda Farstein afastaram-se e deixaram de a representar. A antiga procuradora diz ainda ter perdido um “número significativo” de trabalhos como consultora, para além de a sua presença como oradora ter sido cancelada em vários eventos. Farstein afirmou que, depois da série da Netflix, a sua reputação enquanto procuradora ficou “manchada, se não destruída”. E afirma ainda que a sua carreira acabou depois de, 30 anos após o crime, o caso ter voltado a estar sob os holofotes.
A Netflix não recuou e afirmou de imediato que iria manter-se ao lado da realizadora da série, que em 2016 já tinha produzido para a gigante do streaming o documentário The 13th, nomeado para um Óscar e que explorava o problema do racismo no sistema prisional norte-americano.
“Esperamos defender vigorosamente Ava DuVernay e Attica Locke, a equipa fantástica por detrás da série”, afirmou a plataforma em comunicado, considerando que a queixa da procuradora era “frívola”. O retrato feito pela série, contudo, pode ser mesmo daqueles casos em que a ficção imita a realidade, a julgar por uma descrição do caráter de Farstein. Em 1993, após o julgamento de um dos jovens, o juiz Vito Titone, entretanto já falecido, disse numa entrevista. “Eu estava preocupado com um sistema de justiça criminal que toleraria a conduta da promotora Linda Farstein, que deliberadamente arquitetou a confissão de um jovem de 15 anos. Farstein queria construir um nome. Ela não se importava. Ela não era humana”.
A realidade versus a ficção – ou vice-versa – vai ser agora discutida em tribunal.