De um poema há quem tire o suficiente para plantar numa só noite um pomar. Acordar de manhã alguém já com as maçãs tombando, a rolar para esse outro mundo cuja passagem o sonho deixou aberta. Incendeia-se a água ao lavar nela o rosto sujo de tudo o que viu do outro lado. Há versos que ficam pela vida fora de uma mulher mais fundos que os espelhos onde deixou de olhar-se. À cabeceira, uma flauta de atrair pirilampos. São evidências, sugestões, pistas. A admiração ainda é qualquer coisa. Uma ponte que morre a meio, no ar. E numa homenagem sincera a um poeta, outro é capaz de ganhar um instrumento que nunca havia tocado, e naquela hora ser, sem saber bem como, o mais talentoso dos tocadores, escapando à linha geral, à corda que se dá aos objectos desgraçadamente comuns, a esse quotidiano de afinação doentia. Deve haver formas mais claras, mais directas de se abordar um livro. Mas para quê? Já insistimos tanta vez nesses registos cordatos, em descrever com extrema precisão campos de milho só para que passe entre eles um gaiato a correr gritando que se meteu entre as espigas como entre “bandos de leões rugindo”. Para alguma coisa há-de servir a embriaguez. Abrir um leque de pegadas, “desafiando o vento que vai polindo o cosmos”. De que nos serve ler nesta época se toda a exuberância é desaconselhada? Agora que a citação está feita uma prova clínica, uma recolha que isola, cria distância, o que se vai fazer com um livro de versos, como se lhe pega? E se, por hipótese, a obra for de António Barahona, a quem a vénia não interessa… Vamos dar a notícia de um livro, novo tomo, “pedras e argilas”, de janeiro deste ano, em mais outra cuidada edição da Averno. E depois? Este abre com um eco preso entre duas vozes, na homenagem de José Alberto Oliveira, que se basta do esclarecimento de o ter lido em voz alta, e assim conta sintomas, sinais, pegadas que evocam inquietações tão fundas, a sensação de se ir tropeçando “na pauta de uma história, que se teima em não esquecer”. A beleza pode bem ser uma constipação, pegar-se como uma gripe, ficar connosco uns dias, amarfanhando-nos os sentidos, dispersando-nos as sombras pelos cantos do mundo. Os livros de Barahona, com a sua regularidade espantosa, marcam a diferença de uma prolífica exemplaridade, num modo de estar de guarda à vastidão dos séculos, passeando a sua reflexão meditabunda que tão vital e necessária se tornou “ao sangue da recordação/ aprofundada/ em fragmentos entre-/ cortados/ com tesoura, alicate e faca.” Não é adequado dar notícia de coisas destas. Uma prece é algo que se entreouve. Ou nos diz muito ou pouco ou nada. Há nesses diálogos em que uma das vozes não nos é audível pelo menos a clareza de que a língua leva um avanço sobre o ser. Não se pode dar notícia de coisas para as quais ficará sempre a faltar um mínimo de perspectiva histórica. O clima é desfavorável. Espiritualmente, desde logo. Se há quem fique nervoso diante de uma flor, temos também regimentos muito convictos, orgulhosos da sua tão empenhada estupidez. Não se pode reclamar de nada. É melhor dar-se por contente por poder ainda chegar vivo a um poeta vivo, reconhecê-lo na sua inteireza, ver alguns próximos, com os rostos meigos e negros, “com um sorriso de irmãos mais novos”, e ficar claro assim o pouco que a idade nos diz, o quanto nos confunde, como esses atropelos geracionais que fazem correr a maioria, hoje que os jovens insistem em ser tão tristemente velhos, e escrevem relatórios e acabam o serviço. Por sorte, ainda vai havendo quem nos lembre de que a juventude é uma coisa antiquíssima, que os seus filhos são paridos quase sempre pela mesma mãe, esses “jovens feitos de baforadas de calor, de seda, culpados não se sabe de que crimes” (Pasolini). A ambiguidade é uma tensão própria de todos os tempos. Mas é duro que a deste seja assassina. E o comum das pessoas alegra-se em encontrar versos tecendo variações sobre as mais ordinárias frases feitas, lugares-comuns. Há já quem sentencie sumariamente o amor a isso de se ir acabando as frases um do outro. Pois que lhes faça bom proveito essa familiaridade grotesca. Para quem procura assombrar-se saberá sempre a pouco. Há muito que Barahona vem inventando um signo próprio, o do rouxinol que, diz ele, Deus lhe atou por um fio invisível, vai-lhe fazendo um destino desses de ouvido, apontando as lições de bom perito em rimas, repentista sem hesitação, e que apesar de cansado e farto, se mantém livre e recluso – “paradoxo árduo/ d’arredondar poemas”. Esta é uma obra que tem aquela senilidade jubilante de culminar a cada página, de vir gaguejar-nos ao ouvido frases que quando assentam na alma põem em marcha aquele grito lindíssimo de que fomos ameaçados e que nos cativou para o lado da poesia. Voltamos à escola sem querer. E o saber não nos maça, mas seduz com cada um dos seus detalhes, desses com o gosto tremendo das indiscrições, das voluptuosas inconfidências. Não somos nada, nem queremos, mas tudo nos diz respeito. No poema que se chama “O Poder da Realidade”, dedicado a José Alberto Oliveira, vemos Artaud com o rosto marcado, a desfazer-se em cinzas de tanto se meter nos assuntos do vento, de ter aprendido a trazer tempestades para o quarto: “E martelava, até sintonizar o bater/ do coração, numa esfera de vidro./ Por isso o ópio quase lhe bastava./ Mastigava muito, mas comia muito pouco./ Por fim, acabou por comer os próprios dentes.” A missão dos poetas é isto de eternamente se irem fazendo justiça. Pode já não valer de muito para acertar as contas com o mundo, mas vai dando para respirar, guardar-se um lugar na fila, noutra companhia. “O pêso da época esmaga as vísceras,/ acumula imagens e vibrações lascivas,/ o tumulto do desejo desenfreado:// o antigo sabor de te ter nos meus braços/ na companhia dos meus amigos preferidos:/ Baudelaire, Capitão Robinson e Pessanha…” Às vezes vira-se uma época inteira em busca de um bico de fogão para aquecer uns restos de paixão e não há, e até as mulheres já se assustam de serem desejadas, acham a coisa sinistra, pouco natural. Também isso já requer ensaios clínicos, longas horas de expediente, filas, impressos carimbados. Ouvi um dia destes de uma bela bibliotecária que não queria sujeitar-se a ver desmanchada a boa impressão que fazia dos poetas lendo-lhes os versos. As novas Ofélias detestam o azar, mas depois vão pedir batatinhas à sorte. “Sentado entre um piano e um caderno”, a Barahona vão-lhe valendo as rupturas de mulher em mulher, o amor como antes era feito, inventando noites mortíferas, ao passo que estes são tempos onde se sente no corpo uma espécie de coceira fantasma, e se anda por aí sozinho numa desolação abominável. Assim, o modo de se ler um poeta, e particularmente os modos de não se ler, de não se lhe dar a menor importância, dizem-nos muito sobre a condição do amor numa dada época. Num tempo que nos apresenta “as suas miseráveis fugas como Asceses,/ os seus medos como contemplações” (Pasolini), é natural que ao ouvido de um tempo assim os melhores versos soem descabidos, como gestos raivosos, quase infames. Certamente são modos demasiado teatrais. É aqui que se vê como a crítica já não serve, mais vale a queixa, a denúncia. E talvez seja de esperar que, em circunstâncias destas, os poetas se sintam forçados a abdicar, nem se cheguem à épica, que troquem hinos por cançonetas, os alexandrinos por chistes, graçolas, rebuçados de mentol. Tudo o mais é insensato. Para quê tentar esgrimir “argumentos sagrados no poema” se o mais certo é que isso cause embaraço ao leitor, possivelmente até um certo ressentimento? E, então, joga-se pelo seguro. Baixa-se a fasquia, faz-se deste mais outro anódino vício, uma paciência que se deita por fastio em horas que ninguém quer. Nem oração, nem verve ou fervor. Uma quadra ainda vá, mas quem precisa de um soneto de tons incandescentes? Para quê povoar as margens dos mapas com anotações fabulosas, para quê dar testemunho dos prodígios, dessas fúrias com que a vida humilha as melhores ficções, fazendo soçobrar as certezas? Mais vale o poeta que faz de ponto, serve a linha quando o actor se perde, esse que está ali só para garantir que o desfecho chega, que todos têm boleia para casa, que as contas batem certo. Pode ser que o poeta ainda venha a dividir a renda do escritório com o contabilista. Felizmente, por estes dias ainda vamos tendo em Barahona e uns poucos mais presenças dessas que nos recordam o elevado grau de exigência da poesia: “A poesia exige som d’impacto/ e, sobretudo, pura claridade/ do poeta sombrio: esse insensato/ possesso da saudade.// O poeta regula a disciplina/ do seu vasto poema, todo em ordem/ de vã batalha (…) E mesmo na vitória há derrota:/ renasce o inimigo ‘inda mais forte,/ saído do silêncio, atrás da porta/ que abre o som à morte.”
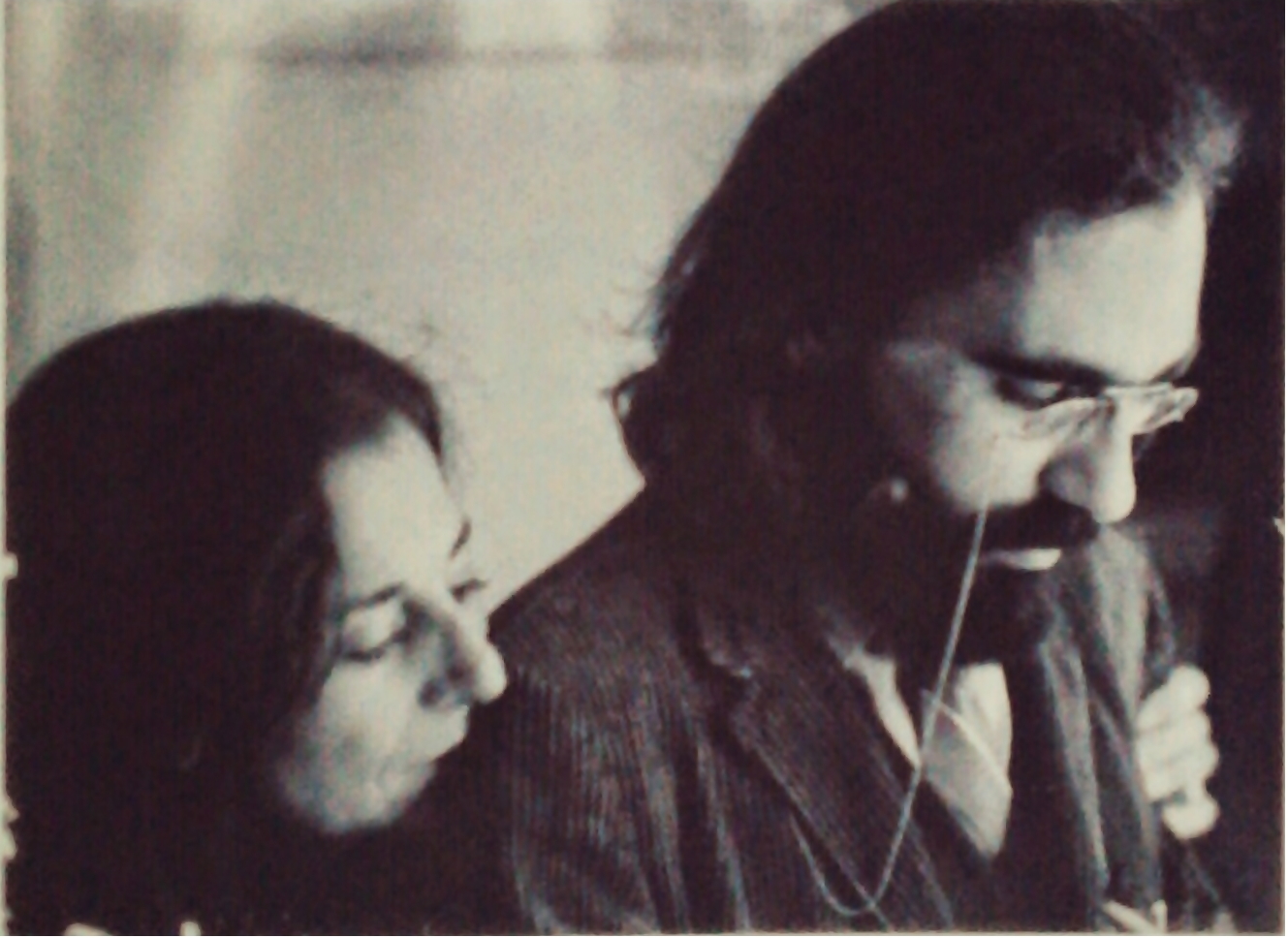
António Barahona. “Sentado entre um piano e um caderno”
Barahona publicou o oitavo tomo da sua suma poética, “Pedras e Argilas”. E agora que estamos fechados e a cidade nos deu tréguas talvez os sentidos possam vaguear por uma floresta densa de sons. Talvez seja uma boa hora para meter a mão entre os tantos galhos deste livro. Isto sendo certo que a crítica às vezes de pouco…













