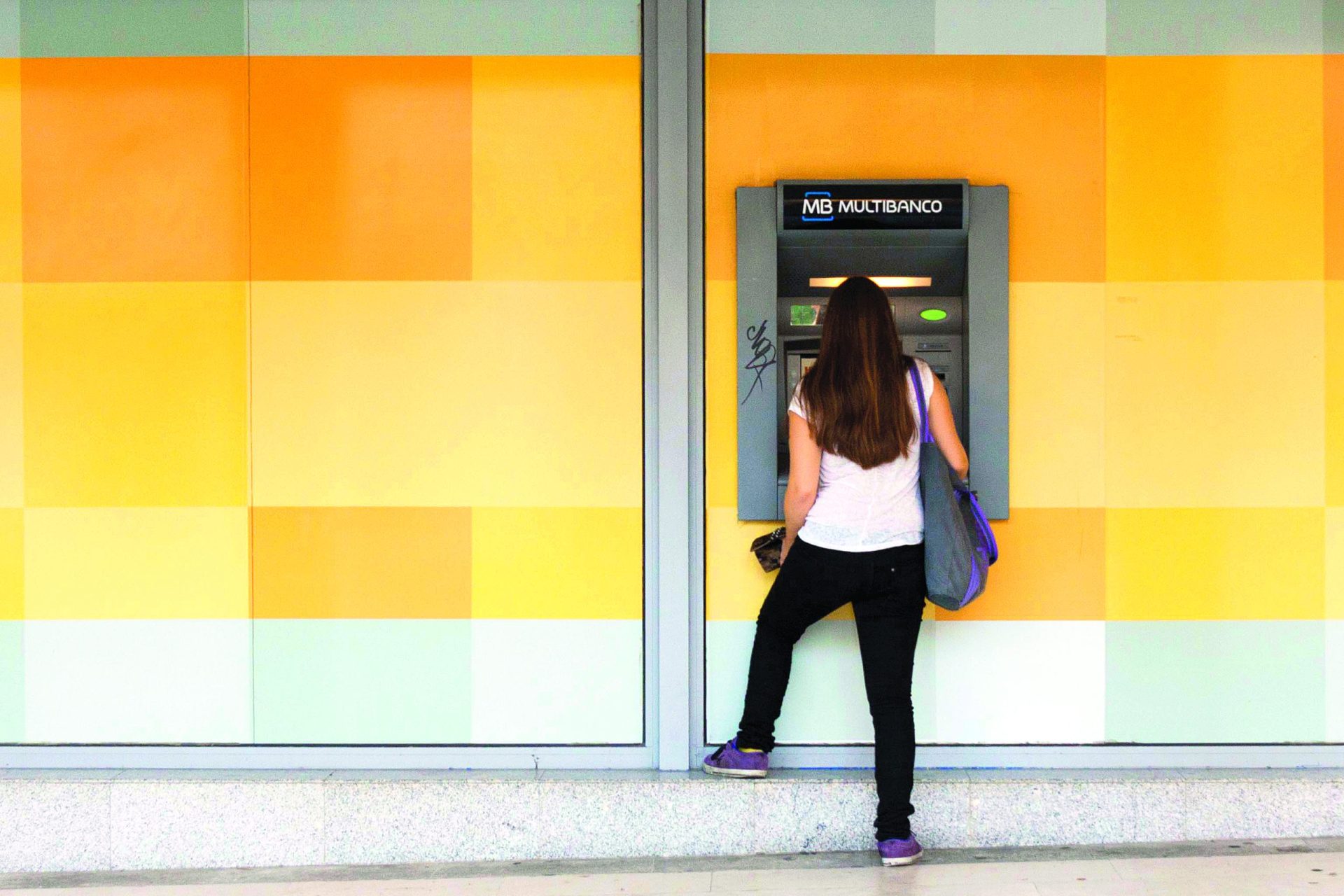Obcecam-me certos filmes dos anos 70, a época imediatamente anterior ao meu nascimento. Sei exactamente o que me agrada: é uma certa fotografia – limpa, vívida, incontaminada. Assisto a esses filmes como se contemplasse aguarelas com a sua luz pura e aguada. É, parece-me, a luz do mundo quando ele ainda me oferecia todas as possibilidades, incluindo a de não nascer, quando o olhar não estava ainda saturado. É um regresso claro ao ventre materno, ao aconchegante escuro de onde assisto a mil eventos e hipóteses, a vidas íntimas, intensas, exuberantes, mas sem a inconveniência do risco, do toque, das relações que degeneram, uma existência sem ambiguidades que não sejam metafísicas. É uma linha adjacente, um desvio vicinal à carne, a imaginação florescendo enquanto a carne não nasce, talvez nem chegue a nascer.
A incessante busca por certo tipo de filmes, pelas imagens que correspondam ao meu prazer, é reaccionária, uma rejeição da vida e do presente, um retrocesso recoberto de mistificações, um bartlebiano “I’d prefer not to”. Uma cobardia, portanto.
Em "Les Rendez-Vous d’Anna" (1978) é precisamente desse regresso falhado ao ventre da mãe que se trata. Anna Silver é uma cineasta bem-sucedida que viaja para apresentar os seus filmes em diferentes cidades europeias. Os amplos planos geométricos, a insistência nas simetrias, a omnipresença dos comboios e das estações, com a sua centralidade na vida do espírito, marcam um outro tempo, muito antigo para um espectador de 2018. Essa é uma Europa cinzenta, inexpressiva, impraticável ao turismo. Dividida a meio, com cicatrizes da guerra e do nazismo que os sobreviventes, envergonhados, querem esconder. Uma Europa onde uma vaga crise económica paira sobre esses tenazes sobreviventes, donos de um apurado sentido prático e desconfortáveis no lugar da vítima, que refizeram as suas vidas depois da guerra, mas começam a envelhecer e a perder o sentido do futuro.
A argamassa afectiva que parece ter mirrado nessa Europa central soturna, desolada, regulada por horários de comboios, aturdida pela paz, é a mesma que secou em Anna. Por muito que despreze o presente e a presença, por muito que adie o regresso a casa e a encontremos sempre em trânsito, em comboios e hotéis, Anna incorpora o espírito da época, ela é como essa Europa temporariamente sem matriz e, viremos a descobrir, anseia por reencontrá-la.
Por escassas vezes é a sua compleição apática, quieta – mimetizada pelos planos estáticos da câmara –, sobressaltada: uma gravata esquecida no armário do quarto de hotel e que talvez pertença ao homem com quem trocou olhares na recepção é descrita com uma ansiedade e minúcia que não voltaremos a testemunhar-lhe. Um par de sapatos no corredor é examinado com curiosidade. É como se o único homem possível fosse o homem ausente, aquele que parte, aquele que nunca chega. Só diante do equívoco, só na certeza do desencontro pode Anna amar. Do mesmo modo, misteriosos impulsos para telefonar para Itália, sempre sem resposta, são o único ritual que parece mobilizá-la. Na estação de Colónia, onde faz escala no regresso a Paris, anuncia a Ida, a mulher que a espera: “Tenho fome”, para logo a seguir, quando vê comida, ter afinal perdido o apetite. Por duas vezes, ficamos a saber, Anna rompeu um noivado com o filho dessa mulher. Mantém-se serena e inexpressiva enquanto ela lhe roga que aceite finalmente casar-se.
De facto, a grande força deste filme é materna. E se a vemos reagir de forma descomprometida ao apelo de Ida, é ao encontro marcado pela sua mãe que Anna corresponde ao parar em Bruxelas. Pela primeira vez, descobrimos-lhe um sorriso aberto, uma candura atenta de criança para quem os adultos guardam um grande fascínio. Aqui reside o coração do filme, neste estranho encontro entre mãe e filha. No bar da estação, falam como quem se estima, como quem se ama, mas com uma reverência, uma sedutora cortesia que não é o tom habitual entre mãe e filha. É tarde, Anna está cansada, mas não quer recolher à casa dos pais. Sugere alugar um quarto ali perto para pernoitarem.
Este par causa desconforto ao espectador, ainda mais que, conversando nuas no escuro, na cama de hotel, Anna confessa à mãe ter pensado nela durante um encontro amoroso com outra mulher, noutra cama de hotel. Não se viam há três anos, e no entanto pressentimos que a imagem da mãe subsiste em todos os gestos de Anna. É em termos de mães e de filhas que ela mede o mundo, que se situa nele. “Eu já podia ter uma filha. Duas filhas. Ia chamar-lhes Judith e Rebecca”, tínhamo-la ouvido dizer a um amante, a efabulação das filhas por nascer simétrica à fantasmática ausência da sua própria mãe. Sintomaticamente, se no final do filme nos perguntam qual o papel de Anna, dizemos: ela é filha.
Quando se separam na manhã seguinte e a mãe pede “Anna, diz que me amas”, temos a certeza de que acabámos de assistir a um encontro entre amantes que sabem que os melhores anos do seu amor passaram, que não é possível retê-los, que são, desde há algum tempo, estranhos.
A impossibilidade de fusão com a mãe, desse regresso a um tempo em que nenhuma escolha, nenhuma decisão, nenhum compromisso eram esperados dela enquanto mulher, talvez explique o desligamento emocional de Anna, a sua apatia perante a sucessão de cidades, de amantes, de solicitações. O mais perto que esteve do amor foi com outra mulher, e esse encontro não exige uma grande dose de ousadia psicanalítica para ganhar sentido ali, na cama de hotel onde Anna o relata à mãe.
Não conheço muitos filmes ou representações artísticas onde a relação entre mãe e filha tenha esta brutal centralidade, a tensão ansiosa e apaixonada que os costumes patriarcais costumam reservar a pais e filhos de sexos opostos. Aqui, o desejo da filha pela mãe nunca é distraído ou interceptado por qualquer homem. Nenhum o desvia, nenhum o deslaça, e só a intimidade de Anna com outra mulher consegue evocá-lo.
A resistência às expectativas, ao ingresso na lógica patriarcal da mulher que existe em função de um marido, a recusa em ser outra coisa além da filha ou da mãe das suas filhas por nascer e, ocasionalmente, de um amante regular que adoece, culmina num final sem casamentos e sem mortes, ou seja, sem as mais frequentes convenções de encerramento de histórias. Ao arrepio do futuro inevitável, mas sem hipótese de regressar ao conforto amniótico do corpo da mãe, Anna despede-se de nós deitada na cama do seu quarto, na sua casa tão despida como qualquer quarto de hotel, suportando ainda e sempre a vida através do artifício de sucessivos trânsitos, sucessivos não-lugares.