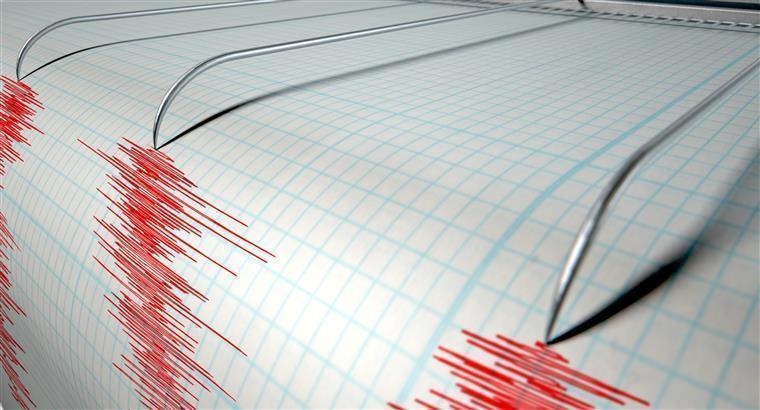O fenómeno foi celebrizado por Hollywood no filme “Wag the Dog”, no já longínquo ano de 1997, por um spin doctor (Robert De Niro) e um produtor cinematográfico (Al Pacino), através da encenação da declaração de guerra dos EUA à Albânia, como forma de encobrir uma escapadela de natureza sexual por parte do presidente americano, duas semanas antes da reeleição. A realidade da intervenção americana no Kosovo com Clinton, do ataque à Líbia promovido por Sarkozy e Cameron e da primeira tentativa, em 2013, de atacar a Síria de Assad, promovida por Cameron (derrotado em Westminster pelos tories, que votaram contra o uso da força) e Hollande (que ficou sozinho e quieto, sem a esperada companhia de Cameron e Obama) demonstra, ex abundantia, que a guerra no estrangeiro ajuda, num primeiro momento, a salvar a vida dos líderes políticos.
Na tradição dos EUA, um presidente que surja como chefe militar decidido tem garantido o favor do público (lembram-se do “Mission accomplished!” de Bush Jr.?). Trump rodeou-se de generais na Casa Branca e, apesar de já ter despedido uns quantos, continua a sonhar com a glória militar. Atacar o regime de Assad parece-lhe uma ideia simples e onomatopeicamente boa: boom, problem solved. Melhor ainda seria resolver a coisa através do Twitter.
Infelizmente, o problema sírio é um tudo-nada mais complexo. Começando pelos potenciais aliados: Theresa May não tem uma maioria estável em Westminster e se submeter a intervenção na Síria a voto perdê–lo-á e terá provavelmente de se demitir, agora que a gestão do caso Skripal lhe tinha devolvido alguma popularidade. Qualquer tentativa de envolver a NATO na operação tornará evidente a contradição da posição da Turquia, dividida entre a Aliança e o pacto com Putin.
Mesmo que se consiga construir uma coligação (o que contraria a tendência unilateralista de Trump), a escolha da resposta militar é tudo menos fácil. Bombardear com mísseis de cruzeiro, lançados a partir de navios de superfície e de submarinos, forças e equipamentos militares de Assad não afectará o equilíbrio de forças no terreno. Bombardeamentos a partir de aviões embarcados não são uma boa ideia face aos sistemas de defesa antiaérea que Putin instalou na Síria. Deslocar tropas para o terreno tem custos políticos (é o contrário do que Trump prometeu) e só faz sentido de forma duradoura e com um plano de reconstrução política (o que não aconteceu nem no Iraque nem na Líbia).
Qualquer forma de ataque militar poderá sempre atingir as forças russas, quer os militares regulares quer os mercenários (ex-militares organizados pela Wagner, o equivalente russo da Blackwater). Tal não redundaria na iii guerra mundial, mas levaria Putin a escalar a guerra civil na Ucrânia e a descongelar outros conflitos.
Há também a dificuldade da prova da origem dos ataques com gases tóxicos. O fantasma do ataque a Saddam Hussein está sempre presente.
Na guerra civil síria há muito que não há “bons” e sobram vítimas. Atacar Assad de forma consistente pode traduzir-se no reforço dos restantes participantes na guerra civil, nenhum deles com credenciais particularmente recomendáveis (Estado Islâmico, variantes da Al-Kaeda, salafistas, Hezbollah…). Os menos maus seriam os vários grupos independentistas curdos que, pela força da geografia, terão sempre contra si quem quer que governe a Turquia, a Síria e o Iraque.
Certa é a subida do preço do petróleo, ainda antes de ser disparado o primeiro míssil.
Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990