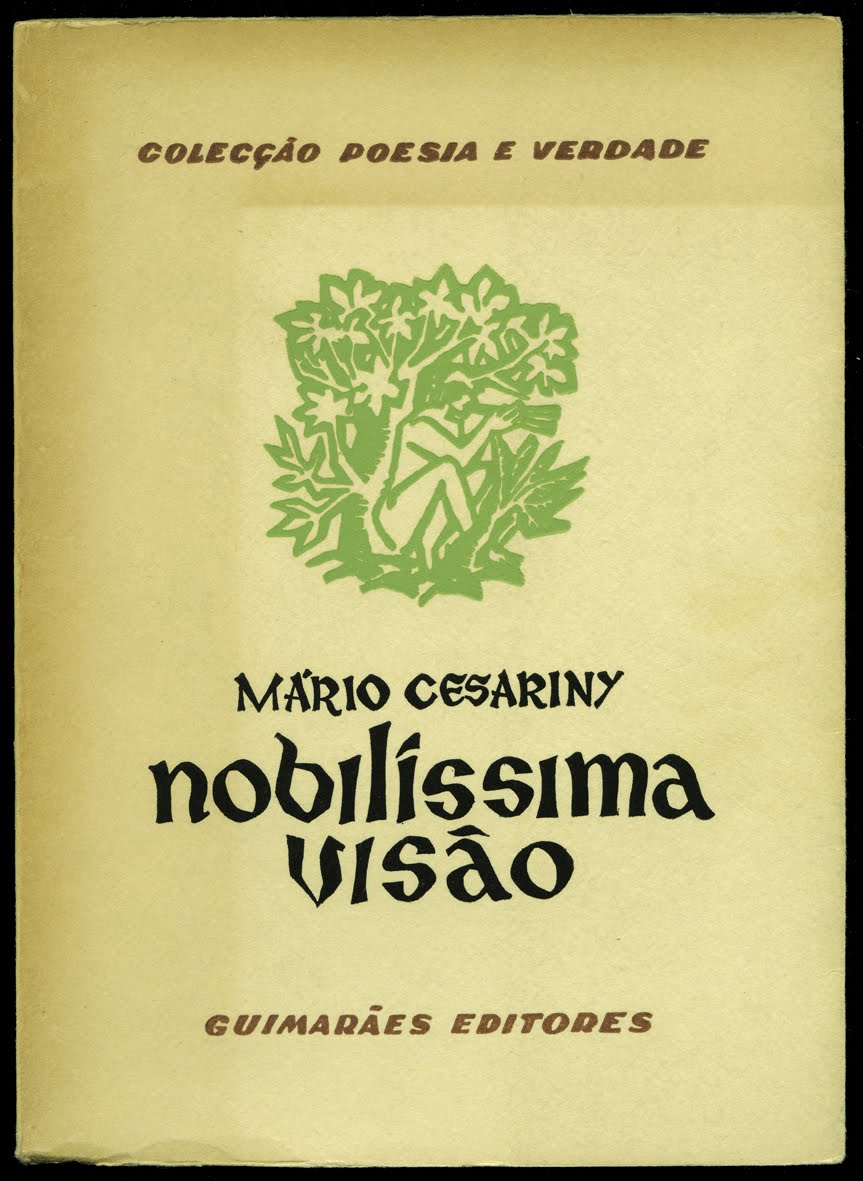Há muito por fazer. E muito foi feito no passado mas parece ter-se perdido, sem direito a um futuro, ou sequer à honra da memória. Do que marca os dias hoje, são mais os projectos, impulsos, a razão que sonha um país onde fosse possível contar com a rede necessária de cúmplices para fazer de novo uma grande colecção de poesia em Portugal. Faltam, na verdade, os amantes. Os leitores. E, como é óbvio, “faltas tu faltas tu/ falta que te completem ou destruam/ não da maneira rilkeana vigilante mortal solícita e obrigada/ – não, de nenhuma maneira resultante!”
Faltam-lhe amantes, o que é diferente desses seus distantes admiradores, porque como lembrava Wisława Szymborska, se alguns gostam de poesia, gostar também se gosta de canja de galinha, da lisonja e da cor azul, como se gosta de um velho cachecol, de levar a sua avante, de fazer festas a um cão. Mas a poesia com festas não vai lá. E é preciso aproveitar para lembrar o que já foi da edição de poesia no nosso país, das colecções hoje históricas, coleccionadas, traficadas pelos muito poucos que podem, alguns mais seduzidos pela conquista de outra lombada no afinco com que compõem as suas estantes, os taxidermistas da vida selvagem dos livros.

Lembremos então as excelentes colecções da Portugália, da Guimarães, da Moraes, a extraordinária série dos Cadernos de Poesia, da Dom Quixote. Tiravam-se milhares de exemplares, e existiam leitores para eles. Um público ansioso por "oferecer a boca ao astro", os que faziam por trazer o “nariz amarelo de pólen”.
É ilustrativo o bastante o caso de António Alçada Baptista, um homem que se fez do lado da cultura, vindo da província, contra o contentamento desgraçado das suas origens: "Na minha visão da infância e da adolescência, Salazar era o procurador, em Lisboa, dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios e dos padres."
Uns bons anos antes de fundar a revista O Tempo e o Modo, Baptista trocou a advocacia pelo que viria a chamar a sua grande aventura. Soube, em 1958, que a Editora-Livraria Moraes estava à venda e lá foi almirantar-se, contando na tripulação com um grupo de jovens recém-licenciados católicos – Pedro Tamen, João Bénard da Costa e Nuno Bragança, entre outros. Juntos cobriram distâncias que a outros teriam parecido impossíveis.

"Nunca me passou pela cabeça que tínhamos nas mãos uma empresa comercial sujeita a critérios de rentabilidade e julgava que, como nós, alguns milhares de portugueses estavam ansiosos por livros. (…) Mas "esta aventura falhou porque a camada da sociedade portuguesa a quem ela se dirigia recusou frontalmente a sua colaboração e não esteve disposta a correr nenhum risco nem, na prática, se sentiu minimamente solidária com o esforço que estava a ser feito", lembraria Alçada Baptista. Foi o fim daquela aventura mas, mais que isso, marcou também o momento em que os editores deixaram de poder contar com um público exigente, leal e comprometido.

A morte de Vitor Silva Tavares no ano passado ditou o fim da editora do subterrâneo, a &etc, uma empresa poética que resistia há mais de 40 anos, sem lucro nem agravo. VST foi em todos os sentidos no percurso da palavra à acção o exemplo do editor-poeta, aquele que apontou o estreito mas não menos aventuroso caminho que restava para as editoras de vão de escada, as pequenas, humílissimas, mas independentes, as editoras que hoje seguram o sufocado fôlego de um espaço que já nem conta com os 300 leitores que permitiam ainda que se falasse numa linha irredutível que não deixaria aquele nicho cair na pura indigência.
Hoje resistem algumas colecções com tradição embora longe dos tempos mais auspiciosos – a Relógio D’Água, a Cotovia, e a Assírio & Alvim, anexada pela federação Porto Editora. Surgiu entretanto com uma firmeza assinalável a da Tinta-da-China, com Pedro Mexia no leme. Depois há o universo atomizado das tais editoras pequenas ou minúsculas, mas persistentes, incansáveis, que dificilmente conquistam posições mas também não arredam pé: Averno, Mariposa Azual, Artefacto, Companhia das Ilhas, Do Lado Esquerdo, Douda Correria…
David Teles Pereira
Já se disse que muito foi feito no passado e que, infelizmente, grande parte desse muito parece hoje perdida. Mas perdida de que forma? Os livros integrantes das grandes colecções de poesia do século XX estão hoje, na maior parte, indisponíveis ou apenas disponíveis em alfarrabistas e a preços tantas vezes pornográficos. Tirando os casos em que os textos foram mais tarde incluídos em obras reunidas dos autores, o que quase só aconteceu relativamente aos autores portugueses, o contacto com as tais colecções exige hoje um esforço quase académico, quase arqueológico, um lugar que até a um bibliófilo pareceria hostil, quando mais aos meros leitores. Contudo, a parte mais significativa deste problema pode ser explicada através da perecibilidade – principalmente a dos interesses – e do passar do tempo, que distribui pelos livros uma justiça que, a bem ver, nem sempre nos é imputável.
Este processo revela, contudo, um outro problema bem maior e deliberado: a falta de diálogo entre as editoras presentes e as editoras passadas, ou melhor, a ausência de memória editorial. É verdade que o património editorial passado, idealmente, deveria desempenhar a mesmíssima função que o património poético anterior cumpre junto dos novos autores. E, nesse mundo ideal, as novas editoras necessariamente estariam neste momento a revisitar a simplicidade e eficácia gráfica dos Cadernos de Poesia ou, para dar um exemplo mais recente, o sóbrio modelo de paginação tão bem aplicado por Olímpio Ferreira na Cotovia, na &etc, na Fenda e nos tempos iniciais da Averno. Mas, se no mundo real isto só a espaços vai acontecendo, que o que nos legitima hoje a desejar um processo de diálogo diferente com o passado? É a edição de poesia que impõe parte do ritmo e sentido nesta arte e, nesta perspectiva, um olhar mais íntimo, mais ajuizado sobre o acervo editorial português permitiria às novas editoras de poesia impor aquilo que neste momento mais falta faz: um ritmo de leitura. Ao invés, com um olhar quase sempre divorciado do passado, o que a edição de poesia em Portugal mais tem feito é atascar ainda mais um ralo já complemente entupido. Poucas tendências recentes da edição de poesia em Portugal se destacam tanto quanto esta aparente obsessão por lançar novos autores. Alguns verão aqui uma vantagem, um exemplo da democratização dos meios de publicação e uma externalidade positiva das redes sociais, quando, na verdade, parecemos todos russos a mandar os nossos compatriotas perder a vida contra os alemães e, neste caso, não há inverno que nos salve. A profusão contemporânea de nomes, aquilo que a um olhar menos atento serviria como indício de vitalidade do meio, pouco ganha em dignidade àquela odienta máxima de que “o caminho é para a frente”. Não é e só algumas vezes foi. Sem memória e referência as editoras não completam sequer uma identidade e, com isso, os nomes que todos os anos acrescentam as fileiras da poesia terão certamente um lugar entre as futuras glórias do esquecimento, num processo que as pequenas tiragens só vão tornar ainda mais implacável. Só num universo editorial que mal consegue dialogar com o que já fez no século XXI – para nem irmos muito longe – se compreende esta abundância constante de novidades. Ao invés, um breve olhar para o passado dar-nos-ia pelo menos um início de conversa com a maior de todas as qualidades editoriais: a ausência de pressa.