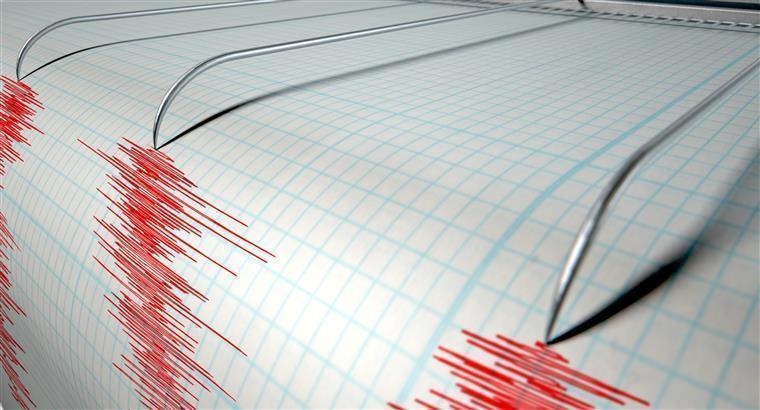Dois meses não são nada e ainda não passaram dois meses desde que Jorge Barreto Xavier deixou a secretaria de Estado da Cultura. O cargo mudou-o, é o próprio a admiti-lo, deixou-lhe também “uma etiqueta na testa”. Perguntamos-lhe o que é, diz que é várias coisas mas que não se encaixa necessariamente em nenhuma. “Vejo-me como uma pessoa a fazer coisas.” E agora está a fazer as coisas que há muito tempo não podia. Na escrita e na fotografia. Foi uma entrevista com aviso prévio: não responderia a questões concretas sobre a sua governação, para ele este é o tempo de ganhar distância. E para a qual fez questão de escolher o lugar: entre os livros da Ler Devagar, na Lx Factory.
Vem aqui muitas vezes?
Venho algumas, não muitas, porque tenho amigos com ateliers e estúdios aqui e, ao mesmo tempo esta é uma das livrarias de Lisboa que gosto de visitar, pelo tipo de livros que tem, e por ser um espaço que corresponde a uma ideia que podia ser usada mais vezes em espaços que não estão a ser usados na cidade. Os dispositivos culturais alteraram a fisionomia do espaço e a própria área de Alcântara.
Já agora, o que anda a ler?
Mais do que ler ando a reler. Nos últimos anos a minha capacidade de leitura com calma foi um bocado afetada pelas minhas funções, por isso volto a poder olhar agora para a leitura de uma maneira mais completa. Ando a ler várias histórias da Filosofia que me interessam, alguns livros que fui acumulando nas áreas da análise do pensamento dos anos 60, 70, do Deleuze mas também do Giorgio Agamben. Há um livro do Agamben que se chama “O Homem Sem Conteúdo” em que voltei a pegar, por causa da análise crítica sobre a situação das artes. Estou a revisitar também alguns poemas de que gosto muito, de Herberto Helder ou William Butler Yeats. Também estou a aproveitar para escrever.
A escrever o quê?
Em vários domínios: do ensaio, da narrativa, da poesia. Nos anos 80 fundei o Clube Português de Artes e Ideias, exatamente porque senti enquanto jovem artista dificuldade em promover o meu trabalho, na área da fotografia e da escrita, e deixei de ter condições para o promover. Continuei a fazê-lo, nunca deixei de o fazer, mas tive de deixar em segundo plano.
E agora quer voltar a pô-lo em primeiro plano.
Sobretudo no estrangeiro. Em Portugal se apresentar coisas serei sempre visto como o operador cultural que agora quer ser artista e não tenho vontade nenhuma de me colocar nessa posição. Somos um país muito provinciano em muitas coisas, ainda apreciamos mais aquilo que vem do estrangeiro. Um artista que apresente no estrangeiro e só depois em Portugal, independentemente da sua história, já é alguém. Nós temos imensa dificuldade, nomeadamente com os nossos meios intelectuais, em fazer análises honestas.
Sentiu alguma coisa desse provincianismo na sua vinda de Goa para Portugal?
Tinha 5 anos e foi um choque porque estamos a falar de situações muito diferentes, de Goa para a Guarda. Mas nessa idade não tinha consciência disso. Foi mais a mudança de circunstâncias.
Lembra-se dos tempo de Goa?
Lembro. Fui uma criança muito mimada pelos pais, pelas tias, pelos avós, e nos primeiros anos de vida ter esse privilégio é uma coisa muito boa. A passagem para a Guarda foi dura, difícil, porque no fundo foi um ato de emigração. As condições com que estávamos em Goa não pareceram ao meu pai as mais favoráveis e o meu pai, que tinha feito o seu curso de Direito aqui…
Mas era goês.
Tal como a minha mãe. A minha língua materna é o português, a cultura da minha família é a indo-portuguesa. É uma família que se converteu ao cristianismo e à língua portuguesa no início do século XVII, há um lastro de uma história cultural relativamente grande, mas objetivamente os meus pais são de Goa, viviam em Goa e queriam ficar lá. Mas na sequência da tomada de Goa pela União Indiana em 1961… De qualquer maneira, a experiência do contacto cultural que mantive sempre com Goa – continuo a ter família lá – deu-me esta perceção a que não chamaria relativismo cultural, mas antes contextualização. Durante o século XX o modo como os europeus olhavam o mundo era profundamente eurocentrado.
Como foi ser goês no interior no início da década de 70? Somos um país racista?
Curiosamente não era um problema. Achamos que Portugal não é um país racista e julgo que no sentido em que outras zonas do mundo são racistas talvez seja verdade essa afirmação. Mesmo quando um conjunto de pessoas veio num grande movimento para Portugal, os portugueses brancos que nos anos 70 voltaram a sua casa e eram vistos como, entre aspas, os retornados. Era uma forma quase agressiva de tratamento mas a verdade é que tivemos, apesar de tudo, a capacidade de assimilar mais de 600 mil pessoas sem grande dificuldade. A França não foi capaz disso no início dos anos 60 com os franceses que vieram da Argélia e ainda hoje há imensas feridas. Eu pertenço a uma geração de portugueses que foi acolhida e quando chego não sinto grande dificuldade. Mas isso também tem a ver com os graus de integração. O meu pai era delegado do Procurador da República, a minha mãe era professora, o meu tio era cardiologista, a minha família estava, numa pequena cidade de província, no núcleo dos doutores e o estatuto social vale mais do que a cor ou a origem.
Esteve desde cedo sempre muito ligado à área da cultura, com a criação…
Sempre acreditei que se queremos mudar o mundo atual temos de mudar pela cultura e não pela economia. Com o sistema de desenvolvimento capitalista as diferenças sociais e económicas aumentaram e só conseguimos resolver isso com um olhar sobre as coisas que não passa necessariamente por questões de produção e de distribuição em si. Se conseguirmos olhar de uma maneira diferente para o desenvolvimento, conseguimos fazer um desenvolvimento diferente e o exercício crítico só é possível com uma formação cultural mais forte, o que é diferente de formação educativa. Hoje as crianças e os jovens são preparados para serem trabalhadores mais do que para serem pessoas.
Quando lhe perguntam qual é a sua profissão o que responde?
Nunca me vi como estando numa profissão, vejo-me mais como uma pessoa.
Então o que diz quando lhe perguntam isso?
Digo que sou professor universitário, digo que sou gestor cultural, mas não me encaixo necessariamente em nenhuma das palavras. Coloquei-me sempre mais como uma pessoa a fazer coisas.
É um alívio deixar um cargo no governo?
Sim. Digamos que a responsabilidade de ter uma área de governo é muito pesada. Se tivermos consciência e sentirmos as coisas – porque há sempre pessoas para quem o exercício governativo é visto de outra forma – é um exercício pesado. A esse nível, sim, neste momento sinto-me mais livre.
Foram três anos difíceis.
Mas eu não vou falar nisso. Peço desculpa mas já tinha dito isso, não acho que seja o momento para falar nisso.
Mas podemos falar sobre a dificuldade de gerir um orçamento tão baixo?
Não vou falar sobre isso, talvez daqui a dois anos ou três, aí já há recuo suficiente, agora acho que é muito em cima.
Acha que parte dos problemas que temos na Cultura em Portugal se resolveriam se houvesse mais dinheiro?
Também não vou por aí, porque isso é já entrar nas questões da política cultural concreta e não quero neste momento, de modo nenhum, ser mal interpretado.
Mas é um facto que o orçamento que teve era muito curto.
Esse é mesmo um caminho pelo qual não quero entrar. Claro que tenho opiniões sobre isso tudo, mas estar a falar disso é estar a falar da minha experiência e estar a fazer comparações com o que pode ser agora. E não é o momento, lamento. Se falarmos na política cultural na Europa…
Pegando nisso, se virmos os 1%…
Falar disso é falar de uma coisa que tem a ver com a alocação de dinheiros públicos – estaria a ter uma opinião específica sobre o que se deve fazer ou o modo como se fez, que é o que quero evitar agora.
É um peso grande ter estado num governo?
Peso em que sentido?
No sentido de nunca mais sermos vistos da mesma maneira.
Creio que não somos. Esse é o lado sobre o qual acho que posso falar. Exercer certo tipo de tarefas muda-nos. Creio que isto acontece em vários domínios, não só no da política, em qualquer área em que uma pessoa se envolva muito. Quando desempenhamos certo tipo de tarefas não saímos iguais dessas tarefas.
Como é que saiu desta?
Posso dizer que aprendi muito, que me sinto uma pessoa mais preparada. Sinto que perdi muita coisa também, porque os olhares óbvios que são depois deitados a nós quando ocupámos certas posições limitam a maneira como os outros nos olham. Eu não tenho dúvidas que junto de certas pessoas ou de certos meios o facto de ter ocupado um certo tipo de posição num certo momento colocou uma etiqueta na minha testa. Mas acho que é um risco que vale a pena correr, porque quando acreditamos no serviço aos outros não trabalhamos para nos fazer uma estátua, trabalhamos para o resultado.
Será para João Soares mais fácil estar nesse cargo do que para si, que veio do meio?
João Soares é um homem de Cultura. Foi um bom vereador da Cultura em Lisboa, eu lembro-me disso, e tem um bom desafio pela frente.
Como está a ser o regresso à vida normal? Os seus amigos…
Aqueles que eventualmente acham que não são meus amigos por eu ter ocupado funções governativas é porque de facto não eram meus amigos e nessas situações até é bom separar o trigo do joio.
No final, acha que fez diferença a Cultura ter tido uma secretaria de Estado em vez de um ministério?
Mais uma vez…
[Risos] Sempre se interessou por política?
Sim, a política interessa-me enquanto espaço da polis, o lugar onde se organiza a comunidade. Achei sempre um erro confundir política com partidos políticos. É uma coisa muito reducionista.
Mas foi militante…
Sim, do PSD. Mas isso não tem nada a ver com o meu engajamento político, que é com a sociedade, não é com os partidos. Quem se organiza para estar num partido para ter lugares políticos, na lógica do chamado carreirismo partidário, pode estar a fazer um trajeto pessoal, não significa necessariamente que esteja comprometido com a sociedade. A política de que estou a falar é um compromisso com a sociedade e nesse sentido sempre me interessou e interessa-me.
Incomoda-o a ligação ao PSD?
De maneira nenhuma. Em Portugal temos uma demonização dos partidos políticos e eu percebo porquê, porque de facto há muito oportunismo. Mas também há muitas coisas boas nos partidos políticos. Foram os partidos políticos que nos deram a democracia e neste momento não temos nenhuma alternativa social organizada. Felizmente, o facto de ter uma orientação partidária nunca me limitou na minha participação política, precisamente porque nunca me organizei numa ótica de carreirismo. Aliás, a minha atividade cultural teve sempre apoio das várias áreas políticas.
O que acha do nosso panorama artístico?
Acho que mudou muito. Temos problemas sérios para os quais temos que olhar a longo prazo. Por um lado de ordem geográfica: é mais fácil para alguém da Holanda, da Bélgica ou da República Checa obter visibilidade no campo das artes do que a um português, na perspetiva da circulação e da contaminação cultural. Algumas gerações portuguesas tiveram maior visibilidade internacional quando puderam ir para os centros culturais geograficamente mais importantes. A geração de Paris, mais recentemente aqueles que foram para Berlim… A contaminação que Júlio Pomar, Maria Helena Vieira da Silva e outros tiveram acontece no contexto de movimentos culturais relevantes. Se olharmos para a nossa História das Artes temos muito poucos portugueses, quase nenhuns, importantes no contexto universal. Nomes como Ribeiro Sanches ou Padre António Vieira estão subvalorizados. E a nossa estratégia de valorização dos nossos intelectuais e artistas implica um trabalho no contexto internacional que tem que ser mais sistemático. Não foi no século XIX, não foi no século XX, pode ser no século XXI.
E como?
As gerações que têm agora 20, 30 anos circulam imenso a nível internacional, com relativa facilidade, e não têm sequer esta ideia de fronteira ou de ser um artista português. As oportunidades são muito diferentes. Isso não significa uma valorização sistemática nem que sejam um efetivo a tomar em conta. A maior parte da nossa arte, nomeadamente nas artes visuais, não tem valor no mercado internacional, mas os valores pelos quais às vezes é vendida em Portugal é equivalente ou superior àquele que custam obras de artistas reconhecidos a nível internacional. Somos um mercado muito fechado e que vive sobre si próprio. Mercado esse que de qualquer modo quase desapareceu quando aconteceu a falência de uma série de bancos que eram financiadores da aquisição das obras de arte. Também no teatro, por questões de língua mas não só, temos dificuldade em nos afirmar, apesar de termos grandes dramaturgos ou atores, de uma forma sustentada. E o facto de termos no cinema alguns nomes que tiveram algum papel, se começarmos a olhar para aquilo que é o cinema checo ou o cinema húngaro, verificamos que o nosso papel é muito menor. Há imenso trabalho a fazer.
A começar por onde?
Mais uma vez não quero entrar nessa questão [risos]. Mas vou dar um exemplo genérico: em 42 anos de democracia, tivemos, não sei ao certo, 26 ou 27 membros de governo com a tutela da Cultura. Eu estive três anos e fui para aí o terceiro que esteve mais tempo. Em 40 anos! É um lugar que tem muita pressão.
Que papel cabe ao Estado nesse trabalho que diz que está por fazer?
A atividade cultural não e uma atividade governativa, é uma atividade da sociedade. É obvio que há certas tarefas que competem ao Estado, depois depende do modelo de sociedade, mas só faltava pensar que a atividade cultural é uma atividade do Estado. Só nas sociedades totalitárias é que isto acontece. É uma questão de desenvolvimento de papéis mas a evolução não é automática, depende da vontade das pessoas e do modo como se colocam em contextos, cenários e oportunidades.