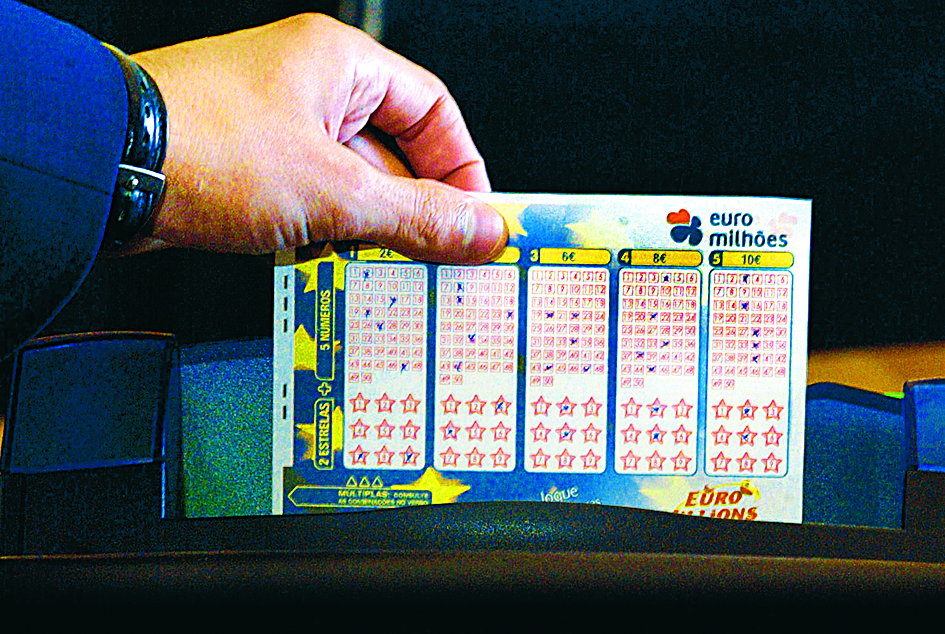Médico há mais de 30 anos, autor de mais de uma dezena de livros em diferentes registos. Toca piano, é um leitor compulsivo e fotógrafo amador. Acaba de tirar um curso de História de Arte e está decidido a aprender violino para acompanhar um dos filhos. Mário Cordeiro tem bicho carpinteiro como as crianças. Encontramo-lo numa manhã de férias numa esplanada com vista para a Praia da Areia Branca. Há anos que o seu retiro é por ali, na aldeia de Cezaredas, perto da Lourinhã. A caminho dos 60 anos, gosta cada vez mais do campo e sente-se cada vez com mais sede e fome do mundo, na corrida contra o tempo da vida.
{relacionados}
Como decidiu seguir a carreira de medicina?
Foi sempre uma coisa que me entusiasmou, até pela parte da ciência, da descoberta. Aquele aspecto mais de trabalho de Sherlock Holmes, de chegar ao diagnóstico a partir dos dados, como se estivesse a fazer um puzzle. Depois terei sido influenciado por ter crescido num ambiente médico.
O pai, também Mário Cordeiro, insistiu nisso?
Ele era pediatra. Sei que gostava da ideia, mas não. O meu irmão mais velho andou em Medicina e depois desistiu e tenho uma irmã médica. Na altura não havia serviços de urgência de pediatria – o primeiro em Santa Maria era numa casa de banho adaptada para ver crianças. Como em casa ele estava de prevenção, aos almoços e jantares era frequente estarmos todos à mesa e alguém telefonar a pedir indicações para o filho que estava doente. Era engraçado porque nós a certa altura já fazíamos apostas sobre o que ia ser com base nas respostas e perguntas que ele fazia.
O interesse surge aí?
Sim. Gostava daquilo mas havia um problema: se via sangue começava logo a tremer, por isso pensei que nunca iria para Medicina. Tanto que quando me fui inscrever no liceu escolho Direito, que era algo que também me interessava. Todo feliz vou para a paragem do autocarro, que terei perdido por uns instantes. É enquanto estou à espera pelo autocarro seguinte que tomo a decisão de voltar à secretaria, rasgar os papéis e inscrever-me para Medicina.
O que o fez voltar atrás?
Acho que foi pensar ‘não vou deixar de fazer o que quero por medo’. Não podia ser o facto de tremer ao ver sangue que me ia limitar na profissão. Nunca houve de facto pressão familiar, embora curiosamente toda a minha família do lado paterno, pai, avô e trisavô, tenham sido médicos.
Uma grande referência sua foi, contudo, o seu avô materno. O que o marca tanto?
A vida dele. Não conheci os meus avós paternos – o pai do meu pai já tinha morrido quando nasci e a mãe estava na Índia. Esse avô era realmente uma pessoa incrível, um homem da Renascença. Médico, oficial da Marinha, perito em história medieval italiana, em orientalismo. Foi secretário-geral da Sociedade de Geografia. Foi inventor! Inventou uma maca que permitia que duas pessoas transportassem um ferido em vez de quatro, ainda hoje ensinada na NATO. E fazia tudo discretamente. Não era um homem dos sete ofícios mas dos 70. Tive a sorte de ficar com o seu espólio quando a minha mãe morreu e ele tinha escrito memórias e apontamentos sobre a participação nas campanhas da República. Note-se que nasceu em 1881, foi mobilizado para derrotar Paiva Couceiro quando houve a tentativa de restaurar a Monarquia e depois esteve na Primeira Grande Guerra e nas campanhas de África. Era agnóstico e foi um dos únicos portugueses a ter autorização para consultar os arquivos secretos do Vaticano. Descubro tudo isto nas memórias, lá em casa o avô era o avô. Sabia que tinha estado em África mas não sabia nada sobre o seu pensamento religioso ou político. Achei esse processo de descoberta de uma pessoa fascinante, mais porque estava tudo escrito com uma letra irrepreensível. Era como se estivesse escrito em Word. Digo muito aos meus filhos: escrever é comunicar e é bom que, mesmo com os computadores, consigam rabiscar coisas que sejam entendíveis 100 anos depois.
Há algo desse avô no seu lado de cultivar vários ofícios, da escrita à música?
Não sei o que será genético, mas acho que esta vontade que tenho de fazer coisas é uma resposta a uma certa angústia existencial. É isto de sentir que há tanta coisa por fazer, ouvir, ler, escutar, aprender e ao mesmo tempo ver que a vida não é eterna.
Sente essa ânsia aumentar?
Sim, é aquela coisa de pensarmos que morremos velhinhos e isso a certa altura começa a cair por terra. Começam a morrer pessoas próximas de nós, da nossa idade, mais novas. Digo isto sem fatalismos. Ela anda aí e acho que isso deve ser uma força motivadora para tudo. Sinto sobretudo a ânsia de não perder tempo com coisas que não interessam. Durante muitos anos não fui capaz de dizer que não e agora já sou.
O que mudou nas doenças das crianças desde que começou a trabalhar?
Houve muitas mudanças em tudo. Quando comecei as crianças morriam de desidratação na sequência de uma gastroenterite. Em Peniche, no início dos anos 80, no serviço médico à periferia, chegava a fazer bancos em que entrava às 8 da noite de sexta-feira e estava até às 8 da manhã de segunda. Eram quase 72 horas de urgência e via-se de tudo: desde uma grávida em trabalho de parto, picadas de peixe-aranha e, se havia festas na aldeia, era quase certo que apareciam facadas e navalhadas.
Havia muitas situações de alcoolismo, mesmo em miúdos?
Sim, as sopas de cavalo cansado. Havia essa ilusão nas aldeias de que o álcool dava calor, o que ajudava a fazer frente ao frio. Claro que também havia miúdos que iam à garrafeira dos pais, quase para experimentar o menú dos adultos. Hoje é diferente. A bebida passou a ser vista quase como uma condição para estar contente e feliz. Há uma noção um bocado perversa do que estar feliz e contente implica dizer alarvices e fazer figura de palhaço…
Os pais levam essa preocupação ao consultório?
Sim, mas vejo sobretudo isso nos agrupamentos escolares. O álcool hoje aparece muito barato aos jovens. Até à volta de algumas escolas há happy hours de cerveja, imperiais a 60 cêntimos, o que fica mais barato que uma água ou um refrigerante.
Em termos de doenças, que diferenças se nota mais nas crianças?
Não nos podemos esquecer que somos campeões na redução da mortalidade infantil. Houve uma diminuição do peso das doenças infecciosas e há mais situações crónicas, seja perturbações do desenvolvimento, cancro e as consequências de violência e acidentes. Mas há muito mais problemas de saúde mental, se calhar porque as pessoas ligam também mais a isso, mas não digo só esquizofrenias e neuroses. Há mais casos de crianças que se sentem infelizes, tristes, deprimidas.
Crianças de que idade?
Quatro e cinco. No fundo miúdos deprimidos por se sentirem mal nos seus ecossistemas, mal em casa, muito fechados. São quatro paredes sem casa, no carro, no consultório. E muitas vezes tudo plastificado, mesmo os afectos.
Falta de amor que gera falta de amor-próprio?
Sim. Creio que o nosso discurso de adultos não contribui muito para uma boa auto-estima.
Que idade tinha a criança mais nova que viu com uma depressão?
Já vi depressões em bebés. Um bebé que não seja objecto de afecto explícito corre esse risco. Agora, o ser humano tem uma boa resiliência desde que perceba o que se passou.
Mas como se trata uma criança com depressão?
Primeiro é preciso descobrir o que a deprime, o que a traumatizou, magoou. Isso nem sempre é fácil. E depois é tentar fazê-la ver o lado bom da vida, o que às vezes não é fácil pois é residual.
Dizia que os adultos podem contribuir para esse fenómeno.
Sim, há duas coisas erradas que fazemos. Uma é criar a expectativa de uma vida maravilhosa que depois não se concretiza. Aquela pressão para ir para o quadro de honra, ter a camisa de marca. A outra coisa é precisamente o contrário, aquela atitude de “escusas de estar a esforçar-te para ser uma pessoa completa porque, das duas uma, ou vais ser um malandro ou a vítima do malandro.” É o que vemos no telejornal: a galeria de horrores em que se salta do malandro, para o assassino, o pedófilo, o ladrão, o corrupto, o mentiroso. Isto não é muito estimulante para quem está a crescer e acho que devemos, enquanto adultos, ter a preocupação de passar um quadro de liberdade do que é a vida adulta. Devemos dizer que há o malandro, a vítima do malandro e depois a terceira hipótese, que é a da generalidade das pessoas. Acho que os adultos se vitimizam um bocado e desfrutam pouco para estar obcecados com o que não têm e isso passa às crianças.
Os pais que o procuram hoje são diferentes de há 30 anos?
Sabem mais coisas. Sempre foram mas hoje assumem-se mais como os primeiros cuidadores dos filhos e os médicos vão perdendo felizmente aquela arrogância, aquilo de se achar que os pais não sabiam nada e o doutor é que era o bom. Antes, se os pais fossem ignorantes, saíam tão ignorantes como quando tinham chegado ao consultório porque nada era explicado ou então os médicos usavam um jargão impressionante. É aquela velha história de dizer ao doente quem tem espondiloartrose e não bicos de papagaio. Espondiloartrose é mais solene e às vezes isto ainda acontece… A medicina evoluiu muito pouco neste sentido.
Da humanização?
Sim, continua a haver este desfasamento entre uma ciência que não sendo exacta tem de ser muito rigorosa, mas que tem de saber ao mesmo tempo comunicar. Não será caso único, acontece o mesmo com a linguagem jurídica. Acho que se um diagnóstico ou uma terapêutica é um acto negocial, como uma lei é para ser seguida pelas pessoas, tem de ser antes de mais entendido.
Uma relação negocial em que sentido?
Se faço um diagnóstico ou prescrevo um antibiótico de oito em oito horas, e os pais questionam que por causa do infantário têm receio que a educadora falhe, tenho de ver se há alternativa, se pode ser de 12 em 12. Tem de haver um entendimento mínimo para haver um compromisso e as coisas funcionarem.