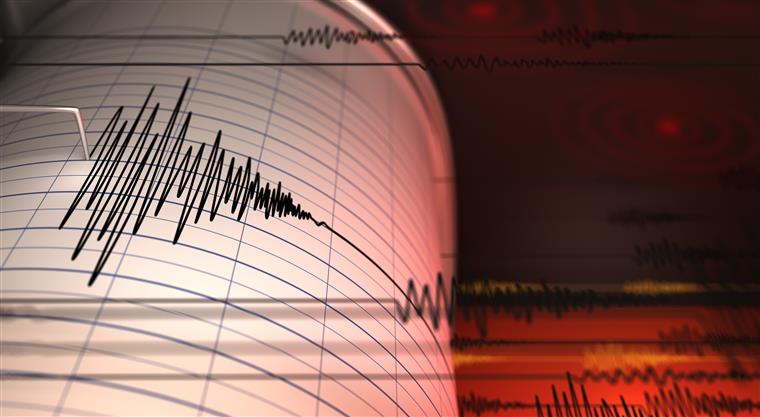Morrer de velho, fazendo da insolência um traço tão fundo que muitos o tomavam como privilégio de um ser de um mundo antigo, e hoje tão remoto, isto está longe das aspirações contemporâneas. Além da personalidade que podia ser muito gentil ou fabulosamente agreste, qualquer tentativa de retratar Eugénio Lisboa deverá assinalar a longevidade e capacidade proteica que se foram tornando aspectos redundantes à medida que o homem persistia, vivendo até aos 93 anos, sem deixar que pudéssemos cheirar qualquer indício de fraqueza, de tal modo que mesmo esse cancro que o matou parece ter-lhe feito a vontade, como mais um título de nobreza em reconhecimento pelos serviços prestados à memória dos seus. Aos 34 anos, em Novembro de 1963, ele assinava um artigo com o título “Morrer de velho”, no semanário “A Voz de Moçambique”, num sinal de pesar face à ausência daqueles que lhe tinham ensinado a viver a vida e a degradar-se nela. “Rói-nos, de cada lado, um cancro minaz – mas cruelmente oposto: eu sou o que vai continuar a existir; eles são os que vão deixar de existir.” Agora, os termos invertem-se, tendo chegado a vez deste eterno insolente nos deixar, deixando como tão poucos a sensação de um mundo a desaparecer enquanto outro, singularmente despovoado, vai surgir.
“Imagino que o homem é poroso para a morte e que a sua proximidade costuma marcá-lo de tédios e de luz, de vigilâncias milagrosas e de previsões”, escreveu Borges. E é curioso como Eugénio Lisboa parece ter rejeitado muito cedo esse grande silêncio dos vivos que tanto se protegem daquele mundo dos que vão morrer, sentindo como esse é já outro mundo. Ele talvez tenha vivido mais por não se ter recusado a esse confronto. “Morrer é longo”, como dizia uma das personagens do seu tão estimado Montherlant. E isso começava pelo exercício de medir bem as suas palavras, horrorizando-se ao ver crescer o número de clowns sinistros que escarram diariamente em jornais de todas as cores palavras e conceitos tonitruantes, notando que a sua força indominável nasce de uma total ausência de sentido do ridículo. Ele deu-se ao tempo, aprendeu com este a paciência, e essa generosidade de fazer companhia aos que se despedem angustiadamente da vida até esse limite que eles terão de franquear sozinhos. Sabia há muito não só que chegaria também a sua hora, mas que teria a desenvoltura necessária para não se humilhar.
“O que vai morrer é sempre um importuno ou um maníaco ridículo. Os vivos, os que vão ficar – não ‘podem’ levá-lo a sério. Afastam-se pela troça ou pelo cepticismo.” Esta meditação ocorre-lhe após a leitura do romance “O Caos e a Noite”, de Montherlant, e Lisboa nota como o protagonista, Celestino, um espanhol estrangeirado numa Paris a que permanece alheio, enfrenta uma morte que começa a cercá-lo duas décadas antes de ter intenções de o levar, e ele não pode fazer mais que lutar para se manter relevante, e quanto mais o faz mais se humilha, mesmo ao tentar “discutir a sua morte, iniciar, com dignidade, um ritual fúnebre, organizar em suma, essa coisa espantosamente importante que é o seu aniquilamento – rir-se-ão dele”. Eis o primeiro sinal mortífero, adianta Lisboa: “desinteresse, indiferença dos outros em relação à nossa morte provável”. O ensaísta português compadeceu-se deste e de outros personagens com que o seu romancista de eleição retratou esse sentimento de resvalar para “o outro lado”. Mas Eugénio Lisboa, talvez por esta capacidade de se compadecer mesmo do destino de ficções teatralizando as angústias humanas, nunca foi afectado por esse vazio, nunca se retirou do mundo, nem parece ter sentido aquela comichão de “não ser considerado”. Ao contrário de Celestino, a quem a velhice caíra em cima como uma tampa, ficando refém de uma série de ausências, de uma sucessão de dias sem visitas, sem correio, sem telefonemas, antecipando a sensação de morte, há muito que o escritor português estabelecera um pacto decisivo com a vida, nunca lhe sendo indiferente, nem esta a ele. Muito provavelmente nem se deu conta de que a morte veio. Esta manhã, levantou-se como de costume e o seu próprio espírito concebeu algum jornal para que dele se pudesse ocupar, sendo bem capaz de supor e congeminar estas intrigas meio frívolas meio escabrosas que nos vão dominando a atenção. Isso ou os capítulos seguintes de algum dos tantos que se lhe empilhavam entre as mesas e a cabeceira. “Inimigos ou não inimigos, sinto-me solidário de todos os que morrem”, escreveu Montherlant. E Eugénio Lisboa não precisou de sentir qualquer ameaça à sua vida para ter em dia, desde muito novo, as quotas no sindicato dos que vão morrer. Assim, nunca chegou propriamente a confundir-se com esses que guardam a vida como um bem de tal modo precioso que não a usam nem gastam, não colhem a flor do risco, e acabam por ilustrar essa condição patética daqueles velhos que, como anota o francês nos seus Carnets, “deveriam ter um falar mais franco, mas não têm sequer a coragem do túmulo”. Toda a sua vida, Eugénio Lisboa quis pagar o preço para levar às últimas consequências a sua franqueza, e pressente-se nos seus escritos esse hábito de um desbocamento interior. Pois o que acontece com os covardes, é que às tantas perdem o hábito de serem sinceros mesmos quando falam consigo mesmos, e às tantas têm muita dificuldade em reconhecer exactamente aquilo que sentem ou pensam sobre questões menores e mesmo até sobre as principais.
Reconhecendo que este era o abismo do nosso tempo, Lisboa quis sempre preservar aquela insolência dos seres que pensam por si mesmos. Em certo sentido, isto passava por uma lealdade absoluta aos autores com que se formou, prestando-lhes um culto tantas vezes imoderado, solitário, arriscando até um certo ostracismo. (“Aos poucos escritores que tenho estudado, com uma certa monotonia obsessiva, rendi eu essa homenagem a um tempo humilde e suprema: a atenção.”) Basta pensar como se fez uma espécie de apóstolo isolado de uns poucos autores, Henry de Montherlant, André Gide, mas sobretudo José Régio, a quem dedicou uma devoção estupenda, tratando-se de um autor hoje largamente esquecido e incapaz de suscitar qualquer tipo de entusiasmo. Cumpria uma espécie de luto retumbante, exaltando os valores e as obras que foi integrando na sua genealogia. “Somos o hábito uns dos outros: eles foram-me necessários, amigos, omnipresentes, indispensáveis”… No fundo, ele entendia como a razão literária, se as posições demarcadas forem leais a afinidades profundas, se torna uma expansão formidável do próprio sentido que damos à existência.
Treinado para resistir ainda nos tempos da grande peste (o Estado Novo) que assolou esta “antiga e fácil pátria da amargura”, Lisboa procurou defender-se e à sua postura franca e mesmo altiva sem ceder às intrigas do nosso patusco meio literário. Era bastante cáustico nas apreciações que lhe tecia, e trazia desde a sua Moçambique um desdém enorme pelo género de escriba que se diz inédito logo ao nascer, e depois “sebastianiza gulosamente a mercadoria que ninguém lhe vai buscar à gaveta esquiva, suspirando pelos cantos uma melancolia palustre e o seu bocadinho patética…” Sendo um leitor omnívoro, e um admirador fervoroso que investiu toda a sua disponibilidade, esforço e estudo nos seus autores, isto mesmo vincava uma inapetência pela palhaçada publicitária, e perante a nossa literatura academizante e esterilizante, contra a sua tepidez mole e largamente soporífera, às tantas propôs-se a erguer-lhe uma barrela, aplicando-se em dissolver a forma endurecida da sua estupidez tradicionalistas. Com a sua insolência soberbamente imprecativa, ainda está fresca na memória a forma como, no Verão de 2022, zurziu esse pacto que vai funcionando entre nós, entendendo que “os nossos professores, escritores e críticos andam a precisar de um sólido curso de ética profissional”. Não é nada de muito novo, pois há muito que “os melhores e os piores, nesta mole confusão, se associam numa espécie de confraria dos ‘porteiros de todas as consagrações’”, a questão é que ultimamente o ambiente se tornou irrespirável, publicando-se, “actualmente, as coisas mais aberrativas e ofensivas de uma inteligência lisa e clara (…) porém, aclamadas aos gritos e com fórmulas aquecidas, indiciando um misto de paranóia e imbecilidade. Textos que não são coisa nenhuma, a não ser mixórdias indecifráveis, são elevados aos cornos da lua, onde ficam pendurados, para benefício dos basbaques. E são promovidos por nomes egrégios e muito aclamados na nossa praça literária.
Alguns destes textos são afoitamente brindados com afirmações que os declaram, nem mais nem menos, ‘os mais importantes de todos os tempos’ e outros biscoitos neste gosto.
Pergunto: quem sobrevive a isto?”
A tão suculenta diatribe vinha a propósito de “um dia lusíada”, de António Carlos Cortez, que com “uma incrível mixórdia literária”, depois se sagrar junto da habitual liga de “trapaceiros” no campo da poesia e do ensaio, queria agora também fazer uma sortida barulhenta e reclamar o seu quinhão no território do romance. Eugénio Lisboa denunciava este “embuste de dimensões gigantescas”, tendo este sido amadrinhado desde a primeira hora por Lídia Jorge, que lhe teceu um vasto louvor. Costuma dizer-se que há muito cessaram as polémicas, mas isto deve-se simplesmente à conversão dos novos trapaceiros a esse regime mediático, em que pouco importa ser-se minimamente consequente, bastando gerir o silêncio e contar com o desinteresse e a indiferença dos mesmos leitores que lhes interessa cativar.
Como sabemos, e como tão bem o sintetizou Eduardo Lourenço, foi no plano crítico que a anquilose cultural tomou as formas mais perniciosas, criando um autocontentamento insuportável, cujos reflexos e malefícios se estenderam ao julgamento integral do nosso passado literário. Ora, Eugénio Lisboa expôs tanto o vigor ingénuo como os aspectos mais crapulosos daqueles que se prestam a um tipo de elevação que, depois, os próprios autores acabam por lastimar, uma vez que isso origina uma espécie de autocastração ritual, nuns exageros patéticos que tornam difícil levar em conta as virtudes que até seriam dignas de menção. Tendo visto o quanto eram prejudiciais os golpes de secretaria orquestrados por autores frustrados e ressentidos, tendo-lhes merecido a sua invertebrada e sincera aversão, às tantas Eugénio Lisboa deu-se conta de que o que falta fazer entre nós é uma história subterrânea da literatura portuguesa, uma vez que isso sim constituiria um monumento sinistramente revelador.
Numa época francamente desgraçada e em que, o que vulgarmente se chama a burguesia, como lembrava Barthes, já não sustenta a sua grande literatura. Por outro lado, a moral vem requisitando todos os planos, e invadiu com as suas representações hipócritas, a cena cultural, vindo-lhe com um sem número de fabricações e imposturas. É neste contexto que Eugénio Lisboa, colocando-se do lado da memória, mostrou ser um empenhado e combativo antagonista, reclamando aquela enobrecida presença dos antigos oficiais, “num entrar constante na ‘recordação circular’, essa vasta combinatória de fragmentos citacionais; num entregar-se a um gosto de contar, de alongar a linha de narratividade, de criar pormenorizados espaços cénicos onde cada elemento (autor, personagem, crítico…) se possa movimentar” (Maria de Lourdes Cortez). Entendendo o esforço crítico como um exercício criativo da memória, ele admitia, com Geroges Poulet, que “criticar é lembrarmo-nos, e admitia que o seu encanto roçava por vezes um “fanatismo sagrado”, em que se sentia compelido a investigar absolutamente tudo, isto quando se encontrava diante de um texto em que a memória ficava sujeita a um tal grau de tensão que era como se ao longo dos seus corredores um certo número de campainhas produzisse uma música interior e um ímpeto capaz de deitar abaixo uma biblioteca no esforço de confirmar um pormenor. “Muitas vezes a leitura de um texto despenha-me numa pista ligeira e que aparentemente pouco tem de afim com ele: todas as aproximações se tornam então possíveis e mergulhamos, com uma aparente leviandade, num mundo de sugestões eufóricas e estimulantes. É uma forme de felicidade ou mesmo de prazer.” Lourdes Cortez notava como no seu exercício ensaístico, Eugénio Lisboa infligia nos textos lidos determinadas fragmentações ou inflexões, exercendo neles um levantamento (uma colheita) dos elementos que mais o provocavam instalando-se nessa condição perversa do leitor que mergulha e se vai entrando na dispersão dos textos, fazendo depois vibrar uma só e mesma frase. Lendo as obras à transparência umas das outras, ele “cumpre e modula, de extremo a extremo, a linha de um itinerário, não deixando nunca de exercer um ‘cosmos’ bem pessoal que vai orientar o seu prazer”. E o gozo maior que se retira dos seus textos nasce precisamente dessa alegria daquele que vai “criando cumplicidades comovidas mas discretas com os autores que comenta”.
Eugénio Lisboa estava com Thoman Mann quando este reconhecia que a missão daquele que se exprime artisticamente é a de ser um animador em todas as acepções e nada mais. Assim, sem a menor paciência para os enlevos patéticos de um meio que se entrega de forma “quase necrófila a um mundo miasmático e fúnebre”, ele entendia que os mortos não são feitos para serem amados como mortos, mas sim como ressuscitados. Depois de volumes de ensaios tão absorventes e empolgantes como os de “Crónica dos Anos da Peste”, “Indícios de Oiro” ou os dois que integram a colecção Biblioteca Breve, notável iniciativa do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa manteve o seu habitual fulgor, desassombro e lucidez como cronista, reunindo em “Uma Conversa Silenciosa”, alguns dos últimos sinais desse género hoje ocupado por colunistas imbecilizados pelos rigores da actualidade e das guerras por côdeas. Com aquela sua queda para a sátira, com o seu empenho em separar o trigo do joio (“Quantas mais vezes nos impingirem gato por lebre, mais vezes teremos nós que dizer que não gostamos de gato…”), se gostava de comunicar e assumir um tom directo, a um tempo desbragado e contido, mostrou-se também consciente dos próprios limites, e nunca se perdeu num polemismo fácil. Acima de tudo defendia uma certa lisura, a de pôr na mesa, a descoberto, as cartas do nosso próprio jogo, e, sendo um ser com o gosto do convívio e da discussão, um apaixonado pelas ideias, sempre gostou da margem que havia nos livros para esse piscar de olhos entre oficiais do mesmo ofício.
Para Eugénio Lisboa a literatura liberta-nos do sufoco do ego e da primeira pessoa do singular, oferecendo-nos perspectiva, aliviando-nos dos “nossos fáceis e pequeninos desesperos de trazer no bolso”, serve também para “lavar o fígado” e como vingança face à baixeza com que diariamente somos confrontados. E ele assinalou essa passagem de uma carta de Manuel Larangeira em que este dizia a um amigo: “Trabalhe, meu querido artista, trabalhe até que o assassinem (…) Por desprezo, deixe-lhes uma obra, apesar de reconhecer que eles não são dignos de que se lhes deixe o cadáver sequer.” Em certo sentido a literatura é esse cadáver que não arrefece, que não dá descanso, que se ri a noite inteira das purgas e do ambiente de optimismo abandalhado dos imbecis. Lisboa entendia que “o acto revolucionário é um acto essencialmente conservador: saímos do extremismo de um ‘buraco negro’ para a abertura oxigenada que nos permite ‘regressar’ aos espaços onde muito antes fora permitido viver”. Ele vincava que “a revolta é sempre o regresso a um paraíso perdido que se quer reencontrar”. E apoiava-se na lição do crítico norte-americano Harold Rosenberg para quem “as mudanças mais radicais partiram de personalidades conservadoras e mesmo convencionais – uma fuga poderosa à radicalidade presente precipita-os, por assim dizer, num movimento de retrocesso em direcção ao futuro”. Para este autor, a revolução em arte “reside não só no desejo de destruir, mas na revelação daquilo que já está destruído”, e por essa razão aquilo que ela mata são os que já estão mortos, oferecendo aos vivos uma oportunidade de se desembaraçarem deles. E para Eugénio Lisboa a vida nunca foi um dado adquirido, e só lhe interessava uma literatura que fosse um modo mais directo de chegar à vida.