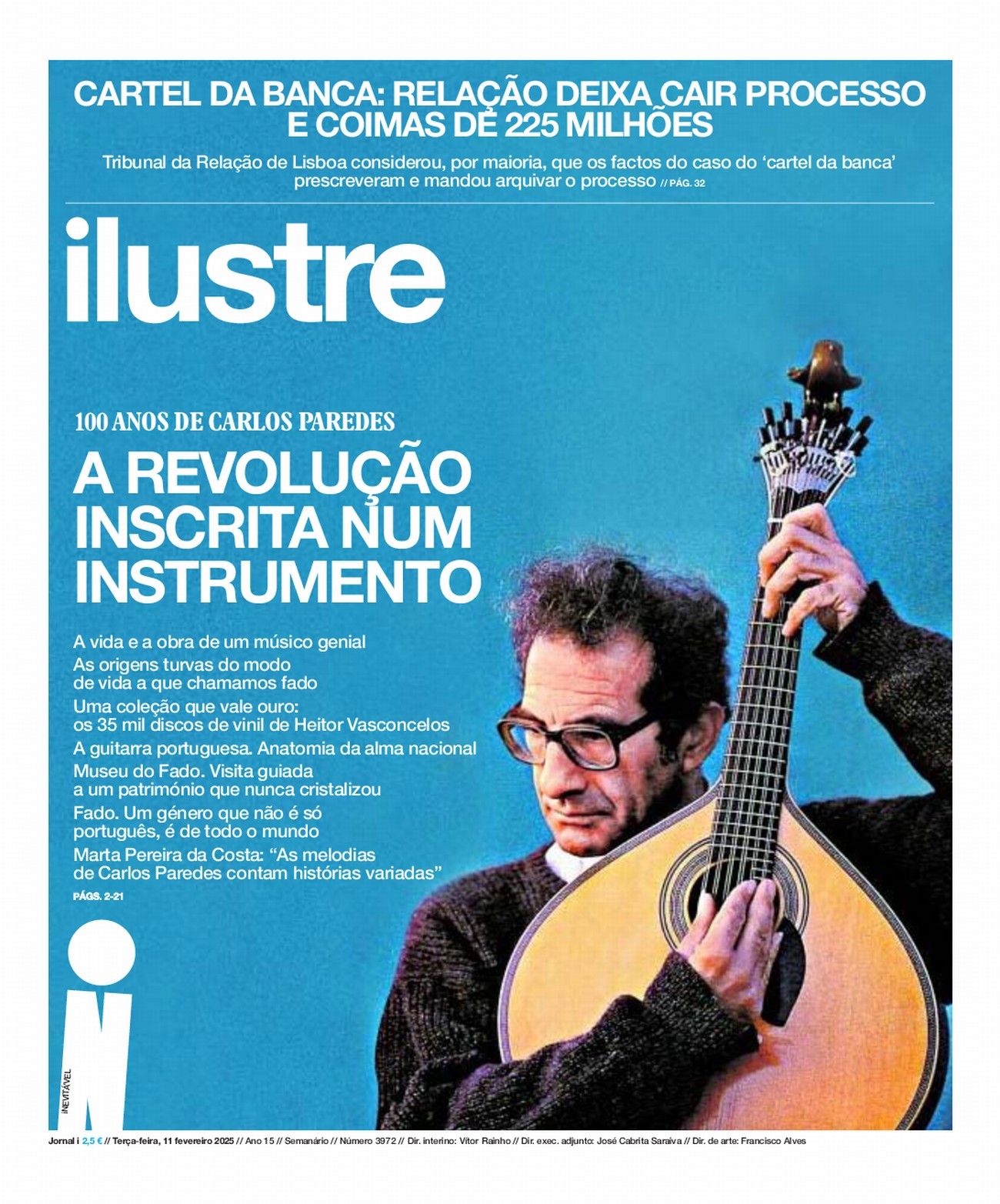Escrevia Aristóteles que «em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso». E, de facto, é difícil encontrar alguém que não goste de contemplar o mar. No entanto, são também muitos aqueles que dele têm medo. «Não devemos ter medo. Devemos ter respeito», ouvimos muitas vezes. Ao chegar a uma praia é, por isso, natural que nos sintamos mais seguros ao avistar os pontinhos amarelos no meio do areal que nos dizem que ali temos pessoas que vão atuar caso aconteça um acidente. Mas é precisamente por termos crescido com eles que não nos interrogamos sobre a origem destes profissionais que têm como missão «guardar a vida daqueles que se banham no Atlântico».
Iniciativa visionária da Rainha D. Amélia
«Somos um país à beira mar. Há coisa de 160 e tal anos, a nossa costa tinha muitos naufrágios, era conhecida como ‘a costa negra’, devido à falta de sinalização de farolagem», explica António Mestre, 51 anos, «amador profissional», como gosta de se autointitular, e responsável pela Associação Resgate, fixada em Sines há 23 anos. «Sou apaixonado por aquilo que faço desde os 18 anos e acredito que essa é a diferença entre um amador profissional e um só profissional», esclarece. No seu entender, a palavra «nadador-salvador» já não faz sentido, dado que a sua missão sempre foi «guardar vidas» e não apenas «salvá-las». Além disso, segundo o «amador-profissional», esta é a forma correta para traduzir o nome em inglês lifeguard. «Queremos evitar isso a todo o custo, não é? Estamos cá para guardar as pessoas. Não é apenas dentro de água. Por isso, gostava que nos começassem a chamar de ‘guarda-vidas’», apela.
Voltando à história… De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, como a navegação comercial apenas frequentava os portos de Lisboa e Porto, os naufrágios nas barras do Tejo e do Douro eram frequentes. E, por isso, por ordem do Rei D. Miguel foi criada, em 1838, em São João da Foz do Douro, a Real Casa de Asilo dos Náufragos, destinada a abrigo para salva-vidas.
Entretanto, a traiçoeira linha de costa portuguesa continuava a fazer vítimas. «Havia muita gente a morrer afogada, porque os navios encalhavam pela fraca sinalização. Tinha de se arranjar alguma coisa para atenuar o problema». Em fevereiro de 1892 um violento temporal assolou a costa portuguesa, tirando a vida a 105 dos cerca de 900 pescadores que andavam na faina.
«Perante tal tragédia, surgiu esta necessidade aos olhos de uma visionária da realeza, a Rainha D. Amélia. Com ela surgiu o Real Instituto de Socorros a Náufragos». Embarcações a remos socorriam os aflitos. Quem as comandava eram homens ligados à pesca. «Tinham de conhecer bem o mar tinham coragem e bravura. Pessoas predispostas a este tipo de missões voluntárias. Hoje continua a ser uma missão», considera o guarda-vidas.
Mais tarde, quando ir à praia se tornou um hábito comum nos tempos de lazer, «era necessário que alguém olhasse pelas pessoas, desse banho às pessoas», afirma António Mestre. Surgiram então os banheiros, também eles homens ligados à pesca. «Quando a pesca não era tão forte e as pessoas vinham mais para a praia, havia um aproveitar dessa altura para ganhar mais dinheiro. Ao fim e ao cabo estavam perto das pessoas, ajudavam as pessoas a banhar-se, a chegar perto da água… E, claro, se alguém precisasse de ajuda, eram essas pessoas que ajudavam», acrescenta.
O ISN começara como uma organização privada, formada por voluntários. Porém, devido a dificuldades de fundos e de pessoal para as embarcações salva-vidas, a partir de 1 de Janeiro de 1958 passou a ser um organismo do Estado na dependência direta da Marinha, «dotado de autonomia administrativa e com a atribuição de promover a direção técnica respeitante à prestação de serviços com vista ao salvamento de vidas humanas nas áreas de jurisdição marítima».
Servir às mesas e assar sardinhas
De acordo com o site oficial da Autoridade Marítima Nacional, o primeiro registo de apoio a banhistas aparece no relatório da comissão central de 1909, no final do reinado de D. Carlos, um homem profundamente ligado ao mar, referindo a praia da Trafaria, onde parece ter nascido a modalidade da natação em Portugal. Em 1956 realizou-se pela primeira vez um curso de Nadadores Salvadores com a participação de 90 alunos.
Não foi o suficiente, porém, para se pôr um ponto final nas tragédias. «A partir do ano 2003, com o novo enquadramento do quadro legal é que as coisas tomaram um ritmo maior. No verão desse ano aconteceu uma tragédia na Costa da Caparica. Morreram mais de sete pessoas afogadas. Veio a descobrir-se que alguns nadadores salvadores estavam a assar sardinhas, outros a servir às mesas… Agora, a lei não permite isso, mas antes, o nadador podia fazer isso… Trabalhar na restauração, mais alugar espreguiçadeiras. Isso é impossível. Tinham até a bolsinha do dinheiro… Como é tudo na praia, os concessionários ou responsáveis, faziam isso. Estavam a fazer outras coisas e, se fosse preciso, iam salvar pessoas», aponta António Mestre, lembrando que foi o partido Os Verdes que «escreveu o primeiro projeto de lei para os nadadores-salvadores».
E como é a realidade atual de quem guarda as praias? «Somos cada vez menos, porque cada vez menos os miúdos têm apetência para isto», avalia o responsável pela associação Resgate. «As pessoas não estão habituadas ao meio aquático. Vivemos ao pé da água mas ninguém liga. Os miúdos só gostam quando são pequenos. As pessoas dizem que sabem nadar, mas não. Arrastam-se dentro de água! Quando nos aparecem miúdos para tirar a formação, alguns têm mesmo de aprender a nadar», alerta.