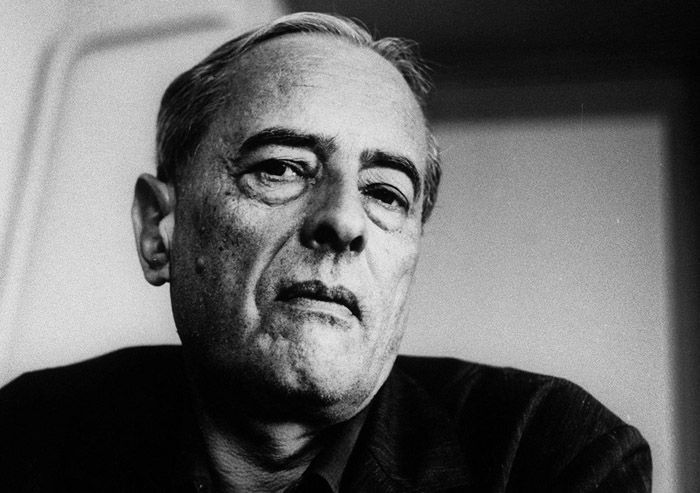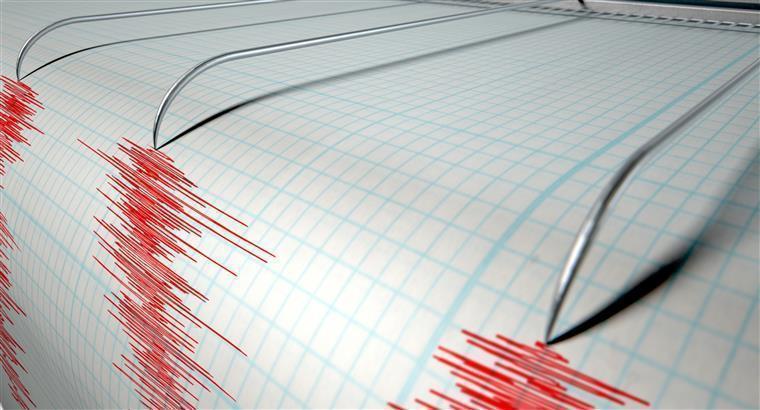Há demasiada conversa à volta da literatura, sobretudo desse género mole. Cada vez mais aquela é uma praça marcada pela ausência, pelas grandes obras prometidas e que nunca chegaram a realizar-se, e isto com o ruído de fundo das palestras esgotantes de uns seres amorfos e sem pinga de sangue, sempre com vista para estátuas cobertas da verdadeira vestimenta da glória: os dejectos dos pombos. Mas falta à escrita a dimensão do desastre que cada época enfrenta, a cruel consciência do nosso destino, tudo isso salvo pelo génio de uma escrita que apesar de tudo não abdica de travar a sua guerra, de se levantar do chão, e caçar nem que sejam moscas com o estardalhaço com que antes se arpoavam baleias. Essa impetuosidade, entusiasmo selvagem, é o que nos salva de ficarmos absolutamente desolados, o que faz com que a inteligência busque novas fontes de rejuvenescimento, e invista contra o mundo inteiro se preciso for. Nestes círculos mais precários do inferno, sobram poucos heróis. Witold Gombrowicz é um deles, um desses grandes misantropos que se deram conta de que, numa época em que a narrativa mostra cada vez mais dificuldades em representar a sociedade como um todo, é preciso largar mãos de todas as conveniências e convenções. Atacar os homens mais do que as ideias, porque hoje as vidas já não se medem por esse calibre. Os exemplos são baixíssimos, insustentáveis, e as ideias não passam de disfarces. A sociedade tornou-se de tal modo invasiva que já não é sequer visível, e infiltrou-se tão profundamente no nosso inconsciente que toda a literatura tresanda aos seus preceitos. Os homens viraram costas à religião, abraçaram esse regime geral do humanismo progressista, mas, no final de contas, balançam entre ingenuidade e hipocrisia. Não se consegue agarrar um só pela carne. Sacode-se bem um corpo, e rápido nos damos conta de que não tem lá nenhum ser dentro. Por vezes um bando de ecos desarticulados, alguns arrulhos de pombos.
Na sua ascese autodestrutiva, Kafka foi levado a registar aquele terrível aforismo que parece funcionar como uma capitulação derradeira diante dessa sociedade diluviana que já não pode ser destruída pois é ela mesma a conjugação de todas as catástrofes: “Na luta entre si e o mundo, há que estar do lado do mundo.” Ora, se neste ponto toda a misantropia do escritor decide que a única coisa que resta destruir é a si mesmo, pois nada mais existe na periferia da sociedade, e para se apagar de vez a luz e trancar a porta é preciso acabar consigo mesmo, em certo sentido, Gombrowicz, é um anti-Kafka, pois em vez de devotar um monstruoso ódio em direcção a si próprio, em vez de se ver como um pobre insecto que engole toda a merda que o mundo lhe serve, assumindo uma espécie de culpa por existir, a metamorfose a que o polaco se entrega é em sentido contrário. Em vez de se tornar minúsculo, ele vê-se a ganhar as proporções de um gigante, fazendo estremecer o solo com as suas passadas, estimando a sua razão como um processo calamitoso, capaz de provocar tremores de terra com os seus juízos dentro da pele das coisas. Sentindo-se castigado tal como Kafka por ser como é, por ver o mundo do lado de fora, em vez de aceitar a culpa pela expulsão, ele alimenta-se de cada humilhação, ajuda ao processo de desfiguração, para não ser apenas um ser repelente mas fácil de esmagar com um jornal embrulhado. Cresce, torna-se ele o elemento que se infiltra, que expõe a sociedade como uma entidade frágil e vaporosa, assente numa série de noções bastante banais e que não resistem a um exame escrupuloso. Ele assume a tarefa de demolir todo o edifício, e começa por algo tão simples como bater à porta. É ele que com o seu toque há-de desesperar todos os porteiros, fazer com que o mundo inteiro desligue as campainhas ate se exilar lá em cima só para não ter de o ouvir.
Com a edição do primeiro volume do Diário de Gombrowicz, a Antígona oferece-nos o testemunho de um ser que se viu exilado de forma inesperada, como se lançado borda fora, um náufrago num país (Argentina) que lhe era completamente estranho, em que nem da língua tinha um domínio sequer rudimentar. Aos 35 anos, numa altura em que preparava um assalto estrondoso ao meio literário polaco, por circunstâncias históricas (invasão da Polónia pela Alemanha), ficou do outro lado do mundo a ver se as coisas desanuviavam. Iriam passar mais duas décadas antes que pudesse regressar. Enfrentou a miséria e o anonimato, viu-se obrigado a abdicar de todas as suas ambições, estatelado numa solidão terrível, fazendo de si a imagem de um conde depois de ter sido abolida da terra toda a ideia de nobreza. Mas foi assim que foi levado a um encontro com a versão mais despudorada e implacável de si mesmo, e com uma perseverança demencial, acabaria por triunfar, tornando-se um dos mais ferozes autores do século XX.
O que faz de Gombrowicz um escritor singularíssimo, não é tanto a agudeza dos seus diagnósticos em relação aos vícios e às imagens ilusórias que caraterizam a vida contemporânea e, muito particularmente, o meio cultural e artístico, mas sim o génio enfático e a malévola graciosidade do seu estilo, o gozo que retira da abominação, o talento para atravessar com uma lança uma e outra vez os mesmos alvos, as mesmas questões, num registo de irritação que ganha um imponente balanço, o de alguém que anda para ali à espadeirada provocando um clamor medieval com uma sensibilidade e técnicas modernas. Neste aspecto, ajuda que seja não apenas um escritor anti-político como profundamente anti-social, nutrindo-se do seu mal-estar, sofrimento e também das suas idiossincrasias para desfechar os seus golpes contra esta mescla de comodismo e horror em que estamos imersos. O estilo garante-lhe um lugar de destaque entre esses espíritos desenquadrados, figuras que nos provocam simultaneamente adesão e repulsa, avançando à machadada, com uma prosa que nos atinge no tronco e faz estremecer até às raízes, isto quando tantos outros autores mais subtis falham na hora de nos livrar do torpor para o qual somos atirados pela marcha do quotidiano. Assim, a sua obra, e particularmente o Diário, é tão revigorante não por erguer um sistema teórico sumptuoso, um tratado irreprimível, mas porque, à semelhança de Montaigne, soube usar como forma literária mais adequada ao pensamento e à revoada do gesto crítico a forma da confissão, da auto-análise, da polémica e da sátira que não poupa ninguém.