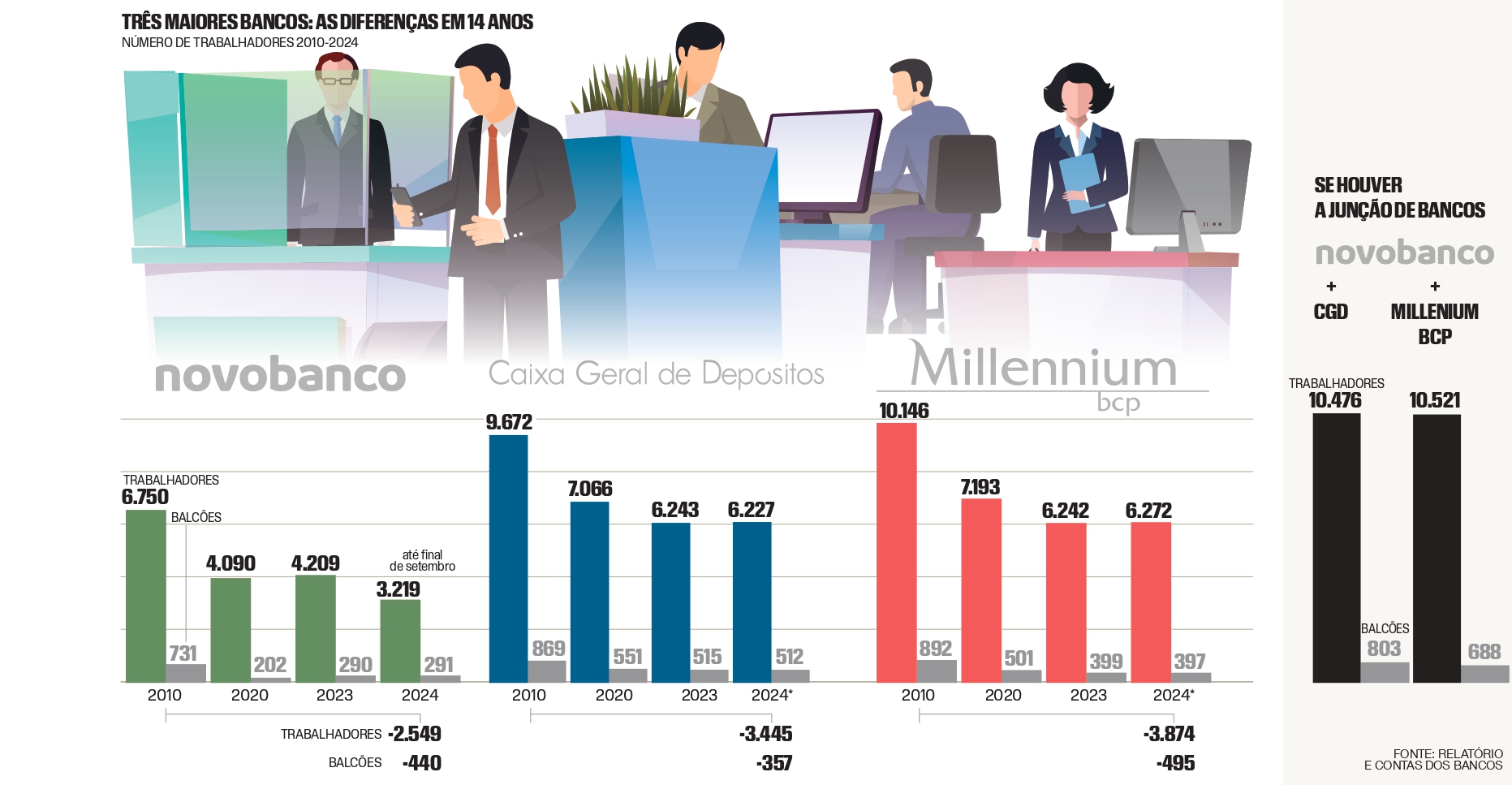Fundado em 1984 por Joaquim Benite (JB), 37 anos depois o Festival de Almada é unanimemente considerado o mais importante acontecimento teatral português e um dos mais prestigiados da cena teatral europeia, atraindo, ao longo das suas 38 edições, os mais importantes criadores mundiais.
O i juntou à conversa dois protagonistas que colaboraram estreitamente com Benite durante a vida do Festival: Rodrigo Francisco, diretor-adjunto de Benite, desde 2009 até a morte do fundador do Festival, em 2012, ano em assume a direcção da Companhia e do Festival; e Vítor Gonçalves, que colaborou no Festival desde a sua primeira edição e foi seu diretor-adjunto até 2006, ano em que partiu para Moçambique, onde fundou os Estudos Superiores de Teatro, na Universidade Eduardo Mondlane. Na edição deste ano do Festival de Almada, Rodrigo Francisco escreveu e dirigiu um espectáculo sobre um tema incómodo e frequentemente mal tratado em Portugal: a Guerra Colonial. Partindo de testemunhos directos de homens que estiveram nas três frentes do conflito, Rodrigo cria um espectáculo que adopta o ponto de vista de um combatente português, sem espartilhos ideológicos e sem subserviências ao politicamente correcto. Curiosamente, também Vitor Gonçalves se havia interessado pelo mesmo assunto, mas partindo do ponto de vista dos combatentes moçambicanos. Tendo publicado, em 2011, um livro com depoimentos de 12 homens e mulheres que combateram o exército português, entre os quais figuram Joaquim Chissano, Graça Machel ou Alberto Chipande – O Sacrifício da Liberdade (Maputo, 2011; ed. Media Group).
VG – O Festival acabou. Estás de ressaca?
RF- São muitas semanas de adrenalina. Sobretudo, porque as limitações de público decorrentes da pandemia nos obrigam a estender o Festival por mais uma semana. Passámos das tradicionais datas – de 4 a 18 de Julho – para este formato de 2 a 25. Isso exige um esforço suplementar a toda a equipa, que há mais de mês e meio trabalha sem folgas. Durante o Festival há sempre coisas a acontecer, urgências a que atender. Isso mantém a adrenalina elevada. Nota que este ano, por causa das limitações de viagens, tivemos que substituir dois espectáculos internacionais de um dia para o outro.
Quando acaba fica este vazio. É o mesmo que sucede quando estreamos um espectáculo – durante uns meses dedicamos-lhe toda a nossa vida e quando acaba não sabemos como existir sem isso. É preciso que venha o próximo Festival, ou o próximo espectáculo, para voltar a vida. Um ciclo que se abre e fecha continuadamente. Até que um dia se fecha e pronto: não se fecha mais…
VG- Ou fica fechado para sempre…
RF- Exactamente. Acaba-se esse constante fazer e desfazer a que dedicamos a vida.
VG- Mas o Festival significa o quê na tua actividade anual? É um pico, ou é uma excepção, um interregno na tua actividade de criador?
RF- É o tempo de celebração com os espectadores. Repara, nós temos um clube de espectadores do teatro que tem cerca de 700 membros. Algumas dessas pessoas acompanham a Companhia há 50 anos, viram os nossos primeiros espectáculos em Campolide, em 1971. Julho é esse momento de encontro. É como o Natal: sabemos sempre que acaba por chegar. Mas tu sabes bem que também é um momento de confronto – em que confrontamos os nossos espectadores e a nós próprios com o que de melhor se produz no mundo em termos teatrais.
VG- Há anos que assim é.
RF- Sim, quando vocês trouxeram pela primeira vez o Peter Brook, o Piccolo Teatro de Milão, a Alla Demidova, ou mais recentemente o Berliner Ensemble, a Schaubuhne ou este ano o Ivo van Hove, que é um dos mais conceituados encenadores em actividade, isso faz o nível de exigência dos espectadores crescer, mas também nos obriga a crescer a nós, criadores. Aliás, nós só nos podemos desenvolver enquanto criadores se o nosso público crescer connosco. Não há ganho em sermos os melhores cá da nossa rua se os vizinhos só veem os nossos espectáculos. Eles devem ver aqueles que são melhores do que nós. Claro que depois ficamos esmagados, quando os espectadores saem de um desses espectáculos e nos dão uma palmadinha nas costas e dizem…
VG – ‘Rapaz, quando é que fazes uma coisa destas?’
RF- Isso. Nós ficamos assim pequeninos. Mas essa emulação ajuda-nos a crescer e foi o que o JB procurou ao fundar o Festival: deixar de ter certezas sobre o que cria. Nós auscultamos o público, no último dia do Festival, sobre os espectáculos. As opiniões que recolhemos fazem-nos reflectir e ser humildes. Muitas vezes apreciam espectáculos que estão nos antípodas do que nós produzimos. É uma festa da democracia. Ensina-nos a compreender que nunca pudemos pretender ter certezas sobre o gosto do público. Este diálogo é fundamental. As pessoas tem uma palavra a dizer e os criadores devem saber ouvir.
VG- Eliminar as barreiras entre os criadores e os espectadores é uma atitude estruturante no Festival.
RF- Exacto. Não há barreiras. Estamos aqui, acessíveis a todos. As pessoas vêm ter connosco e dizem o que tem a dizer. Protestam imediatamente e de forma vigorosa quando acham que fazemos más escolhas. Temos a obrigação de absorver essas opiniões e reflectir sobre elas.
VG- Que diferenças sentes no Festival, o que mudou?
RF- Mudou o país. Temos mais meios, mais recursos humanos, melhor equipamento…
VG- Mas é igualmente divertido?
RF- Há sempre uma certa nostalgia desses tempos em que, tantas vezes, só a imaginação permitia vencer as dificuldades. Lembro-me de uma das regras de ouro: não se podia correr, para não alarmar os espectadores…
VG- Outra era: não se pode dizer ou escrever ‘é proibido’.
RF- Tentamos manter essa frescura – temos muitos jovens que fazem voluntariado no Festival e que ajudam a um rejuvenescimento das equipas e do próprio evento.
VG- Não era mais fácil surpreender há 20 anos? Portugal não estava então habituado ao convívio com os grandes mestres da cena internacional. O que fazes para corresponder à crescente exigência dos públicos?
RF- Acho que o segredo foi revelado uma vez ao JB, por uma vendedora de chouriços de Famalicão. A propósito do mistério da excelência do seu enchido revelou ela: ’Isto é preciso é ter um bocadinho de tudo’. Assim é no Festival: ter os nomes de referência e ter alguns espectáculos que – face ao conhecimento que temos dos nossos públicos – já sabemos que irão agradar.
VG- Esse é talvez o segredo de Almada – o público e a relação que com ele se construiu ao longo destes anos.
O facto do público sentir que tem, de facto, uma palavra a dizer.
RF- Sem dúvida. Em plena pandemia, sem saber o que havíamos de fazer, decidimos ligar aos espectadores e perguntar-lhe se teriam coragem de vir ao Festival. Foi o seu desejo expresso de que este se concretizasse que nos deu coragem para prosseguir.
VG- Mas eu lembro-me de ti como um puto. Viste muitos festivais como espectador, imagino… agora diriges o Festival.
RF – Sabes, eu nunca fui verdadeiramente espectador. Lembro-me de um dia ir à varanda, porque havia uma grande agitação na rua, e ver uns tipos vestidos de toureiros a correrem por todo o lado [1986, o espectáculo de rua do grupo espanhol Margen]. Tinha 5 ou 6 anos. Fiquei espantado. Perguntei a minha irmã: – ‘O que é isto?’ ‘É o Festival, estúpido’. Depois, nunca tive o hábito de ir ao teatro. Tenho memória de ir aos espectáculos infantis que vocês faziam na altura, mas foi só. Quando me cruzo de novo com o Festival foi como ajudante de montagens, em 1997. Carregava quilos de areia para dentro do palco, para o cenário de O Carteiro de Neruda.
VG- É daí que me lembro de ti. Recordo-me que participaste em várias montagens como ajudante.
RF – Sim. Vocês estavam a fazer o Festival e ao mesmo tempo a preparar a estreia do ‘Carteiro’, portanto começavam os ensaios quando terminavam as actividades do Festival.
VG- Começávamos a ensaiar por volta da 1h da manha, até de madrugada ou até alguém cair para o lado…
RF – E quando estavam a sair estava eu a chegar para a construção do cenário. Eu nem sabia de facto fazer nada, só sabia ajudar. Chegávamos, e o Galvão [Carlos Galvão, a época director de montagem, actual administrador da Companhia de Teatro de Almada] dizia: ‘Olhem: ‘ele’ quer isto ali, quer mudar aquilo e aqueloutro’. Havia este ‘ele’ que eu não sabia quem era, nem nunca tinha visto…
VG- E que era o Joaquim… eu era assistente de encenação desse espectáculo.
RF- Era o Joaquim Benite. Para um miúdo como eu era, soava como uma espécie de demiurgo, de vontade por detrás de tudo.
VG- Mas aí viste o espectáculo.
RF- A verdade é que não o cheguei a ver nessa altura. Só passados meses, quando a minha professora disse que íamos a teatro. Quando me sentei na plateia e aquilo começou tive um choque. Nunca tinha sequer visto um ensaio. Para mim, aquilo não passava de um canteiro de obras, nem me questionava para que servia. De repente, vejo o espaço habitado pelos actores, pela luz e o som. Ver um espectáculo a acontecer numa coisa que eu tinha ajudado a fazer, naquela areia – pesada como chumbo – naquelas tábuas que tinha andado a carregar… nunca havia pensado que aqueles materiais pudessem dar origem a outra coisa.
Foi uma revelação.
VG- Então, foi aí que pensaste vir para o teatro?
RF- Talvez… Na altura eu fazia teatro num grupo dirigido pelo Malaquias de Lemos, na Incrível Almadense. Mas, assim que tive acesso ao que se fazia na Companhia, quando me deparei com o rigor e o profissionalismo que são necessários para fazer teatro o mundo dos amadores deixou de me interessar. Aproveitei todas as oportunidades para me ir insinuando – e a palavra é mesmo essa: insinuando – na Companhia. O que eu queria era estar ali com aquelas pessoas. Aceitava qualquer trabalho, qualquer tarefa que me permitisse estar convosco.
VG- Lembro-me de ti dessa altura. Recordo-me de estar a invectivar um grupo de jovens, a porta do teatro, entre os quais estavas tu. Já não me lembro da razão da descompostura…
RF- É verdade, acho que foi numa montagem traumática, quando se tentou, debalde, adaptar o cenário do ‘Memorial’ [Memorial do Convento, de José Saramago, 1998] do palco do Teatro da Trindade, onde havia sido estreado, para o antigo Teatro Municipal. Eu entrava. Aliás foi aí que percebi que não tinha jeito para ser actor. A montagem tinha decorrido durante a noite e madrugada e nós tínhamos de estar de novo às 8h no Palco Grande do Festival. Por volta das 3h da manhã decidimos pirar-nos e abandonar a montagem… Devias ter-nos fuzilado… tu também eras um puto nessa altura, tinhas trinta e poucos.
VG- Fugiram, já me lembro. Sim, era mais novo do que tu és agora.
RF- O Festival nessa altura muitas vezes era assim – uma certa poesia caótica.
VG- Lembro-me que, ao longo dos anos, passaram centenas de jovens pelo teatro. A maior parte desapareceu, não faço ideia do que é feito deles. Tu, por outro lado, ficaste e hoje diriges a Companhia e o Festival.
O que aconteceu?
RF- Acho que foi nessa fase que decidi estar sempre disponível para fazer o que preciso fosse na Companhia. O JB, que sabia que eu tinha umas veleidades literárias, convidou-me para integrar o departamento de comunicação do teatro e trabalhar nos Textos de Almada [colecção de cadernos literários que acompanham os espectáculos]. Era o início da internet e eu fazia um brilharete com uns textos que sacava da net e dava ao JB.
VG- Hoje rimo-nos disso, mas de facto agora parece impossível como fazíamos tudo aquilo sem telemóveis…
RF- Sem mails…
VG- Nem fax havia, escrevíamos cartas as companhias e esperávamos semanas pela resposta, sem conseguir saber sequer se tinham recebido o convite. Mas dedicares a vida ao teatro foi uma decisão, ou foi-te acontecendo e um dia descobriste que já não podias sair?
RF- Acho que me foi acontecendo. Repara, quando entrei frequentava o 11º ano, depois acabei por me formar em Línguas e Literatura – que é um curso que ‘não aquece, nem arrefece’. Mas o facto é que desde os 16 anos que estava ligado à Companhia e isso acabou por ser determinante. Eu observava…
VG- Diz lá francamente o que pensavas daquilo tudo, de nós?
RF- Um universo de loucos, loucos! Alguém, como eu, que cai num sítio onde tudo se passa num ambiente de caos, de franqueza absoluta nas relações. Em que todos dizem tudo, desabridamente, uns aos outros. Parecia que vocês andavam noutro universo. Depois, de repente, chegava o dia da estreia e todos se comportavam bem e se vestiam o melhor possível, para receber as pessoas no teatro. E vêm os jornais e escrevem sobre aquilo que, uma meia dúzia de dias antes, era apenas uma enorme confusão, onde todos lutavam contra uma tremenda falta de meios.
VG- Sim, havia muito de improviso na nossa vida no antigo Teatro Municipal.
RF- Tudo era muito débil… O ar condicionado funcionava à sapatada.
VG- O público não se apercebia, porque só via o foyer e depois sentava-se na plateia para ver o espectáculo, desconhecendo tudo o que estava por detrás.
RF- Tudo muito bem apresentado e envernizado, mas as paredes eram de tabique, os actores…
VG- Era tudo teatro, parte da ilusão.
RF- Os actores, se entravam pela esquerda do palco tinham de dar a volta ao teatro e ir a correr pela rua.
VG- Uma vez, ia eu assim mesmo – a correr pela rua, com um fato de época – e ouvi um tipo a dizer a outro: ‘É pá, aquele medieval é lá da minha rua’…
RF- Às vezes, estava eu sentado ao computador e passava o Luís XIV a correr, afogueado, para entrar em cena.
VG- E, foi então nessa tua experiência com o caos, a loucura e a ilusão que decidiste fazer disso a tua vida? Estou a perceber…
RF- Acho que sempre tive esse desejo latente. Fui-me pondo a jeito.
VG- Mas isso faz parte da tua personalidade. Imagino que nunca tenhas dito ao JB: ‘Olha, sabes, quero ser teu assistente’.
RF- Pois não. Acho que ainda tenho valores de uma geração que já não é a minha. Acho que o reconhecimento pelo trabalho deve vir depois de dares provas dele.
Parece-me que hoje já não se age assim. As pessoas querem ser escolhidas antes de saberem o que fazem. Eu insinuava-me, claro. Mas sempre com muito pudor.
Sabes, eu fui jogador de xadrez e levava aquilo muito a sério. O xadrez ensinou-me a ser paciente, a saber esperar. A deixar que o tempo passe e as coisas aconteçam.
VG- Ao mesmo tempo tinhas o desejo de escrever. Esse interesse não te foi dado pelo teatro.
RF- Não. Quando tinha 14, 16 anos fiz um projecto de formação literária, que passou por ler o Vergílio Ferreira todo, depois todo o Saramago e por fim o Lobo Antunes completo. Tudo autores a que o JB não ligava muito.
VG- Excepto o Saramago.
RF- Sim, o Saramago. Tinha essas veleidades literárias que me levaram a colaborar com vários jornais, a publicar contos que depois ia mostrar, ufano, ao JB: ‘Está a ver este meu conto…’
VG- Tratavas o Joaquim por você?
RF- Sim, ele obrigou-me a tratá-lo por tu em 2006. Fiz a minha primeira assistência de encenação e ele não podia ter o assistente a dizer ‘você isto, você aquilo’ a toda a hora.
VG- O JB, tinha essa característica: interessar-se, de facto, pelas pessoas que andavam ali à volta e de, tantas vezes, lhes ensinar o que elas podiam vir a fazer. Ele foi determinante no teu percurso?
RF- Claro. Foi a primeira pessoa que eu conheci que se interessava, de facto, por literatura. Até aí a minha relação com os livros era solitária. Um dia ele deu-me aquela lista de livros para ler, que também te havia dado a ti.
VG- Tinha. Ele era um pedagogo compulsivo.
RF- Obsessivo. Foi ele que me desafiou a escrever a minha primeira peça, que depois ele encenou [Quarto Minguante, 2007]. Claro, que ele me ajudou a escrevê-la. Dialogávamos sobre a componente literária, mas também sobre a ética.
VG- Ética?
RF- A noção de que o que eu escrevo vai ter um efeito nos espectadores, nas pessoas que fazem parte do nosso mundo e que quando leem aquilo estabelecem relações consigo próprias. Isso marcou-me profundamente até hoje. A consciência de que, de repente, te tornas uma persona pública. A dúvida sobre até que ponto essa entidade deve corresponder ao teu eu privado. Fico perplexo quando constato que o tema principal de muita literatura que hoje se produz é o próprio autor, que se expõe como personagem. Isso colocar-me-ia questões éticas insanáveis.
VG- Tivemos ambos uma escola, o JB, que sublinhava o primado do texto, o papel fundamental da literatura no teatro. É o que segues?
RF- Sem dúvida. Nem sei fazer de outra forma. Aprecio quem faz um teatro para quem o texto é pretexto. Mas não serei eu.
VG- De repente o Joaquim morre (Dezembro de 2012). Vês-te nesta situação de ter de assumir a direcção deste projecto. Arrepiante, angustiante? Ou nem sequer tiveste tempo para pensar nisso?
RF- Acho que não houve tempo para pensar nisso. Apanhámos um susto, na Companhia. O JB era a Companhia, o seu fundador, a sua imagem e o seu futuro. Tudo dependia dele. Talvez nos últimos dois anos, quando o Carlos Galvão assume a direcção financeira, já não fosse exactamente assim, mas foi um enorme susto. Até porque não sabíamos como iria reagir o poder político. Se iria aceitar que um miúdo de trinta e poucos anos assumisse a direcção artística. Nem se sabia se eu teria essa capacidade.
VG- Pois é isso que te estou a perguntar. Era claro que o JB era a Companhia. Como sucedia, aliás, com todos os directores das estruturas do teatro independente. O que sentiste quando percebeste que irias ser essa cara?
RF- Tive essa consciência. Mas, ao mesmo tempo, sabia que eu seria só a cara.
Que a Companhia não era eu. Que, por detrás de mim, havia uma estrutura sólida. As pessoas que constituíam essa estrutura deram-me e dão-me uma grande tranquilidade. Hoje sou eu. Amanhã pode ser outro. A estrutura cá estará para o apoiar. No fundo, o que distingue o JB desses outros criadores a que te referiste é isso: saber fazer de Almada mais do que um projecto individual. Ele teve sempre a preocupação de formar pessoas que continuassem o projecto. O JB foi, talvez, o único que teve essa generosidade.
VG- Falemos do texto que escreveste sobre a guerra colonial e a partir do qual fizeste o espectáculo, ‘ Um gajo nunca mais é a mesma coisa’. Por que é que o centro da comunicação visual do espectáculo – o cartaz – é um soldado negro?
RF- Porque sempre me irritou muito que as pessoas falem sobre a guerra colonial como um fenómeno de base racial. Não o é. Acho que essas pessoas ignoram que, por exemplo, na Guiné, nos anos 70, cerca de 70 por cento dos combatentes do lado português eram negros. Tentar reduzir esse conflito a um confronto entre brancos e negros é ignorar toda a complexidade desse acontecimento.
VG- Sim, leva o conflito para o campo racial, onde de facto nunca se situou.
RF- Por outro lado, nunca esqueçamos o abandono a que foram votados os combatentes africanos, logo a seguir ao 25 de Abril de 1974…
VG- Abandono e morte.
RF- Alguns foram fuzilados, outros conseguiram escapar e sobreviver, mas enfrentam o opróbrio. Houve a recente polémica sobre o Marcelino da Mata. Ainda não tínhamos começado os ensaios nessa altura. Irritou-me profundamente o reducionismo mental a que se assistiu nesse debate. Ouvir pessoas cujo único objectivo era encaixar a realidade e os combatentes nos seus parâmetros pré- definidos, que aprenderam a pressa e se afadigam a repetir.
VG- Por isso colocas o soldado negro no centro da comunicação.
RF- Exacto. Houve vítimas, houve criminosos. Houve vítimas que foram criminosos e vice-versa. A realidade é sempre muito mais complexa do que os sistemas dicotómicos em que a queremos encaixar, de modo a que caibam no facebook. Parece que hoje tudo se reduz ao gosto/ não gosto.
VG- Dizias noutro dia que é como se a realidade fosse produzida pela Disney.
RF- Sim, uma ‘disneyficação’ do real – uns brancos mauzões, que foram matar uns negros bonzinhos.
VG- Nem no discurso oficial sobre a guerra colonial, em Moçambique, existe uma dicotomia desse teor.
RF- É ignorar tudo. O contexto de guerra fria em que se vivia. Nunca dizem que os movimentos de libertação eram apoiados ou pela URSS, pela China e Cuba ou pelos EUA.
É preciso estudar os factos com alguma profundidade, antes de opinar sobre o assunto e classificar as pessoas envolvidas.
VG- Mas não parece haver um grande desejo de realmente debater o assunto na sociedade portuguesa.
RF- Eu nasci em 1981. Não sabia nada dessa guerra, como ninguém da minha geração sabe. É absurdo, houve quase um milhão de combatentes. Se considerarmos as suas famílias e mesmo que contabilizemos apenas um filho por casal, compreendemos que a guerra terá tocado directamente cerca de três milhões de portugueses…
VG- E, em 1974 existiam em Portugal nove milhões de pessoas. A guerra terá assumido um impacto directo em cerca de um terço da população.
RF- Claro. Algo que tem um peso enorme na nossa sociedade e que foi completamente silenciado. Percebemos que os militares que fizeram a guerra foram – uma parte significativa deles – os mesmos que fizeram o 25 de Abril. E a mesma instituição. Não seriam seguramente eles que iam começar por sublinhar o que tinha corrido mal. Repara, um homem, um militar, que vai para uma das frentes da guerra colonial, em 72 ou 73, parte como um herói e regressa um ano ou dois depois como um assassino fascista. É uma reviravolta dramática.
VG- O texto foi construído a partir de testemunho directos. Muitos dos episódios presentes no espectáculo partem de factos reais.
RF- É verdade. O episódio da revolta de Alcoitão, por exemplo, ilustra de uma forma aguda o que estava a dizer. Os militares internados – alguns deles amputados de braços e pernas – decidem revoltar-se contra os terapeutas, que subitamente passam a chamar fascistas aos homens a quem na véspera tratavam.
VG- O que me agradou no teu texto e no espectáculo foi o facto de o libertares de duas coisas – da ideologia e do politicamente correcto. De um discurso ideológico catalogador e generalista, que ignora em absoluto o indivíduo e as circunstâncias concretas de cada homem, desprezando essas pessoas, tornando-as apenas em ferramentas de um sistema. E daqueles que, independentemente do ponto de vista ideológico que adoptam, ou mesmo não tendo nenhum, se dedicam à obscena tentativa de olhar esse período com o conforto e a sobranceria que a democracia nos proporciona.
RF – Grande parte dos homens que iam para a guerra em África eram semi-analfabetos. Não tinham escolha.
VG- Rodrigo, no entanto tu fazes a peça para um público que – arrisco dizer – partilhará, uma visão ideológica sobre a guerra. Ou, pelo menos muitos dos espectadores o farão. A tua intenção, com o espectáculo, é contrariar essa visão, ou não queres saber disso para nada?
RF- Não quera saber disso. Eventualmente, pretendo mostrar o conflito existente hoje na sociedade portuguesa sobre este assunto. Agora, a minha posição sobre a questão não a digo no espectáculo. Guardo-a para mim. Coloco em cena duas posições opostas e cristalizadas sobre a questão, não a minha. O importante é que o conflito que existe na sociedade portuguesa seja identificado e se reflicta sobre ele, que haja discussão. Cito o Woody Allen:’ Se tivesse uma mensagem não fazia uma peça, escrevia uma carta’. O espectáculo não propõe nenhuma solução, nenhuma síntese, pretende antes abordar o conflito.
VG- E entre os actores? Há o mesmo tipo de posições extremadas que vemos no espectáculo?
RF- Os actores dividiam-se entre os dois pontos de vista opostos que são apresentados. Esse conflito interno também passa para a cena. Não deixa de me espantar que haja espectadores que, quando vão ver um espectáculo, estejam à procura de respostas. Esperam que lhes seja servida uma solução. Que a assumam como sua e transformem esses espectáculos em bandeiras. Penso que isso é por o teatro ao serviço de causas alheias a arte.
VG- Quando entrevistei um conjunto de combatentes da FRELIMO, em Moçambique, que lutaram contra as tropas portuguesas, encontrei um sentimento que perpassava todos os testemunhos: aqueles foram os tempos. Aquilo tinha significado, participei em algo que valeu a pena, que mudou a história. Mas há uma diferença – aqueles homens sentiram-se vitoriosos, ganharam um país.
No entanto, pareceu-me ouvir-te comentar que encontraste entre os combatentes portugueses sentimentos análogos?
RF- Pois foi. Eu participei num almoço comemorativo do cinquentenário da partida de um batalhão para África. Fui anonimamente. A dada altura perguntei a um senhor: ‘preferia ter ido a guerra, ou nunca ter posto lá os pés?’ E a resposta foi que ele tinha preferido ir à guerra. Para muitos destes homens foi a coisa mais importante, seguramente a mais marcante, que lhes aconteceu nas suas vidas. E, depois, há uma coisa: eles eram todos novos, portugueses ou africanos.
VG- Há uma nostalgia da juventude.
RF- Claro. Como poderão olhar de forma diferente para a sua juventude? Viveram momentos horríveis, mas eles eram novos.
VG- O que também encontrei naqueles combatentes moçambicanos – e é assumido abertamente, mesmo pelas altas patentes que ainda hoje tem peso político, por exemplo: pelo General Chipande membro da Comissão Política da FRELIMO – é um pesado respeito pelo inimigo. E mesmo uma solidariedade com os soldados portugueses. Encontraste algo equivalente nas tuas conversas?
RF- Os homens com quem eu falei não tiveram, como esses a que te referes, nenhum papel no estabelecimento da paz. Falam sempre em ‘eles’, sem qualquer personalização. Mas, em outros depoimentos que estudei sim, encontrei também um certo tipo de respeito por esse ‘eles’. Nós não combatemos, Vítor, não podemos perceber o que será.
VG- Não, não podemos.
RF- E comum entre quem critica a posição dos soldados portugueses a pergunta – ‘ mas porque não fugiam eles?’ Não o faziam, arrisco eu, porque o sistema político e social em que estavam inseridos tornava essa opção muito complexa. Imagina duas mães, numa pequena terreola portuguesa. Uma, manda o filho para a guerra e ele morre. A outra dá-lhe dinheiro, ele foge e sobrevive. O que acontece depois entre essas mulheres e na aldeia? Que pressões há? Como vivem essas mulheres uma com a outra o resto da vida? Espanta-me que pessoas que abordam estes temas não experimentem colocar-se do outro lado, na pele de quem teve de tomar este tipo de decisões. Que não tentem perceber o outro ponto de vista e se limitem a caricaturar os ex-combatentes como se vê em tantos espectáculos: ‘Fui lá, comi a preta, bebi umas cervejas e ainda cortei as orelhas a uns turras.’ É ridículo. Houve gente assim? Terá havido. Mas tomar a parte pelo todo nunca será digno de quem faz teatro.
VG- Acabamos. Tens algum desejo?
RF- …Desejo… do ponto de vista pessoal, para o teatro?
VG- Eu só perguntei, tu é que respondes.
RF- Tenho. Mas não quero dizer qual é.