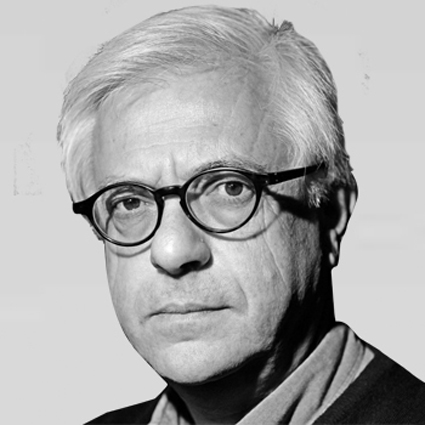Desviámos o olhar por uns segundos e ela tinha desaparecido. Em pleno centro comercial, embora fosse manhã cedo e não estivesse quase ninguém, foi o suficiente para o coração disparar. Com miúdos pequenos, não há volta a dar: enquanto o pânico se instala, imaginam-se todos os cenários. A cena durou poucos segundos: a rapariga tinha simplesmente decidido contornar o carrinho de brincar, daqueles de pôr moedas, e explorar um pouco o espaço à volta – a iniciativa normal de uma criança de dois anos e meio, curiosa com o mundo e consciente do seu poder de decisão e mobilidade. Olhar um pouco mais à direita chegou para a ver, feliz da vida, a tentar perceber a mecânica do carrossel.
Os acidentes podem acontecer em segundos mas, no pós-medo, lembrei-me das palavras do investigador Carlos Neto: vivemos numa sociedade com uma cultura de proteção quase patológica. Sem nos darmos conta, queremos e tentamos controlar tudo desde o primeiro momento, e se algo foge à normalidade ficamos doentes. E começamos a criar defesas: deixamos de permitir que vá, que ande, que fique um bocado no brinquedo. Em vez de nos ajustarmos, limitamos os movimentos, porque é mais seguro, mais confortável, menos imprevisível. Se a tivéssemos presa no carrinho durante toda a ida ao centro comercial não havia stresse.
Lembrei-me de um dos apelos que o professor da Faculdade de Motricidade Humana deixava na entrevista que o i publicou há uma semana. Dizia Carlos Neto que é preciso desconstruir estes medos que se instalam desde que eles são pequenos, que levam os pais a desvalorizar as suas capacidades e que podem culminar em coisas tão estranhas como não os deixar subir a uma árvore. Mesmo não estando ainda diante de uma adolescente que pede para sair à noite ou para ir de férias com os amigos, se calhar é aqui, aos dois anos e pouco, que começamos a educar-nos para negociar, responsabilizar e dar espaço.
Exagero? Ao conversar com um professor sobre esta entrevista a Carlos Neto, contava–me como, para miúdos de 10, 11 anos, hoje, a simples ideia de acampar, de dormir no chão, pode ser um verdadeiro pesadelo. Sujar–se, não ter as comodidades de casa, ter de fazer a própria comida, tudo o que para muitos de nós em miúdos eram experiências normais, hoje, para algumas crianças, são bichos–de-sete-cabeças. Desistem, não querem ir ou então têm de ir buscar força e coragem para ficarem até ao fim. Fui escuteira desde miúda – o tacho com a massa virava-se no chão e nós apanhávamos tudo, passávamos por água e comíamos. Fazíamos fogueiras debaixo de chuva – ou tentávamos. Ficávamos ensopados. Dizíamos adeus aos pais com uma leveza de partir o coração, mas voltávamos desejosos de banho quente e comida de casa. E entre as manias que perdíamos estavam aquelas frases típicas do “não faço”, “não gosto” ou “não quero” – resmunguices proibidas desde lobitos, quando a divisa é, apropriadamente, “da melhor vontade”. Às vezes dou comigo a pensar nas coisas malucas que também fazíamos como pedir boleia para chegar mais depressa ao fim do jogo (teremos tentado algumas vezes mas, na realidade, se calhar apanhámos boleia uma vez – foi o suficiente para a aventura ficar gravada). Eram coisas arriscadas e proibidas como são hoje, mas uma coisa é certa: íamos pisar a linha, e se os meus pais tivessem ficado a magicar em todas as possibilidades nunca teríamos saído de casa. Na altura ligávamos para casa dos acampamentos mais longos de cabinas telefónicas. Hoje, não levar o telemóvel é um drama para muitos miúdos e um drama maior para os pais – tentei contrariá-lo nos meus primeiros tempos de chefe dos mais pequenos, há uma década, mas a tal cultura de proteção tornou-se mais forte. E foram aparecendo horários para usar o telefone, tentativas de conjugar os novos tempos com a velha liberdade, com os novos tempos a ganhar claramente. Em França, a opção foi proibir os aparelhos no recreio e à hora de almoço já no próximo ano letivo, para crianças e adolescentes voltarem a interagir para lá dos ecrãs. Boa sorte. É um bocado uma incógnita saber que jovens e que adultos estamos a criar hoje; se calhar, mais coisa menos coisa, ficará tudo na mesma. Mas se o apelo de Carlos Neto para não aprisionar as crianças ajudar a dar-lhes uma infância mais divertida, já não é mau. Também para a nossa saúde mental, para sermos pais menos à beira de ataques de nervos.
Jornalista
Escreve à sexta-feira