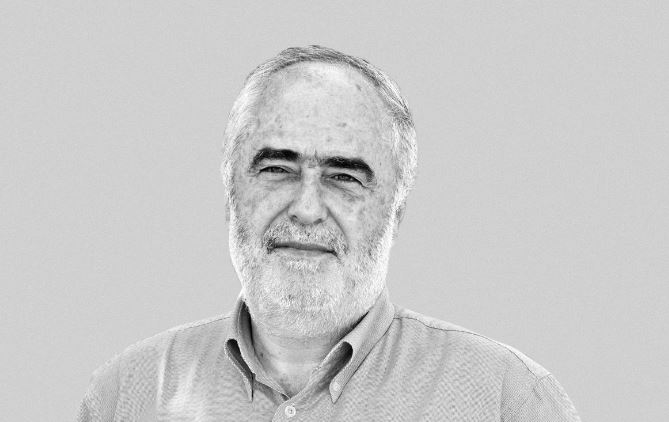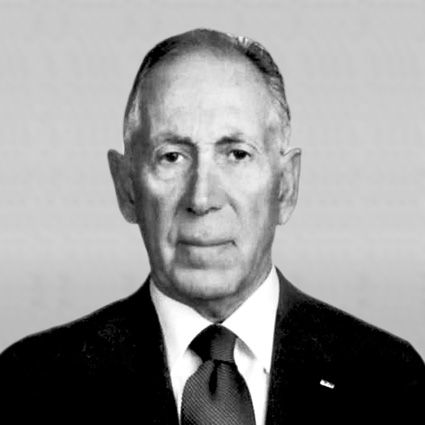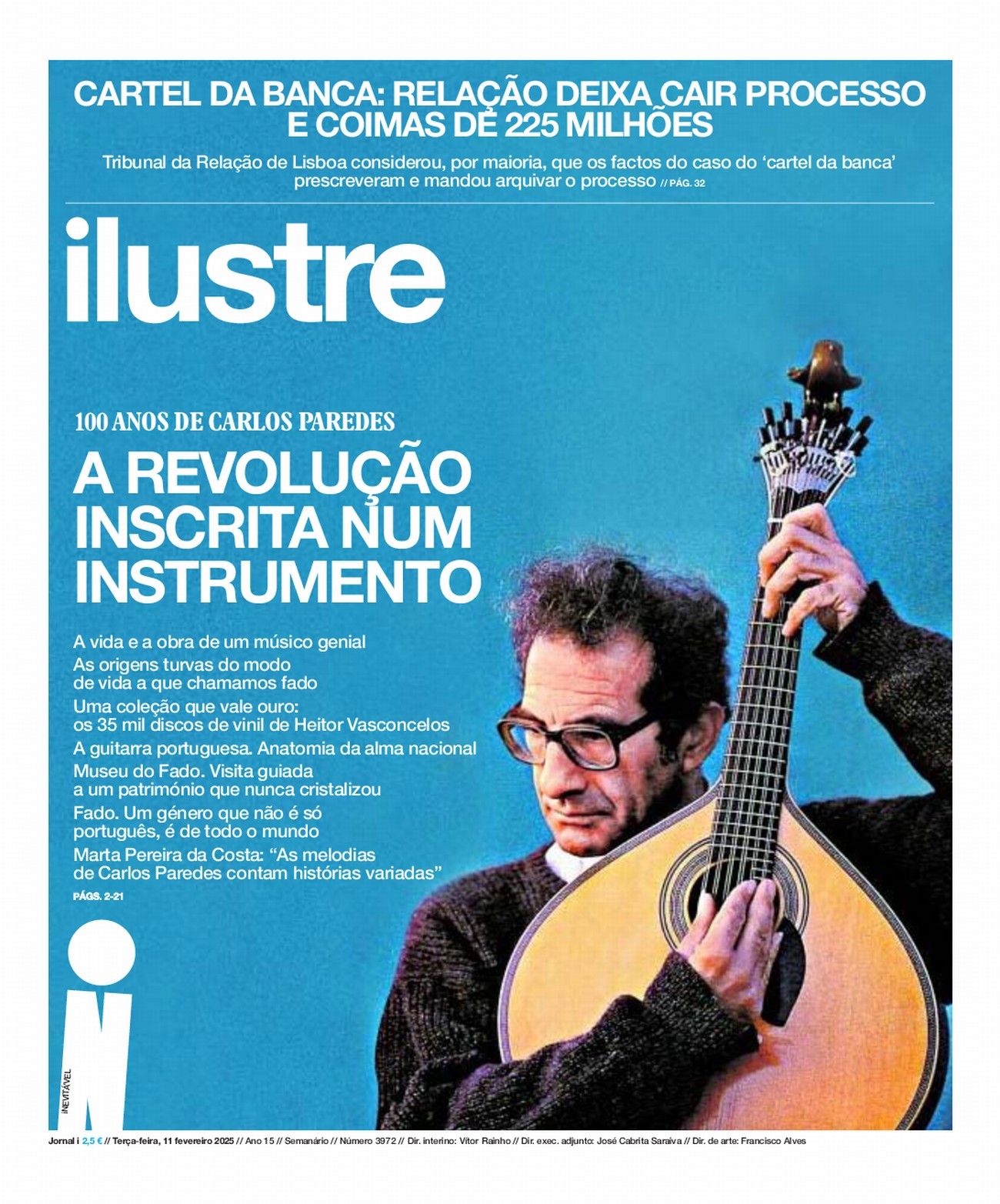O terramoto de 1755, ou de Lisboa, agitou violentamente a capital, grande parte do território nacional e vasta zona envolvente. Agitou também profundamente o pensamento filosófico, despertou inquietações e, por algum tempo, os fenómenos sísmicos, as suas causas e consequências foram uma preocupação da sociedade europeia da época.
Nenhum evento singular na nossa história, nem mesmo as invasões francesas, causou tantas vítimas e tanta destruição. A terra que se moveu sob a cidade, a água que a invadiu no tsunami e o fogo que a consumiu, juntaram-se de uma forma nunca vista. Perderam-se documentos, objetos artísticos e património construído. Perdeu-se uma importante parte da nossa história.
Outros sismos causaram grande destruição no Continente e Açores. Poderão eventos semelhantes ocorrer no futuro? A ciência diz que são fenómenos naturais e que a sua ocorrência é uma certeza. Não permite, com fiabilidade, avaliar quando ocorrerão. Apenas inferir probabilidades de ocorrência.
Que consciência têm os portugueses deste risco a que diariamente estão sujeitos nas habitações, local de trabalho e espaços públicos?
O risco sísmico de um local com atividade humana e infraestruturas de apoio é o resultado da combinação de três fatores:
– A perigosidade, que caracteriza o local em função do potencial para ser atingido por uma ação sísmica ou um tsunami;
– A exposição, que identifica os elementos físicos expostos ao perigo, a população, as infraestruturas e os recursos económicos;
– A vulnerabilidade que caracteriza o potencial dos elementos expostos ao perigo para sofrer danos.
A zona sul do território, incluindo a grande Lisboa, e os Açores são zonas de significativa perigosidade. Nada pode reduzir esse perigo. Fica-nos a obrigação de melhor o conhecer.
Aí há também uma exposição elevada, pelo número de habitantes e infraestruturas existentes. Há tendência para aumentar a exposição, face à expectável concentração humana e crescimento do valor social e económico das infraestruturas expostas. Fica-nos a obrigação de melhor planear a inevitável exposição.
Para reduzir o risco, resta diminuir a vulnerabilidade, garantindo adequada resistência aos edifícios que habitamos (aqueles a reabilitar e os novos a construir), aos equipamentos coletivos (hospitais, escolas, etc.), às infraestruturas das redes de que dependemos (transportes, eletricidade, água, saneamento, gás, combustíveis, telecomunicações e outras) e a todo o restante sistema produtivo (fábricas e edifícios industriais e de serviços). É aqui que a engenharia e a arquitetura têm um papel fundamental, se devidamente regulamentadas e executadas.
Infelizmente, o grau de exigência coletivo quanto à garantia da sua baixa vulnerabilidade fica muitas das vezes “no papel” ou nas “boas intenções”. Enquanto a qualidade do que comemos é inspecionada, um brinquedo necessita de certificação, regras várias de segurança são estritamente aplicadas e existem certificações exigidas aos edifícios (térmica, acústica, etc.), a garantia da segurança sísmica e estrutural dos edifícios depende só da declaração do projetista não sendo normalmente objeto de verificação e validação.
Urge fomentar a consciência coletiva para o elevado risco que corremos, criar mecanismos de validação dos atos de engenharia (avaliação oficial da qualidade dos projetos e construção de novos edifícios, ainda que por amostragem) e regulamentar a reabilitação de edifícios antigos, reduzindo o risco para níveis aceitáveis.
Urge ultrapassar a atual situação legislativa de exceção, que prescreve que “intervenções em edifícios existentes não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do edifício”.
Por um lado, é sabido que, sem fiscalização efetiva, muitas vezes nem isso é assegurado. Por outro, permite-se que se “reabilite” um edifício, numa zona de perigosidade, aumentando automaticamente a exposição e mantendo (não diminuindo!) um índice de vulnerabilidade inaceitável. Não se compreendeu que se permite, legalmente, o aumento do risco.
Semelhante, seria permitir, legalmente, a circulação de um automóvel sem pastilhas de travões, desde que, a bem da sustentabilidade da indústria de reparação automóvel, o pintássemos de novo, sem reduzir a sua (in)capacidade de travagem.
Os sismos são inevitáveis, as catástrofes são evitáveis.
João Azevedo